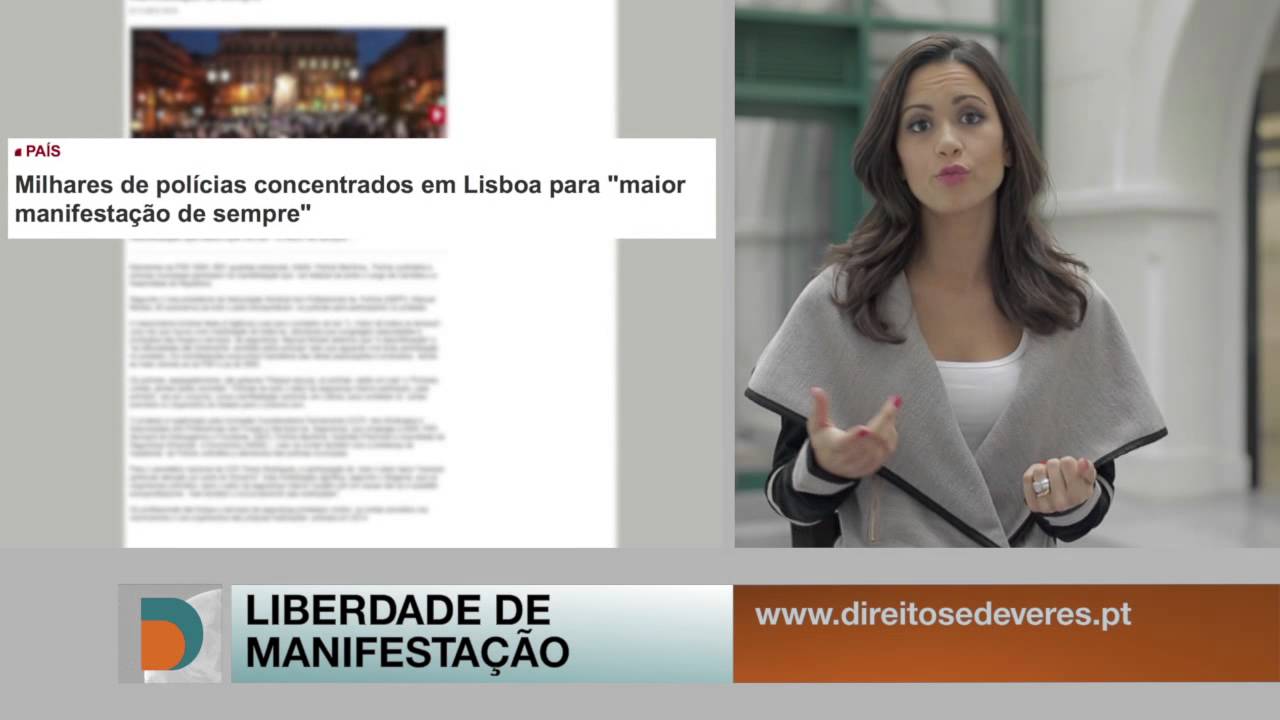Direitos e Deveres
Depende das circunstâncias concretas de cada situação. Nos casos mais problemáticos, pode mesmo haver lugar à tutela judicial de menores.
As crianças e os jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos frequentam o regime de escolaridade obrigatória, devendo os encarregados de educação matriculá-los em escolas da rede pública, da rede particular e cooperativa ou em instituições de educação e formação reconhecidas pelas entidades competentes. Se os pais não cumprirem ou não puderem cumprir essa obrigação fundamental, cabe ao Estado actuar.
Uma situação em que os filhos menores deixem de frequentar a escola deve ser referenciada pelos órgãos de gestão e administração do respectivo estabelecimento de ensino, que farão uma análise que permita o apuramento real do tipo de perigo em concreto — isto é, se se trata de mera carência económica pontual ou se existe um risco continuado de abandono do menor em causa (por ex., quando os pais não querem que o menor vá à escola ou descurem continuadamente esse dever).
Quando exista um estado de carência, o Estado, através das suas estruturas e redes de apoio social (incluindo a acção social escolar), deve intervir no seio da família e apoiá-la.
Numa situação de abandono ou negligência continuada dos pais do menor, intervêm as autoridades judiciais — Ministério Público e tribunais de família e menores — por via de um processo tutelar no qual pode vir a ocorrer a institucionalização do menor em causa ou a entrega a uma família de acolhimento, se não for possível outra medida tutelar, como a entrega a outro familiar idóneo (por exemplo, os avós). Note-se que os filhos só podem ser separados dos pais em resultado de uma decisão judicial.
Em síntese, pode afirmar-se que, embora as autoridades públicas tenham o dever de tomar o lugar dos pais na educação dos seus filhos, tal só deve ocorrer em última instância. Antes disso, tentar-se-á criar condições para que a educação do menor aconteça no seio da família.
CONST
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigos 9.º, b), d) e h); 36.º; 43.º; 67.º, n.º 2, c); 70.º; 73.º; 74.º, n.º 1
Código Civil, artigos 1878.º; 1913.º; 1915.º; 1918.º; 1921.º; 1923.º–1927.º
Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, , alterada pela Lei n.º 85/2009, de 27 de Agosto
Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro, alterada pela Lei n.º 23/2023, de 25 de maio
Lei n.º 85/2009, de 27 de Agosto, artigos 1.º–3.º
Decreto-Lei n.º 12/2008, de 17 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 139/2019, de 16 de Setembro
Decreto-Lei n.º 176/2012, de 2 de Agosto, artigos 3.º e 12.º
Decreto-Lei n.º 139/2019, de 16 de Setembro, alterado pela Lei n.º 13/2013, de 3 de abril
Lei n.º 141/2015, de 8 de Setembro, alterada pela Lei n.º 24/2017, de 24 de Maio
Dada a excepcional importância dos livros para a formação das pessoas, o processo de fixação do seu preço não está sujeito à lógica da oferta e da procura. Aplicam-se regras específicas que permitem, por um lado, estimular preços mais baixos e, por outro, assegurar o equilíbrio entre os agentes que operam no mercado livreiro.
Acolhendo uma recomendação do Parlamento Europeu, Portugal adoptou o chamado “sistema do preço fixo do livro”. As pessoas ou entidades que editem, reeditem, reimprimam, importem ou reimportem livros com destino ao mercado são obrigadas a fixar um preço fixo de venda ao público. Por outro lado, o preço efectivamente praticado pelos retalhistas deve situar-se entre 90 % e 100 % daquele (ou seja, só pode ser sujeito a um desconto máximo de 10 %), salvo tratando-se de livros editados pela primeira vez ou importados há mais de 18 meses, casos em que o desconto pode ser superior.
A lei estabelece alguns desvios a estas regras. Nos livros adquiridos por bibliotecas públicas e escolares e instituições de utilidade pública, bem como em acções de promoção do livro e do autor portugueses no âmbito da cooperação externa do Estado, pode haver um desconto até 20 % sobre o preço fixado pelo editor ou importador. Além disso, não há obrigação de venda a preço fixo para os seguintes livros: manuais escolares e livros auxiliares dos ensinos básico e secundário; livros usados e de bibliófilo; livros esgotados; livros descatalogados; e subscrições em fase de pré-publicação.
No que respeita aos manuais escolares, a lei estabelece que a fixação dos preços atende aos interesses das famílias e dos editores e assenta nos princípios da liberdade de edição e da equidade social. Os preços máximos são fixados por portaria conjunta do Ministro da Economia e Inovação e do Ministro da Educação.
CRIM
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigo 73.º; Decreto-Lei n.º 216/2000, de 2 de Setembro, artigos 2.º, 4.º e 12.º a 15.º
Lei n.º 47/2006, de 28 de Agosto, alterada pelo Decreto-Lei n.º 9/2021, de 29 de janeiro, artigos 23.º e 24.º
A prisão preventiva e a pena de prisão têm natureza distinta e visam finalidades diferentes.
A primeira é uma medida de coacção aplicada a um presumível inocente com fins cautelares (como o de evitar a destruição de provas ou a fuga do arguido).
A segunda é uma sanção criminal aplicada a um condenado e a sua execução tem em vista a futura reinserção daquele na sociedade.
Tanto uma quanto a outra implicam a reclusão em estabelecimentos prisionais, pelo que os direitos e deveres do preso preventivo e do condenado são bastante semelhantes, ainda que possa haver diferenças em alguns aspectos da sua execução, por exemplo, em relação à concessão de licenças de saída.
Em acrescento, o tempo que o arguido passou em prisão preventiva é descontado por inteiro no cumprimento da pena de prisão, ainda que tenham sido aplicadas em processo diferente daquele em que vier a ser condenado, quando o facto por que for condenado tenha sido praticado anteriormente à decisão final do processo no âmbito do qual as medidas foram aplicadas. Em ambos os casos, a reclusão deve respeitar a dignidade do recluso, a sua personalidade e os direitos cujo exercício não seja incompatível com a reclusão. Esta ideia, que decorre naturalmente da presunção de inocência quando se trata de executar a prisão preventiva, ganha importância reforçada na execução da pena de prisão, que não implica a perda automática de direitos individuais, nomeadamente civis e políticos, como o direito de voto.
O recluso tem, entre outros, os seguintes direitos específicos:
- receber alimentação, se necessário em conformidade com dietas específicas prescritas pelo médico;
- ser tratado pelo nome;
- reserva da situação de reclusão perante terceiros;
- liberdade de religião e de culto;
- receber um conjunto de produtos básicos para a sua higiene;
- manter, mediante certas condições, contactos com o exterior através de visitas (incluindo visitas íntimas), comunicação à distância ou correspondência;
- ser apoiado na resolução de questões pessoais, familiares e profissionais urgentes;
- participar em actividades laborais, de educação e ensino, de formação, religiosas, socioculturais, cívicas e desportivas e em programas orientados para o tratamento de problemáticas específicas (havendo lugar a remuneração, é a mesma afecta a fundos constituídos na conta do recluso);
- fazer greve de fome e ser acompanhado, durante essa greve, pelos serviços clínicos.
Tanto na execução da pena de prisão quanto na da prisão preventiva, o recluso tem a obrigação de permanecer ininterruptamente no estabelecimento prisional até ao momento da libertação, salvaguardados os casos de autorização de saída. Tem igualmente um conjunto de deveres relacionados com a ordem, a segurança e a saúde do ambiente prisional: cumprir as normas do estabelecimento prisional e as ordens legítimas que receber dos funcionários prisionais; manter uma conduta correcta com eles e com outras pessoas que lá trabalhem, com autoridades judiciárias e entidades policiais, com visitantes e com os demais reclusos, em relação aos quais não pode ocupar uma posição que lhe permita exercer qualquer tipo de poder ou coação.
O recluso deve ainda sujeitar-se a testes para detecção de consumo de álcool e de substâncias estupefacientes, bem como a rastreios de doenças contagiosas, sempre que razões de saúde pública ou as finalidades da execução da pena ou da medida de coacção o justifiquem.
CRIM
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Código Penal, artigo 40.º; 80.º
Código de Processo Penal, artigo 204.º
Lei n.º 115/2009, de 12 de Outubro (Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade), alterada pela Lei n.º 35/2023, de 21 de julho, artigos 1.º e 2.º; 7.º e 8.º
Decreto-Lei n.º 51/2011, de 11 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/2022, de 8 de setembro, artigos 8.º e seguintes
Sim, poderá cometer um crime se não lhe prestar auxílio.
Todo aquele que, perante uma situação de grave necessidade e capaz de pôr em perigo a vida ou integridade física de outra pessoa, não lhe prestar o auxilio necessário para afastar esse perigo, pratica um crime por omissão. Um atropelamento poderá configurar um risco deste tipo.
Assim, qualquer pessoa que testemunhe um atropelamento deve sempre promover o socorro, contactando os serviços de emergência, salvo se tiver ela própria os meios e conhecimentos para socorrer a vítima. Se não prestar tal auxílio, pode responder criminalmente, sem prejuízo da responsabilidade criminal do próprio condutor que a atropelou.
A responsabilidade da pessoa dependerá naturalmente das circunstâncias do caso concreto, nomeadamente da gravidade do acidente.
Por exemplo, poderá ser relevante o facto de aquela ser a única pessoa que podia prestar, naquele momento, o auxílio necessário.
O dever de prestação de auxílio estará dispensado quando isso coloque em risco a vida ou integridade física da pessoa que testemunha o acidente.
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Código Penal, artigos 10.º, 143.º, 131.º e 200.º
A lei portuguesa prevê que, além dos cidadãos portugueses, têm direito a protecção jurídica em Portugal — logo, ao apoio judiciário — os cidadãos da União Europeia (UE), bem como os estrangeiros e os apátridas (os que não têm nacionalidade) com visto de residência válido num Estado-membro que demonstrem estar em situação de insuficiência económica.
No que respeita aos estrangeiros sem visto de residência válido num Estado-membro da UE, a lei só lhes reconhece o direito a protecção jurídica se esse direito for atribuído aos cidadãos portugueses pelas leis dos respectivos Estados. Nesse caso, beneficiam exactamente dos mesmos direitos dos Portugueses no acesso ao apoio judiciário.
Tratando-se de litígio transfronteiriço na UE (aquele em que o requerente tem morada num Estado-membro diferente), o cidadão pode obter apoio judiciário para uma acção nos tribunais portugueses e ver ainda garantidos os encargos específicos decorrentes do carácter transfronteiriço do litígio: os serviços prestados por um intérprete, a tradução de documentos e as despesas de deslocação que deviam ser suportadas pelo requerente.
TRAB
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Lei n.º 34/2004, de 29 de Julho, alterada pela Lei n.º 2/2020, de 31 de março, artigos 6.º, n.º 4; 7.º; 16.º, n.º 7
Decreto-Lei n.º 71/2005, de 17 de Março, artigos 2.º e 3.º
Paginação
Serviço público é o conjunto de actividades e tarefas destinadas a satisfazer necessidades da população. Esses serviços são normalmente prestados por entidades de natureza pública, mas também podem ser assegurados por entidades de natureza privada ou mista, sob fiscalização do Estado.
A Constituição obriga o Estado a assegurar diferentes serviços públicos, desde aqueles que se referem a áreas de soberania do Estado (defesa, segurança e justiça) à prestação de cuidados de saúde, segurança social, disponibilização de escolas, e o próprio serviço de rádio e televisão. A qualidade de vida das pessoas, em especial das mais desfavorecidas, exige ainda que se garanta a prestação universal de certos serviços básicos, como energia, transportes e telecomunicações, seja a cargo dos próprios poderes públicos, seja por empresas privadas que se obrigam a fornecê-los. Os serviços públicos constituem um elemento essencial do Estado social e do modelo social europeu.
Para efeitos de protecção dos mesmos utentes e dos consumidores em geral, a lei define como serviços públicos essenciais os fornecimentos de água, de energia eléctrica, de gás natural e de gases de petróleo liquefeitos canalizados; as comunicações electrónicas; os serviços postais; a recolha e tratamento de águas residuais e a gestão de resíduos sólidos urbanos; e o transporte de passageiros.
CONST
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, artigos 14.º e 106.º
Constituição da República Portuguesa, artigos 38.º; 40.º; 57.º; 60.º; 64.º; 74.º; 81.º; 86.º; 165.º
Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, alterada pela Lei n.º 51/2019, de 29 de Julho
Lei n.º 12/2008, de 26 de Fevereiro
Lei n.º 6/2011, de 10 de Março
No caso dos militares e agentes militarizados dos quadros permanentes em serviço efectivo, bem como dos agentes dos serviços e das forças de segurança, existem restrições ao exercício dos direitos de expressão, reunião, manifestação, associação e petição colectiva e capacidade eleitoral passiva (ou seja, a capacidade de serem candidatos a uma eleição).
Os membros das Forças Armadas e, por analogia, os elementos da Guarda Nacional Republicana em efectividade de serviço só podem participar em manifestações — legalmente convocadas e sem natureza político-partidária ou sindical — desde que se encontrem desarmados, trajem civilmente, não ostentem nenhum símbolo nacional ou das Forças Armadas e a sua participação não ponha em risco a coesão e a disciplina militares.
CONST
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigo 270.º
Lei n.º 11/89, de 1 de Junho
Lei n.º 31-A/2009, de 7 de Julho, artigo 30.º
Decreto-Lei n.º 297/2009, de 14 de Outubro, artigo 5.º, n.º 1
As autoridades devem tomar as necessárias providências para que as reuniões, os comícios, as manifestações ou os desfiles em lugares públicos decorram sem interferência de contra-manifestações susceptíveis de perturbar o livre exercício dos direitos dos participantes. Para tal, podem ordenar a comparência de representantes ou agentes seus no local.
Se tal for indispensável ao bom ordenamento do trânsito de pessoas e de veículos nas vias públicas, podem alterar os trajectos programados ou determinar que os desfiles ou cortejos se façam só por uma das metades das faixas de rodagem. A ordem de alterações é comunicada por escrito aos promotores das manifestações.
As autoridades devem reservar lugares públicos devidamente identificados e delimitados para a realização de manifestações e comícios. Nenhum agente de autoridade pode estar presente nas reuniões realizadas em recinto fechado, a não ser mediante solicitação dos respectivos promotores.
Por razões de segurança, e solicitando quando necessário ou conveniente o parecer das autoridades militares ou outras entidades, as autoridades podem impedir a realização de reuniões, comícios, manifestações ou desfiles em lugares públicos situados a menos de 100 m das sedes dos órgãos de soberania, das instalações e acampamentos militares ou de forças militarizadas, dos estabelecimentos prisionais, das sedes de representações diplomáticas ou consulares e das sedes de partidos políticos.
Toda a acção policial e administrativa nesta matéria tem de observar o princípio da legalidade da proporcionalidade das medidas de polícia.
CONST
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigo 272.º, n.º 2
Decreto-Lei n.º 406/74, de 29 de Agosto, artigos 6.º, n.os 1 e 2; 7.º; 10.º, n.º 1; 13.º
Não, não se pode impedir uma reunião ou manifestação só pelo facto de não ter sido previamente comunicada às autoridades.
A comunicação prévia tem como finalidade permitir às autoridades fazerem o que delas dependa para que a reunião (ou manifestação) decorra sem problemas, garantindo a segurança dos participantes, regulando o trânsito ou prevenindo (circunscrevendo) contra-manifestações. O cumprimento dessa exigência pode favorecer o exercício do direito de manifestação e reunião — contribuindo para planear aspectos de segurança —, mas a sua omissão, em si mesma, não implica perturbação da ordem pública.
Entende-se que não é legítima a interdição ou a dispersão de uma reunião ou manifestação não previamente comunicada (por exemplo, manifestação espontânea ou flash mob) que esteja a decorrer pacificamente, uma vez que violaria o princípio da necessidade e da proporcionalidade a que estão sujeitas as medidas de polícia.
Ainda assim, os promotores das reuniões e manifestações que não realizem a comunicação prévia podem estar sujeitos a responsabilidade criminal e contra-ordenacional.
PUBCONST
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigos 45.º, n.os 1 e 2; 272.º, n.º 2
Decreto-Lei n.º 406/74, de 29 de Agosto, artigos 2.º e 3.º
As medidas de polícia são apenas as previstas na Constituição e na lei. Não devem ser utilizadas além do estritamente necessário e devem obedecer sempre a exigências de adequação e proporcionalidade. Por norma, a polícia não deve fazer uso da força e jamais pode usar força excessiva. Reprimir dessa forma o direito de manifestação seria inadmissível.
Os cidadãos devem utilizar os meios de reacção administrativa e judicial a que houver lugar, tendo em consideração que os funcionários e agentes do Estado e das demais entidades públicas são responsáveis civil, criminal e disciplinarmente por acções ou omissões praticadas no exercício das suas funções, quando desse exercício resulte violação dos direitos ou interesses legalmente protegidos dos cidadãos. No limite, os cidadãos podem ainda reagir mediante o exercício proporcional do direito de resistência, bem como do recurso posterior aos meios de reacção administrativa e judicial (impugnação dos actos administrativos e responsabilização criminal e civil).
CONST
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigos 21.º; 271.º, n.os 1 e 2; 272.º, n.º 2
Lei n.º 53/2008, de 29 de Agosto, alterada pelo Decreto-Lei n.º 99-A/2023, de 27 de outubro, artigo 2.º, n.os 1 e 2