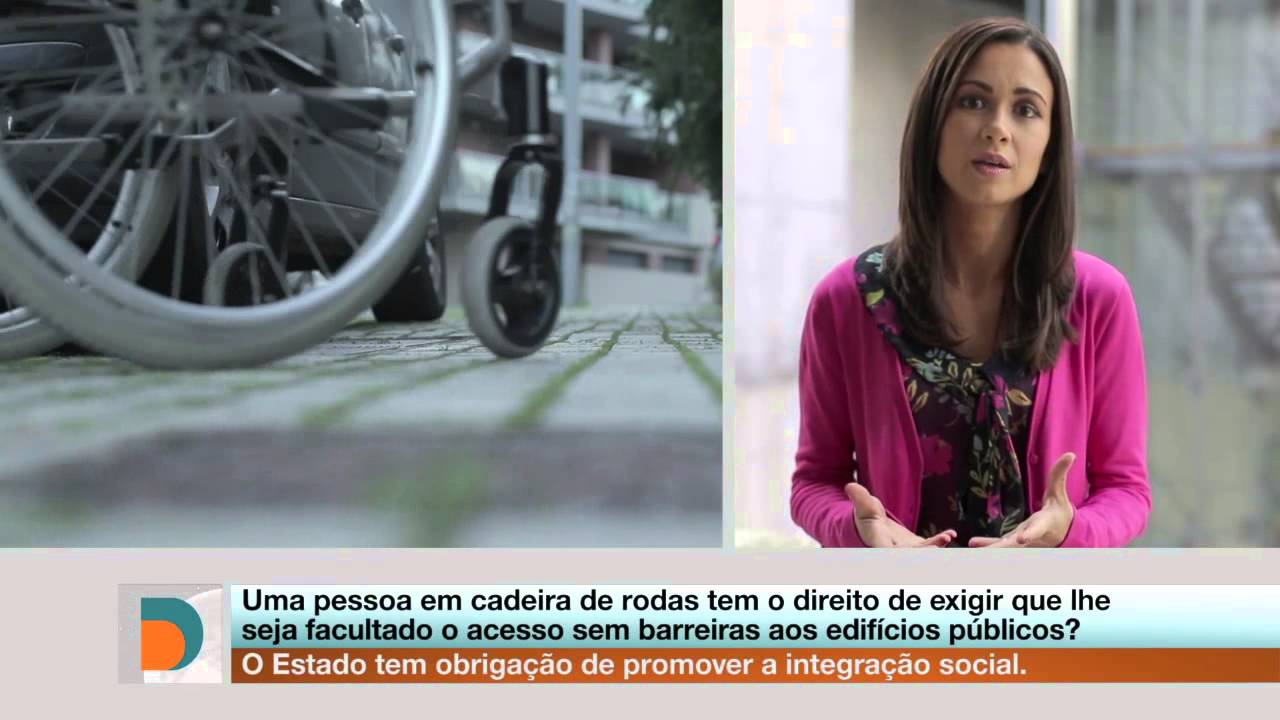Direitos e Deveres
Não.
A greve deve ser precedida de um aviso prévio, dirigido ao empregador ou associação de empregadores e ao ministério responsável pela área laboral, com a antecedência mínima de cinco dias úteis, ou dez dias no caso de se tratar de empresa ou estabelecimento que satisfaça necessidades sociais impreteríveis (serviços médicos, transportes, abastecimento de águas, etc.).
Quando o aviso estabelecer um prazo de duração da greve, esta torna-se ilícita se for prolongada sem novo pré-aviso. Os trabalhadores grevistas incorrerão no regime de faltas injustificadas, por já não se verificar a suspensão do dever de assiduidade decorrente da declaração de greve. Além da perda de remuneração e da antiguidade, ficam sujeitos a medidas disciplinares que podem levar, em certos casos, a despedimento com justa causa.
Para o evitar, o prolongamento da greve deve ser precedido de novo pré-aviso enviado com a antecedência legal.
TRAB
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigo 57.º, n.os 1 e 3
Código do Trabalho, artigos 534.º e 536.º
Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 23 de Novembro de 2011 (processo n.º 1640/09.8TTLSB.L1-4)
As questões de trabalho são decididas em tribunais especializados, os juízos de trabalho. Contudo, pelo território nacional, há muitos juízos do trabalho, e uma acção deve ser instaurada naquele que for «territorialmente» competente. O trabalhador pode escolher o juízo da residência (ou da sede) do empregador ou o do seu local de trabalho ou o do seu domicílio.
Isto tem que ver com a natureza particular da relação de trabalho. Consciente de que normalmente o trabalhador se encontra em desvantagem face à empresa, podendo ter dificuldades maiores em deslocar-se e em fazer deslocar eventuais testemunhas, a lei compensa-o dando-lhe essa faculdade de escolha.
Sob pena de a possibilidade de escolha ficar inutilizada logo ao celebrar-se o contrato, é nulo o acordo que atribui competência a um juízo diferente. Mesmo tendo subscrito a cláusula que atribuía a competência a outro juízo do trabalho, o trabalhador continua a poder escolher entre o do local do serviço e o do seu domicílio.
TRAB
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Código de Processo Civil, artigos 85.º, n.º 1, e 100.º, n.º 1
Código de Processo do Trabalho, artigos 13.º; 14.º; 19.º
Certos direitos e deveres económicos gozam de especial dignidade e protecção, tanto pela ordem jurídica europeia como pela Constituição portuguesa.
O Estado deve promover políticas de pleno emprego e igualdade de oportunidades, e há um importante conjunto de direitos fundamentais dos trabalhadores relativos à retribuição e às formas de prestação do trabalho, assistência no desemprego e fixação de um salário mínimo nacional.
São também direitos fundamentais de natureza económica os direitos dos consumidores e das associações que visam protegê-los. Numa outra vertente, deve referir-se a liberdade de iniciativa privada, cooperativa e autogestionária, bem como o próprio direito de propriedade privada.
No direito da União Europeia, gozam de especial relevância as liberdades económicas fundamentais — nomeadamente as de circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capitais, indispensáveis ao desenvolvimento do mercado interno.
CIV
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, artigos 15.º–17.º; 27.º–33.º; 38.º; 45.º
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, artigos 28.º; 45.º; 49.º; 56.º
Constituição da República Portuguesa, artigos 58.º–62.º
Sim.
O Estado tem obrigação de proporcionar condições para o convívio familiar e comunitário aos idosos, de modo a evitar o seu isolamento e marginalização. Esses direitos estão consagrados constitucionalmente e ganham concretização com o direito ao apropriado convívio familiar e comunitário. Com o encerramento do centro, ficariam postos em causa.
Os idosos que frequentavam o centro podem intentar, no tribunal administrativo da área, uma acção para intimar o Estado a abster-se de proceder ao encerramento, antecedida de uma providência cautelar que visa evitar o seu encerramento imediato.
CONST
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigo 72.º
Código de Processo nos Tribunais Administrativos, artigos 37.º e seguintes e 112.º e seguintes
Não, salvo em casos excepcionais.
Os condutores estão obrigados a obedecer às ordens legítimas das autoridades fiscalizadoras do trânsito e dos seus agentes que se encontrem devidamente identificados. Neste contexto, os agentes devem verificar se o condutor transporta toda a documentação exigida para circular na via pública, se este se encontra sob influência de álcool ou de substâncias psicotrópicas e se o veículo respeita as regras de segurança.
Contudo, a menos que o cidadão o permita voluntariamente, em regra, só com mandato judicial é que a polícia poderá revistar o veículo e exigir ao condutor que lhe mostre o porta-bagagens. De facto, a revista do carro corresponde a uma invasão da propriedade e vida privada do cidadão. E estes direitos só podem ser limitados caso tal se justifique em função de outros interesses que, no caso concreto, devam prevalecer - como, por exemplo, a segurança pública ou justiça. Por essa razão, em princípio, as autoridades não podem revistar um veículo sem autorização judicial prévia, pois só assim se garante que existe uma ponderação dos interesses em causa e que os direitos do cidadão não são restringidos sem um motivo ponderoso.
Excepcionalmente, caso haja indícios fundados de preparação de actividade criminosa ou de perturbação séria ou violenta da ordem pública, a polícia poderá revistar o veículo sem autorização judicial, para verificar a presença de armas, substâncias ou engenhos explosivos ou pirotécnicos, objectos proibidos ou susceptíveis de possibilitar actos de violência, provas do crime, e pessoas procuradas ou em situação irregular no território nacional ou privadas da sua liberdade. E, caso sejam encontradas armas, munições, explosivos ou substâncias e objectos proibidos, estes podem ser apreendidos. Nestas situações, a realização da busca deve, em todo o caso, ser comunicada ao tribunal competente no mais curto prazo possível.
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigos 26.º, n.º 1, e 34.º
Código da Estrada, artigos 4.º, 152.º e 153.º
Código do Processo Penal, artigos 174.º e 251.º
Lei n.º 53/2008, de 29 de Agosto, alterada pelo Decreto-Lei n.º 99-A/2023, de 27 de outubro, artigos 29.º, 30.º, 32.º e 33.º
Paginação
O Estado tem obrigação de apoiar os cidadãos na doença, invalidez, viuvez e orfandade, bem como no desemprego e em todas as outras situações de falta de meios de subsistência ou incapacidade de trabalho.
Em matéria de protecção dos idosos, a acção social é bastante ampla. Existem os lares, as residências, o sistema de acolhimento familiar de idosos, o acolhimento temporário de emergência para idosos, os centros de noite, os serviços de apoio domiciliário e os centros de dia, entre outras instituições.
Encontrando-se o idoso a viver em sua casa e não tendo capacidade para cuidar de si mesmo, deve activar-se o apoio domiciliário, que o visita e o substitui ou auxilia em determinadas tarefas. Destinado não apenas ao idoso mas também à sua família, este serviço pode ser a única forma de suprir necessidades em matéria de transporte, higiene pessoal, alimentação, tratamento de roupa, limpeza no domicílio, etc.
CONST
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigo 63.º
Lei n.º 4/2007, de 16 de Janeiro, alterada pela Lei nº 83-A/2013, de 30 de Dezembro
Decreto-Lei n.º 141/89, de 28 de Abril
Despacho Conjunto n.º 407/98, de 18 de Junho
O casamento em princípio não é possível, pois o grau de incapacidade impede o cidadão de realizar um acto jurídico com repercussões tão grandes na sua vida pessoal e patrimonial como é o casamento.
Os cidadãos portadores de deficiência física ou mental têm os mesmos direitos e deveres do que os outros, exceptuando aqueles para os quais se encontrem incapacitados. As restrições devem limitar-se ao necessário para salvaguardar a posição em que o cidadão se encontra. Serão tanto mais intensas e amplas quanto maior for a deficiência, podendo, no limite — por exemplo, em casos de grave anomalia psíquica — atingir uma parcela substancial dos direitos fundamentais, incluindo a incapacidade de exercício de direitos civis (interdição e inabilitação).
O Estado tem a obrigação de realizar uma política nacional de integração dos cidadãos portadores de deficiência e de apoio às suas famílias, bem como de desenvolver uma pedagogia que sensibilize a sociedade quanto aos deveres de respeito e solidariedade para com os mesmos.
CONST
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Declaração dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência
Constituição da República Portuguesa, artigos 18.º e 71.º
Código Civil, artigos 138.º–156.º
Lei n.º 46/2006, de 28 de Agosto, artigo 1.º, n.º 1
Em princípio serão os seus representantes legais, tutores ou parentes mais próximos.
Tratando-se de uma pessoa com deficiência mental que lhe retire condições para prestar consentimento válido, os seus direitos, incluindo o de recusar assistência médica, são exercidos por quem o representa. Embora ainda não exista em Portugal regulamentação específica, aplicam-se normas internacionais nesta matéria.
A regra geral é que ninguém, sofra ou não de perturbação mental, pode ser submetido a intervenção médica sem consentimento, salvo quando a ausência de tratamento puser seriamente em risco a sua saúde. Numa situação de urgência, se não se puder obter o consentimento apropriado, poder-se-á proceder a uma intervenção que seja absolutamente indispensável.
Fora destes casos, sempre que uma pessoa, em virtude de deficiência mental, careça de capacidade para julgar por si, a intervenção deve ser autorizada pelo seu representante ou, na ausência deste, por uma autoridade ou de uma pessoa ou instância reconhecidas pela lei como competentes para tal, as quais devem receber informação adequada quanto ao objectivo e à natureza da intervenção, bem como às suas consequências e riscos. Pode retirar-se a autorização a qualquer momento, no interesse do doente.
Mesmo quem prestar o seu consentimento deve, na medida do possível, ser chamado a participar no processo de autorização. Este requisito aplica-se também nos casos em que a pessoa com deficiência mental for menor. Também deve considerar-se a vontade anteriormente manifestada em relação a uma intervenção médica por um paciente que depois fique sem condições de se expressar validamente.
CONST
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Convenção para a Protecção dos Direitos Humanos e da Dignidade do Ser Humano face às Aplicações da Biologia e da Medicina, artigos 5.º–9.º
Constituição da República Portuguesa, artigo 71.º
Lei n.º 95/2019, de 4 de Setembro, Base 2, n.ºs 1, f), e 2
Pode.
O internamento compulsivo tem lugar quando for o único modo de garantir a submissão da pessoa a tratamento e termina logo que cessarem os motivos que lhe deram origem. Por outro lado, só se pode aplicar se for proporcional ao grau de perigo em causa. Sempre que possível, é substituído por tratamento em regime ambulatório.
Quando um portador de anomalia psíquica grave crie um perigo relevante, para a sua pessoa ou património ou para outros e recuse submeter-se ao necessário tratamento médico — mesmo que não haja recusa explícita —, a lei prevê que possa ser internado compulsivamente. O internamento é requerido ao tribunal pelo representante legal do menor, o acompanhante de maior quando o próprio não possa, pela sentença, exercer direitos pessoais, qualquer pessoa com legitimidade para requerer a instauração do acompanhamento, pelas autoridades de saúde, pelo Ministério Público ou pelos directores clínicos dos estabelecimentos de saúde nos quais, durante um internamento voluntário de um doente mental, se verifiquem as condições para requerer internamento compulsivo.
Por sua vez, os médicos que no exercício das suas funções constatem uma anomalia psíquica que justifique o internamento compulsivo podem comunicá-la à autoridade de saúde da sua área.
Entrado o processo em tribunal, o cidadão é informado dos direitos e deveres que tem no processo, e é-lhe nomeado um defensor, que pode ser substituído por advogado nomeado pelo próprio. O defensor e o familiar mais próximo do cidadão são também notificados para dizer o que tiverem por conveniente.
Importa notar que a lei prevê um processo diferente do que se acaba de descrever quando ocorre uma situação de «internamento de urgência» em situações de «perigo iminente», nomeadamente por deterioração aguda do estado de saúde do doente.
CONST
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigo 27.º, n.os 1–2, 3, h), 4 e 5
Lei n.º 35/2023, de 21 de julho; artigos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 15.º, 20.º, 27.º.
Decreto-Lei n.º 113/2021, de 14 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 41/2023, de 2 de junho
Sim.
Compete ao Estado proteger os direitos das pessoas com necessidades especiais, incluindo as que se movimentam em cadeiras de rodas (ou com mobilidade condicionada). A eliminação de barreiras urbanísticas e arquitectónicas nos edifícios públicos, equipamentos colectivos e via pública é essencial para permitir uma acessibilidade adequada aos serviços do Estado e não só.
Idêntica obrigação têm outras entidades públicas e as próprias entidades privadas, em determinadas circunstâncias. Também estas são obrigadas por lei a eliminar as barreiras de acesso, incorrendo em responsabilidade civil, contra-ordenacional ou disciplinar se não cumprirem as normas técnicas em vigor.
Adicionalmente, as entidades públicas estão obrigadas a assegurar a existência de lugares de estacionamento reservados para pessoas com deficiência.
CONST
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigos 9.º, d); 13.º; 71.º
Lei n.º 38/2004, de 18 de Agosto, artigo 3.º, d)
Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 10/2024, de 8 de janeiro, artigos 1.º; 13.º; 16.º
Decreto-Lei n.º 106/2013, de 30 de Julho
Decreto-Lei n.º 307/2003, de 10 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 128/2017, de 9 de Outubro, artigo 10.º