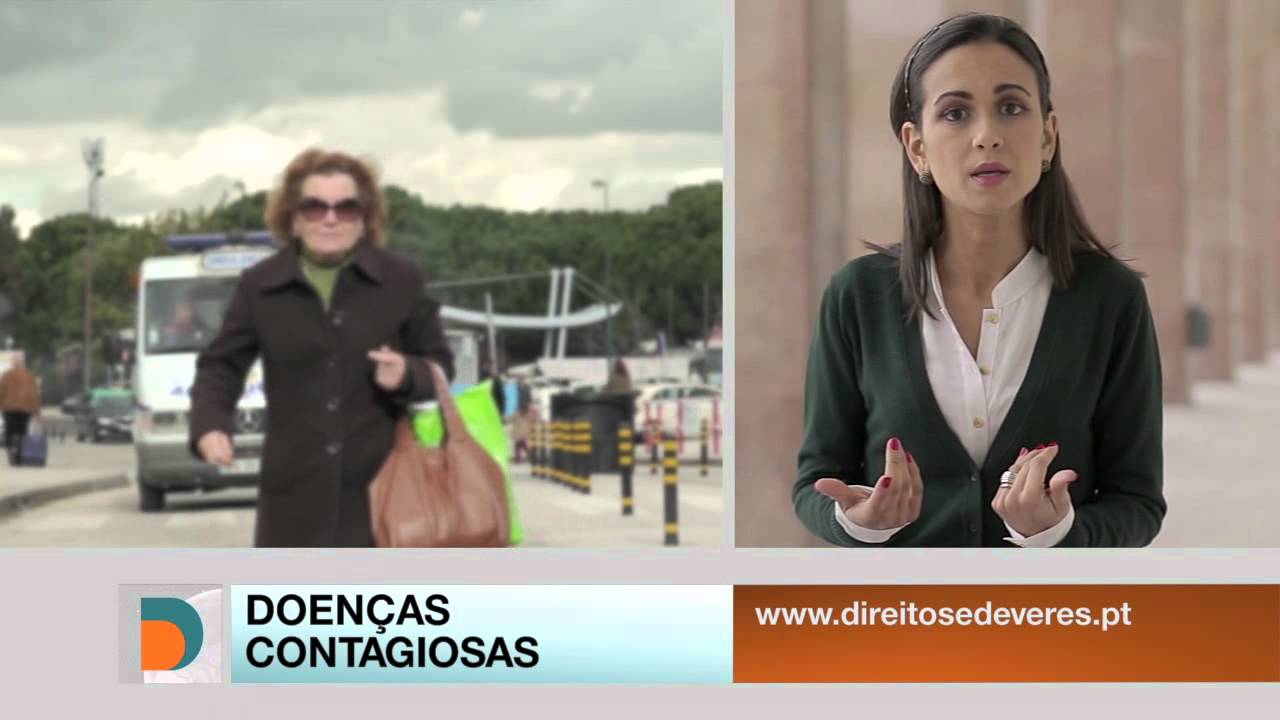Direitos e Deveres
Sim, quando se trate de doença grave identificada pelas autoridades.
A entrada em território português é recusada aos cidadãos estrangeiros que não cumpram os requisitos legais, que estejam sinalizados para efeitos de recusa de entrada e de permanência no Sistema de Informação Schengen, estejam indicados para efeitos de regresso ou recusa de entrada e permanência no Sistema Integrado de Informações da Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros ou que representem perigo para a ordem pública, a segurança nacional, a saúde pública ou as relações internacionais de Estados-membros da União Europeia (UE), bem como de Estados onde vigore uma convenção de aplicação.
A recusa de entrada com fundamento em razões de saúde pública só se pode basear em doenças com potencial epidémico definidas pelos instrumentos pertinentes da Organização Mundial de Saúde, bem como outras doenças contagiosas, infecciosas ou parasitárias em relação às quais haja disposições de protecção aplicáveis aos cidadãos nacionais.
Ao nacional de Estado terceiro ou cidadão de Estado-membro da UE, pode exigir-se que se sujeite a um exame médico gratuito, incluindo exames complementares de diagnóstico e outras medidas médicas que forem consideradas adequadas, a fim de atestar que não tem nenhuma das doenças mencionadas.
A ocorrência de doença três meses após a entrada em Portugal de um cidadão de outro Estado-membro da UE não constitui justificação para o seu afastamento.
TRAB
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Lei n.º 37/2006, de 9 de Agosto, alterada pelo Decreto-Lei n.º 41/2023 de 2 de junho, artigo 24.º
Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho, alterada pela Lei n.º 9/2025, de 13 de fevereiro, artigo 32.º
Esta afirmação, que surge na Constituição da República Portuguesa, tem como sentido mais corrente expressar que os tribunais, tal como os outros órgãos de soberania, são uma expressão da soberania popular. Incumbe-lhes assegurar a defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos, reprimir a violação da legalidade democrática e dirimir os conflitos de interesses públicos e privados, tendo direito à ajuda de outras autoridades no exercício das suas funções.
A administração da justiça feita em nome do povo indica que essa justiça não se faz mediante sufrágio (de forma imediata por eleições), mas mediante um mecanismo de representação constitucional do povo («em nome» dele) nos tribunais, designadamente na pessoa dos juízes, que são os titulares desses órgãos de soberania. Isso não exclui a existência de mecanismos de representação democrática na composição de alguns órgãos incluídos no sistema judicial (Tribunal Constitucional, Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, Conselho Superior do Ministério Público, etc.).
O principal corolário da afirmação é que só aos tribunais compete administrar a justiça e, dentro dos tribunais, ao juiz (reserva de juiz), pelo que não podem ser atribuídas funções jurisdicionais a outros órgãos, designadamente à Administração Pública. O poder judicial só pode ser exercido por tribunais, e os juízes actuam estritamente vinculados a certos princípios de independência, legalidade e imparcialidade.
CONST
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigos 202.º–204.º
O segredo de justiça vincula, desde logo, as pessoas directamente envolvidas num processo. Vincula também quem aceder a elementos dele (por ex., jornalistas), seja por que meio for, pois trata-se aqui de pessoas que, embora não tendo contacto directo com o processo, obtiveram informações sobre ele — normalmente, por intermédio de quem o tem. Se tais pessoas não estivessem igualmente obrigadas a guardar segredo, este seria muito menos eficaz: qualquer interveniente processual que quisesse divulgar certa informação sob segredo transmiti-la-ia anonimamente a uma pessoa não envolvida no processo, que poderia divulgá-la livremente.
O segredo de justiça implica, por um lado, a proibição de assistir à prática de actos processuais (interrogatórios, perícias, etc.) a que não se tenha o direito ou dever de assistir, bem como de tomar conhecimento do respectivo conteúdo; e, por outro, a proibição de divulgar a ocorrência ou o conteúdo de actos processuais. Porém, não impede a prestação de esclarecimentos públicos por parte das autoridades judiciárias (Ministério Público ou juiz), se tal for necessário para restabelecer a verdade e não prejudicar a investigação.
Os esclarecimentos podem prestar-se em duas situações: a pedido de pessoas que tenham sido publicamente postas em causa no contexto daquele processo; ou por iniciativa das autoridades judiciárias referidas, caso entendam que isso contribuirá para garantir a segurança de pessoas e bens ou a tranquilidade pública (por exemplo, anunciando que um arguido muito perigoso que andava a monte foi detido).
CRIM
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Código de Processo Penal, artigo 86.º, n.os 8 e 13
Os trabalhadores beneficiam de vários direitos perante uma situação de despedimento colectivo, alguns dos quais variam consoante o despedimento tenha sido lícito ou ilícito.
O trabalhador abrangido por um despedimento colectivo beneficia, entre outros, dos seguintes direitos:
- Direito a uma indemnização calculada em função da retribuição salário base e, quando aplicável, das diuturnidades, por cada ano completo de antiguidade (ou pelo proporcional, em caso de fracção de ano). O montante da indemnização varia consoante a data de celebração do contrato de trabalho.
- Direito a um prazo de aviso prévio para que possa procurar nova actividade.
- Direito a pedir um crédito de horas correspondente a dois dias de trabalho por semana (sem prejuízo da retribuição) válido durante o prazo de aviso prévio.
- Direito a fazer cessar antecipadamente o contrato, durante o prazo de aviso prévio, sem perder o direito à indemnização.
- Direito a todos os créditos laborais que são sempre devidos em caso de cessação do contrato (independentemente da forma de cessação): (i) retribuição de férias e respectivo subsídio correspondentes a férias vencidas e não gozadas, (ii) retribuição de férias e respectivo subsídio proporcionais ao tempo de serviço prestado no ano da cessação, (iii) subsídio de Natal proporcional ao tempo de serviço prestado no ano da cessação, e (iv) retribuição correspondente ao crédito de horas de formação profissional de que o trabalhador seja titular na data de cessação do contrato.
Caso o despedimento colectivo venha a ser declarado ilícito pelo tribunal, o trabalhador beneficia dos mesmos direitos que teria num caso de despedimento individual ilícito:
- Indemnização por eventuais danos sofridos (patrimoniais ou não patrimoniais);
- Opção entre reintegração no mesmo estabelecimento da empresa (sem prejuízo da sua categoria e antiguidade) ou pagamento de indemnização a fixar pelo tribunal tendo em conta vários factores, entre os quais, a retribuição base e a antiguidade do trabalhador; e
- Retribuições correspondentes ao período entre a data do despedimento e a data do trânsito em julgado da decisão judicial que declarar a ilicitude do despedimento. A estas retribuições são deduzidas as eventuais quantias que o trabalhador tenha recebido a título de subsídio de desemprego ou que não receberia se não fosse o despedimento.
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigo 53.º,
Código do Trabalho, artigos 245.º, 263., 278.º, 359.º; 364.º; 366.º, 388.º e 390.º a 392.º
Não.
O crime de violência doméstico é um crime público, o que significa que qualquer cidadão que presencie ou tenha conhecimento de uma situação de violência doméstica pode denunciá-la às autoridades e isso basta para dar início a um processo-crime, independentemente de queixa da vítima. O processo será conduzido pelo Ministério Público, que deverá iniciar a fase de investigação para averiguar se a denúncia é fundada e que decidirá, posteriormente, se o processo deverá prosseguir ou não para julgamento. A generalidade dos cidadãos não está obrigada a denunciar casos de violência doméstica. Contudo, a obrigação de denúncia existe para certas entidades, como polícias e certos funcionários, desde que estes últimos tomem conhecimento dos crimes no exercício das suas funções e por causa delas.
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Código Penal, artigos 152.º e 386.º
Código do Processo Penal, artigos 242.º, 262.º, n.º 2
Paginação
Os militares dos quadros permanentes, seja qual for a sua situação, bem como os restantes militares em efectividade de serviço, obedecem a princípios orientadores aos quais se dá a designação de condição militar.
Desde logo, assumem o compromisso público de respeitar a Constituição da República Portuguesa e as demais leis da República e obrigam-se a cumprir os regulamentos e as determinações a que devam respeito.
A condição militar caracteriza-se pela subordinação ao interesse nacional; pela sujeição aos riscos inerentes ao cumprimento das missões militares (se necessário, com o sacrifício da própria vida), bem como à formação, instrução e treino que as mesmas exigem (quer em tempo de paz quer em tempo de guerra); pela subordinação à hierarquia militar e a um regime disciplinar próprio; pela restrição constitucionalmente prevista do exercício de alguns direitos e liberdades; pela adopção de uma conduta conforme com a ética militar; e pela consagração de especiais direitos, compensações e regalias, designadamente nos campos da segurança social, assistência, remunerações, cobertura de riscos, carreiras e formação.
Os militares têm direito aos títulos, honras, precedências, imunidades e isenções adequados à sua condição. A subordinação à disciplina militar implica o dever de obediência aos escalões hierárquicos superiores, bem como o exercício responsável da autoridade.
É garantido a todos os militares o direito de progressão na carreira, nos termos das leis estatutárias respectivas. Aos militares, é atribuído um posto hierárquico indicativo da sua categoria e uma antiguidade nesse posto. O exercício dos poderes de autoridade, o dever de subordinação e a responsabilidade de cada militar decorrem das posições que ocupam na escala hierárquica e dos cargos que desempenham.
Na estrutura orgânica das Forças Armadas, os militares ocupam os cargos e desempenham as funções que devem corresponder aos seus postos. Contudo, quando os militares, por razões de serviço, desempenhem funções de posto superior ao seu, consideram-se investidos dos poderes de autoridade correspondentes a esse posto.
O desempenho profissional dos militares deve ser objecto de apreciação fundamentada, a qual, se for desfavorável, é comunicada ao interessado, que pode apresentar reclamação e recurso hierárquico.
Os militares têm também o direito a receber do Estado patrocínio judiciário e assistência para defesa dos seus direitos e do seu bom nome e reputação, sempre que sejam afectados por causa de serviço que prestem às Forças Armadas ou no âmbito destas. Em processo disciplinar, são garantidos aos militares os direitos de audiência, defesa, reclamação e recurso hierárquico e contencioso. O patrocínio é sempre garantido em caso de processo escrito.
Convém notar que nenhum militar pode ser prejudicado ou beneficiado na sua carreira em razão de ascendência, sexo, raça, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, situação económica ou condição social.
Por último, os militares dos quadros permanentes estão, nos termos dos respectivos estatutos, sujeitos a passar à situação de reserva, de acordo com limites de idade e outras condições de carreira e serviço, mantendo-se disponíveis para o serviço e tendo direito a uma contrapartida remuneratória adequada à situação em que se encontram.
É garantido aos militares e suas famílias um sistema de assistência e protecção, abrangendo designadamente pensões de reforma, de sobrevivência e de preço de sangue e subsídios de invalidez e outras formas de segurança, incluindo assistência sanitária e apoio social.
As normas sobre a condição militar e as orientações sobre as carreiras militares aplicam-se aos militares da Guarda Nacional Republicana e da Guarda Fiscal.
CONST
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigos 270.º; 275.º e 276.º
Lei n.º 11/89, de 1 de Junho, artigos 1.º–6.º; 10.º–16.º
Em princípio, sim.
Porém, dado o seu estatuto especial, a Constituição prevê restrições ao exercício de certos direitos, tal como acontece também no caso dos agentes militarizados e dos agentes dos serviços e das forças de segurança.
Assim, no que respeita à liberdade de expressão (que inclui a liberdade de imprensa), ao direito de reunião e de manifestação, ao direito de associação (incluindo de associação sindical), ao direito de greve, ao direito de petição colectiva e à capacidade eleitoral passiva (restrições na possibilidade de ser eleito para certos órgãos), as restrições têm de ser apenas as necessárias. Serão previstas em leis da Assembleia da República, não podendo o Governo legislar sobre a matéria, e requerendo-se uma maioria parlamentar qualificada para as aprovar.
Os militares em efectividade de serviço estão sujeitos aos deveres decorrentes do estatuto da condição militar, devendo observar uma conduta conforme com a ética militar e respeitar a coesão e a disciplina das Forças Armadas. São rigorosamente apartidários e não podem usar a arma, o posto ou a função para qualquer intervenção política ou sindical: nisso consiste o seu dever de isenção.
A condição militar implica estar sujeito a um conjunto alargado de deveres (subordinação ao interesse nacional, disponibilidade permanente, obediência hierárquica e sujeição à ética militar), mas também beneficiar de um conjunto de direitos especiais (compensações, segurança social, assistência, remunerações, cobertura de riscos, carreira e formação).
CONST
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigos 12.º e 13.º; 18.º; 164.º, o); 168.º, n.º 6, e); 270.º
Lei n.º 11/89, de 1 de Junho, artigos 2.º–17.º
Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho, artigos 25.º–35.º; 47.º
Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 77/2023, de 4 de setembro, artigos 11.º-25.º
Sim, mas não de forma necessária ou automática.
Tanto a prática de um crime quanto a omissão de alguns deveres ou o cometimento de outras ilegalidades no exercício de cargos públicos podem levar à perda do mandato. Desde logo, tal acontece quando um membro de um órgão autárquico (por ex., presidente de câmara municipal ou vereador) é objecto de condenação definitiva (ou seja, decisão com trânsito em julgado, sem possibilidade de mais recursos) por crime praticado no exercício das suas funções.
Também podem ver declarada a cessação do seu mandato os autarcas (enquanto titulares de um cargo político) que não apresentarem a sua declaração pública de rendimentos, património, interesses, incompatibilidades e impedimentos.
A prática (por acção ou omissão) de ilegalidades diversas no âmbito da gestão das autarquias locais pode também levar à perda do mandato de membros dos órgãos e eventualmente à sua própria dissolução. Tem-se entendido que só se pode decretar a perda de mandato nas situações taxativamente indicadas na lei e quando exista culpa grave, não mera negligência no cumprimento de uma obrigação legal. Se estiver em causa alguém democraticamente eleito, deve haver proporcionalidade entre a falta cometida e a sanção.
CONST
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigos 117.º e 242.º
Lei n.º 29/87, de 30 de Junho, alterada pela Lei n.º 82/2023, de 29 de dezembro
Lei n.º 34/87, de 16 de Julho, alterada pela Lei n.º 94/2021, de 21 de dezembro, artigo 29.º, f)
Lei n.º 27/96, de 1 de Agosto, alterada pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro, artigos 1.º–3.º; 7.º–10.º
Lei n.º 47/2005, de 29 de Agosto
Lei n.º 52/2019, de 31 de Julho, alterada pela Lei n.º 26/2024, de 20 de fevereiro, artigos 1.º, 2.º; 13.º, 18.º
Sim, após a Segunda Guerra Mundial, criaram-se tribunais ad hoc para julgar crimes internacionais especialmente graves.
A referência histórica imprescindível é o Tribunal de Nuremberga, criado no pós-Segunda Guerra Mundial para o julgamento das atrocidades cometidas pelo regime nacional-socialista. Após o final da Guerra Fria, a questão da justiça penal internacional adquiriu de novo grande importância, devido a factores como o recrudescimento dos conflitos étnico-religiosos, o papel desempenhado pelos activistas dos direitos humanos (sobretudo as organizações não-governamentais) e as experiências de cooperação policial e judiciária entre os Estados. Entre outros, surgiram tribunais penais ad hoc para a ex-Jugoslávia e o Ruanda (em 1993 e 1994).
Esses tribunais têm competência para punir violações graves dos direitos humanos: genocídio, crimes contra a humanidade e outros crimes graves. A sua actuação respeita os princípios do duplo grau de jurisdição (possibilidade de a decisão ser objecto de apreciação por tribunal de recurso), da exclusão da pena de morte e da preclusão dos julgamentos à revelia quando a ausência traduza o não reconhecimento da jurisdição obrigatória (ninguém será julgado na ausência quando o seu país não reconhecer a obrigatoriedade da jurisdição do Tribunal Penal Internacional). Lugar de destaque é ocupado pelo princípio do non bis in idem (proibição de alguém ser julgado mais de uma vez pelos mesmos factos) conformando a subsidiariedade ou complementaridade que caracteriza a actividade da jurisdição internacional.
Mais recentemente, criaram-se o Tribunal Especial para o Camboja (para o julgamento dos crimes cometidos pelo regime de Pol Pot entre 1975 e 1979), o Tribunal Especial para a Serra Leoa (2000) e o tribunal para os crimes cometidos em Timor-Leste (1999, sob a égide da UNTAET, neste caso uma espécie de tribunal nacional internacionalizado, portanto de cariz híbrido, o que tem sido tomado como uma inovação).
Cumpre referir ainda as experiências de justiça não governamentais, remontando os seus antecedentes à iniciativa da Fundação para a Paz Bertrand Russell, em 1966, para julgar as acções americanas no Vietname, ou, mais recentemente (em 1995), o assim designado tribunal internacional não governamental para os crimes contra a humanidade e crimes de guerra na Chechénia, estabelecido por activistas de direitos humanos, por juristas russos e por deputados da Duma (de legitimidade e efectividade muito questionável, mas um contributo de interesse neste âmbito).
A jurisprudência destes tribunais ad hoc tem sido fonte importante de aplicação do direito humanitário. Especialmente no caso do tribunal para a ex-Jugoslávia, em que mais casos foram julgados, diversas questões foram analisadas pelos meios de comunicação e por juristas especializados. Esta experiência resultou na instituição do Tribunal Penal Internacional, em que muito da experiência daqueles tribunais tem sido utilizada.
PUBCONST
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Carta das Nações Unidas, artigo 29.º
Resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas n.º 827, de 25 de Maio de 1993
Resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas n.º 955, de 8 de Novembro de 1994
Constituição da República Portuguesa, artigo 7.º, n.º 7
O TPI é um tribunal permanente, sediado em Haia e com estatuto de organização internacional, que foi criado em 2002 para o julgamento de crimes de maior gravidade, como os crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crime de agressão.
O tribunal só pode analisar e julgar actos praticados por indivíduos, e não por instituições ou empresas, mas a sua competência mantém-se quanto a actos praticados em nome ou por conta de um Estado ou por pessoas que exerçam qualquer cargo público.
No entanto, a responsabilidade penal dos indivíduos não exclui a responsabilidade internacional dos Estados, de natureza compensatória, pelos mesmos actos, a qual deverá ser analisada e decidida por outras instituições jurisdicionais.
A participação das vítimas nos processos do TPI é permitida pelo Estatuto, podendo estas influenciar o decurso do processo nas suas várias fases e obter ressarcimento pelos danos sofridos, em caso de condenação do autor do crime.
Em princípio, o TPI só tem jurisdição sobre crimes cometidos por nacionais dos Estados Partes ou no território destes (mesmo que por estrangeiros). Contudo, ainda que estes requisitos não estejam reunidos, o tribunal terá sempre jurisdição sobre situações que sejam denunciadas ao Procurador pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.
A jurisdição do TPI é complementar face à jurisdição penal dos Estados Partes, pelo que o tribunal só intervirá se os Estados que têm jurisdição sobre os factos não os investigarem e não iniciarem os procedimentos penais adequados, seja por incapacidade seja por falta de vontade de agir. Por isso mesmo, na articulação entre as várias instituições potencialmente competentes, podem levantar-se problemas delicados relacionados com as regras constitucionais relativas à extradição de cidadãos nacionais, aos limites das penas (p.e., a proibição da prisão perpétua) e às imunidades e prerrogativas penais dos titulares de cargos públicos. A solução portuguesa passou pela reforma de uma regra constitucional que prevê o reconhecimento da jurisdição do TPI.
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, artigos 1.º, 3.º, 5.º, 11.º–17.º; 19.º; 68.º; 75.º, 121.º
Constituição da República Portuguesa, artigo 7.º, n.º 7