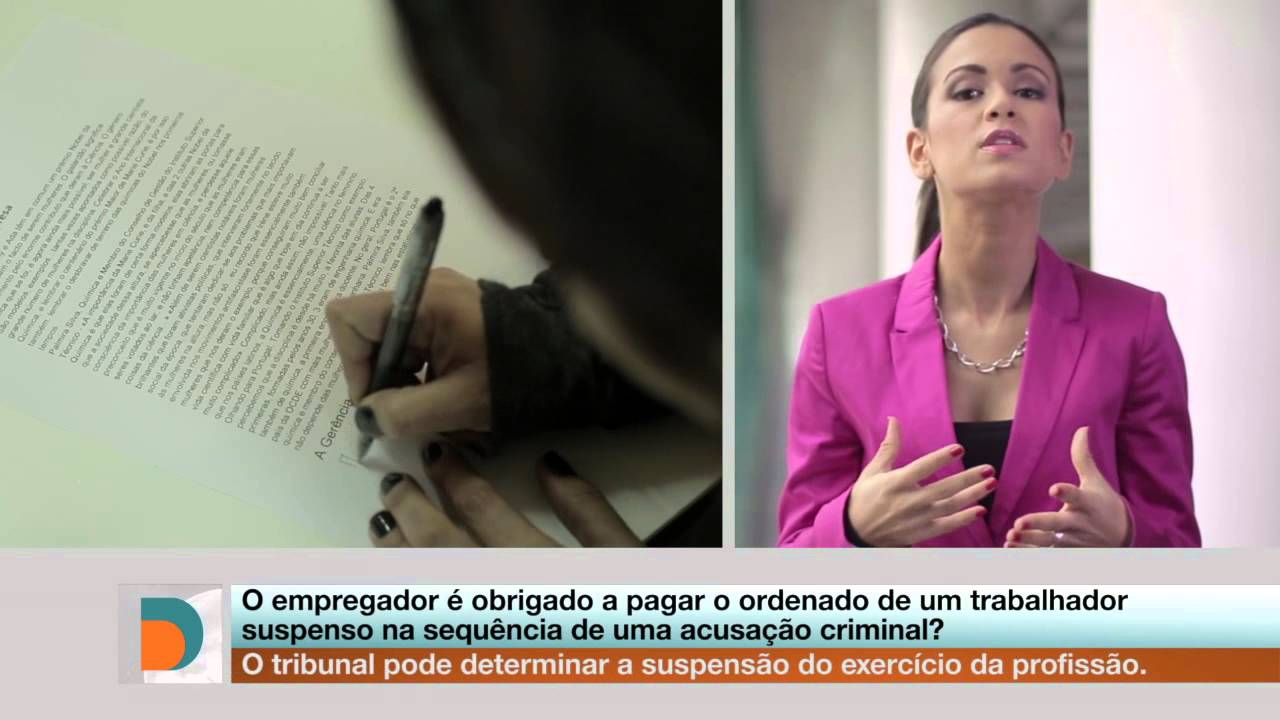Direitos e Deveres
O Estado corresponde a uma comunidade de cidadãos politicamente organizada, mas também a uma estrutura organizada de poder e acção — que se manifesta através de órgãos, serviços, relações de autoridade. Tal estrutura organizada destina-se a garantir a convivência ordenada entre os cidadãos e manter a segurança jurídica. O Estado consegue fazê-lo porque regula vinculativamente a conduta da comunidade, ou seja, cria normas e impõe a conduta prescrita, inclusivamente a si próprio. Neste sentido, a estrutura organizativa a que chamamos Estado deve obediência ao direito — isto é, cria direito e vincula-se a ele —, não sendo outro o sentido da expressão «Estado de direito».
Não existe, portanto, a ideia de poder legítimo sem a ideia de direito, pois o direito legitima o exercício do poder, na medida em que o controla e modera. Por isso, a expressão «Estado de direito» significa que o exercício do poder público está submetido a normas e procedimentos jurídicos (procedimentos legislativos, administrativos, judiciais) que permitem ao cidadão acompanhar e eventualmente contestar a legitimidade (leia-se: a constitucionalidade, a legalidade, a regularidade) das decisões tomadas pelas autoridades públicas.
Este «Estado de direito» é um «Estado democrático», o que significa que o exercício do poder baseia-se na participação popular. Tal participação não se limita aos momentos eleitorais, mediante «sufrágio universal, igual, directo e secreto», mas implica também a participação activa dos cidadãos na resolução dos problemas nacionais, o permanente controlo/escrutínio do exercício do poder por cidadãos atentos e bem informados, o exercício descentralizado do poder e o desenvolvimento da democracia económica, social e cultural — ou seja, a responsabilidade pública pela promoção do chamado Estado social: a satisfação de níveis básicos de prestações sociais e correcção das desigualdades sociais.
CIV
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigos 1.º e 2.º; 9.º e 10.º; 225.º, n.º 2; 235.º
Sendo o mecenato social um importante apoio a iniciativas sociais de entidades privadas ou públicas, o Estado proporciona benefícios fiscais às empresas e pessoas que façam donativos (entregas em dinheiro ou em espécie, sem contrapartidas) a essas entidades.
No caso das empresas, os donativos são considerados dedução no seu lucro tributável, sem limite quando concedidos a entidades públicas — por exemplo, o Estado, as Regiões Autónomas, as autarquias locais — ou, em certas circunstâncias, para dotação inicial de fundações de iniciativa exclusivamente privada que prossigam fins de natureza predominantemente social. O valor dedutível corresponde a 140 % do seu total, quando se destinarem exclusivamente à prossecução de fins de carácter social, a 120%, se destinados exclusivamente a fins de caráter ambiental, desportivo e educacional, ou a 130% do respetivo total, quando forem atribuídos ao abrigo de contratos plurianuais celebrados para fins específicos.
Fora dessas situações, os donativos são considerados dedução até determinados limites (maior ou menor, consoante os fins sociais patrocinados) do volume de vendas ou dos serviços prestados das empresas, se atribuídos a IPSS ou instituições equiparadas ou de utilidade pública que prossigam fins de caridade, assistência, beneficência e solidariedade social e ainda cooperativas de solidariedade social, entre outras. Os donativos têm um valor dedutível de 130 % do seu total ou mais (até 150 %), quando se destinem a custear medidas sociais específicas referidas na lei.
No caso de pessoas singulares, os donativos em dinheiro atribuídos às entidades e para os fins referidos são dedutíveis à colecta do IRS em valor correspondente a 25 % das importâncias atribuídas, desde que não estejam sujeitos a qualquer limitação — por exemplo, no caso de serem atribuídas ao Estado — ou em valor correspondente a 25 % das importâncias atribuídas, até ao limite de 15 % da colecta nas restantes situações.
TRAB
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Estatuto dos Benefícios Fiscais, artigos 61.º–63.º
Um funcionário que peça um suborno a um cidadão comete um crime de corrupção passiva e está sujeito a uma pena de prisão de 1 a 8 anos, agravada se a vantagem patrimonial pedida for de valor elevado.
O cidadão pode denunciar a situação junto das autoridades competentes em matéria de processo penal: os órgãos de polícia criminal ou o Ministério Público. Este último deve instaurar um inquérito assim que receba notícia do crime.
O cidadão pode também apresentar a denúncia à Inspecção-Geral de Finanças, um serviço central de inspecção, fiscalização e apoio técnico do Ministério das Finanças que tem o dever de comunicar às autoridades referidas a prática de quaisquer crimes por parte de agentes fiscais de que tome conhecimento, ou participar o facto aos superiores hierárquicos do funcionário em causa.
CRIM
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Código Penal, artigos 373.º e 374.º-A
Código de Processo Penal, artigos 241.º e seguintes
Decreto-Lei n.º 117/2011, de 15 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 60/2023, de 24 de julho
Decreto-Lei n.º 96/2012, de 23 de Abril, artigo 2.º, n.º 2, l)
Os operadores de canais de televisão têm obrigações muito variadas. Umas resultam da lei, outras de compromissos assumidos por vontade própria e outras de acordos com o órgão a que compete supervisioná-los.
Há obrigações gerais que se aplicam a todos os operadores, terrestres ou por cabo, de sinal aberto ou fechado. Têm de respeitar a lei geral da concorrência, sobretudo no que se refere ao abuso de posição dominante e à concentração de empresas; de ser transparentes quanto aos respectivos proprietários; de cobrir pelo menos 95% do território; de cumprir certo número de horas de emissão; de anunciar os seus programas com antecedência e clareza suficientes; de cumprir os horários.
Os operadores devem respeitar uma ética de antena, jamais promovendo o «ódio racial, xenófobo, religioso, político ou gerado pelo sexo, pela orientação sexual ou pela deficiência». Ao nível da oferta, a lei impõe-lhes poucas limitações concretas, mas devem fornecer uma programação «diversificada e plural», incluindo «serviços noticiosos regulares» produzidos por jornalistas.
Devem cumprir os limites de tempo reservados à publicidade — diferentes conforme se trate ou não de canais de acesso livre (ou seja, que não exigem assinatura nem qualquer outro tipo de pagamento aos espectadores) — e as demais regras sobre separação, identificação e inserção da mesma. Estão ainda proibidos de transmitir propaganda política, à parte os tempos de antena dos partidos políticos, impostos pela lei. (Esta última obrigação aplica-se, fora dos períodos eleitorais, unicamente ao serviço público, que tem largo conjunto de obrigações ao qual os outros operadores não se encontram sujeitos.)
Em referência aos canais de acesso livre, quando uma empresa obtém a concessão de uma frequência televisiva ou a renova, assume determinado projecto: uma linha de programação que preencha o que se espera de um canal generalista. É nessa base que recebe licença para operar. Ocasionalmente, o projecto pode ser alterado com autorização do regulador. Assim, em 1999, o projecto da TVI passou a incluir «informação atraente, dinâmica, espectacular, próxima do povo» e investimento na ficção portuguesa e produção documental», entre outros itens. Também a SIC pôde alterar o seu projecto, com, por exemplo, «emissão de três jornais informativos completos» (o projecto original estipulava quatro).
No caso dos canais por cabo, há ainda a ter em conta, no que respeita às condições da sua distribuição, a Lei das Comunicações Electrónicas.
CONST
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, alterada pelo Decreto-Lei n-º 49/2020, de 4 de agosto
Lei n.º 53/2005, de 8 de Novembro
Lei n.º 27/2007, de 30 de Julho, alterada pela Lei n.º 74/2020, de 19 de novembro
Lei n.º 54/2010, de 24 de Dezembro, alterada pela Lei n.º 16/2024, de 5 de fevereiro
Exercem.
Os seguranças privados desempenham diferentes funções consoante a especialização para que se encontram habilitados e autorizados nos termos da lei (por exemplo, vigilante, segurança-porteiro ou assistente de recinto desportivo, assistente de portos e aeroportos, vigilante de transporte de valores). No caso dos vigilantes, estes desempenham, entre outras, as seguintes funções:
a) vigiar e proteger pessoas e bens em locais de acesso vedado e condicionado ao público, bem como prevenir a prática de crimes;
b) controlar a entrada, presença e saída de pessoas nos locais de acesso vedado ou condicionado ao público;
c) prevenir a prática de crimes em relação ao objeto da sua proteção;
d) executar serviços de resposta e intervenção relativamente a alarmes que se produzam em centrais de recepção e monitorização de alarmes;
e) realizar revistas pessoais de prevenção e segurança, quando autorizadas expressamente por despacho do membro do Governo responsável pela área da administração interna, em locais de acesso vedado ou condicionado ao púbico, sujeitos a medidas de segurança reforçada.
O pessoal de vigilância está sujeito ao regime geral de uso e porte de arma: pode recorrer designadamente a aerossóis de defesa e armas eléctricas até 200 000 V, com mecanismo de segurança.
O porte de arma em serviço só é permitido se autorizado por escrito pela entidade patronal. A autorização, anual e renovável, pode ser revogada a todo o tempo.
No controlo de acesso aos recintos desportivos, os assistentes podem realizar revistas pessoais de prevenção e segurança com o estrito objectivo de impedir a entrada de objectos e substâncias proibidas ou susceptíveis de gerar ou possibilitar actos de violência. Também quem exerce funções de assistente de portos e aeroporto pode realizar revistas e buscas de prevenção e segurança.
Os meios técnicos adequados incluem equipamentos de inspecção não intrusiva de passageiros e bagagem (por exemplo, o uso de raquetes de detecção de metais e de explosivos), com o estrito objectivo de detectar e impedir a entrada de pessoas ou objectos proibidos e substâncias proibidas ou susceptíveis de possibilitar actos que ameacem a segurança de pessoas e bens.
Em caso de flagrante delito por crime punível com pena de prisão, o pessoal de vigilância, como qualquer cidadão, pode deter o suspeito, se não estiver presente autoridade judiciária ou entidade policial, mas deve entregar imediatamente o detido a uma dessas entidades.
TRAB
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Lei n.º 5/2006, de 23 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 50/2019, de 24 de Julho
Lei n.º 34/2013, de 16 de Maio, artigos 17.º, 18.º, 19.º e 32.º
Paginação
Tem. Sendo a violência doméstica uma realidade que atravessa todos os estratos sociais, económicos e etários, a lei protege a situação do trabalhador — ou mais frequentemente trabalhadora — que dela for vítima.
Sujeito à apresentação de queixa-crime e à saída da casa de morada de família, a lei atribui à vítima três direitos:
- a transferência, definitiva ou temporária, a seu pedido, para outro estabelecimento da empresa;
- a suspensão imediata do contrato de trabalho;
- a prestação de trabalho no regime de teletrabalho (trabalho à distância) se este for compatível com a actividade desempenhada.
Além disso, consideram-se justificadas as faltas dadas pela vítima que sejam motivadas pela impossibilidade de prestar trabalho devido ao crime de violência doméstica.
TRAB
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigo 25.º, n.º 1
Código Penal, artigo 152.º
Código do Trabalho, artigos 166.º, n.os 1 e 2; 195.º; 296.º, n.º 2
Lei n.º 112/2009, de 16 de Setembro, alterada pela Lei n.º 57/2021, de 16 de agosto, artigos 41.º–44.º
Em certas condições, sim.
A Constituição da República Portuguesa assegura o direito fundamental à liberdade de religião e de culto, bem como à organização do trabalho em condições socialmente dignificantes e de modo a facultar a realização pessoal, sem distinção de religião, entre outros factores.
A Lei da Liberdade Religiosa, por sua vez, estabelece que os funcionários e agentes do Estado e demais entidades públicas, bem como os trabalhadores em regime de contrato de trabalho, têm o direito de suspender o trabalho no dia de descanso semanal, nos dias das festividades e nos períodos horários que lhes sejam prescritos pela sua religião.
A mesma lei estipula alguns limites e condições ao exercício desse direito, tendo em vista compatibilizá-lo com direitos dos empregadores. Assim, além do pedido do trabalhador, ele depende de:
- o regime de prestação do trabalhador ser em regime de flexibilidade de horário;
- o trabalhador ser membro de igreja ou comunidade religiosa inscrita que enviou no ano anterior, ao membro do governo competente, a indicação dos referidos dias e períodos horários no ano em curso;
- ocorrer, por parte do trabalhador, compensação integral do respectivo período de trabalho para o qual pede dispensa.
Verificando-se todas essas condições, o empregador tem de aceitar o pedido do trabalhador.
TRAB
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigos 13.º; 41.º; 59.º
Lei n.º 16/2011, de 22 de Junho, artigo 14.º
Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 15 de Dezembro de 2011, com sumário publicado na Colectânea de Jurisprudência, t. V/2011, pág. 330
Em princípio, não.
Se o tribunal determina a suspensão do exercício da profissão ao trabalhador, após a acusação do crime mas antes de decisão final irrecorrível no respectivo processo, é previsível que, pela normalidade dos processos judiciais, o impedimento de prestar trabalho dure mais de 30 dias. Nesse caso, o Código do Trabalho determina a imediata suspensão do próprio contrato de trabalho. Entende-se que o impedimento não é imputável ao trabalhador, dado o princípio da presunção de inocência consagrado na Constituição da República Portuguesa: até haver sentença de condenação definitiva, uma acusação não significa que o trabalhador tenha cometido o crime, mesmo se a suspeita levou o tribunal a suspender-lhe, por cautela, o exercício da profissão.
Ao suspender-se o contrato de trabalho, cessa o dever de o empregador pagar o salário ao trabalhador. Ficam também suspensos os deveres que pressuponham a efectiva prestação do trabalho, mantendo-se todos os outros.
Mais delicada é a questão de saber se o empregador deve pagar o salário quando o impedimento durar menos de 30 dias. Nesse caso, o trabalhador entra em regime de faltas ao trabalho, as quais têm de se considerar justificadas, porque fundadas em impedimento não imputável a ele (a menos que venha a ser posteriormente condenado, em sentença definitiva, pelo crime que deu origem ao impedimento). Sendo as faltas justificadas, o empregador, em princípio, é obrigado a pagar-lhe o salário.
TRAB
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigo 32.º, n.º 2
Código do Trabalho, artigos 249.º, n.º 2, d); 255.º; 295.º e 296.º
A impossibilidade de um devedor (empresa ou pessoa singular) cumprir as suas obrigações pode levar à declaração de insolvência. Emitida por um tribunal, esta declaração atribui a um administrador de insolvência os poderes de gerir e dispor dos bens do insolvente. Este fica igualmente proibido de ceder rendimentos ou alienar quaisquer bens futuros susceptíveis de penhora, mesmo que adquiridos após o encerramento do processo.
Classifica-se a insolvência como fortuita ou culposa. Fortuita, quando ocorre casualmente, por circunstâncias mais ou menos imprevisíveis ou que o devedor não controla. Culposa, quando a situação foi criada ou agravada em consequência da actuação intencional ou gravemente negligente do devedor (ou dos seus administradores, no caso de uma empresa).
A qualificação da insolvência como culposa implica sérias consequências para as pessoas afectadas, que podem ir da inabilitação, privando-as da administração dos seus bens por um período determinado, até à inibição temporária para o exercício do comércio ou de certos cargos ou ainda à perda de quaisquer créditos sobre a insolvência e à condenação de restituir os bens ou direitos já recebidos em pagamento desses créditos.
No caso de insolvência pessoal, pode, em certos casos, conceder-se ao devedor/insolvente a exoneração do passivo restante, quer dizer, o perdão dos créditos que não forem integralmente pagos no processo de insolvência ou nos cinco anos posteriores ao encerramento deste.
CIV
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Regulamento (CE) n.º 1346/2000 do Conselho, de 29 de Maio
Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, artigos 1.º–4.º; 185.º e 186.º; 189.º; 235.º–239.º
A adopção é um vínculo legal que se estabelece entre duas pessoas, semelhante à filiação natural mas independente dos laços de sangue. Embora não reconheça a existência de um direito à adopção — direito a adoptar e ser adoptado —, a Constituição da República Portuguesa acolhe-a como um instituto jurídico garantido. A lei, por sua vez, admite duas modalidades de adopção: a adopção plena e a adopção restrita. Ambas podem ser realizadas por um casal (duas pessoas casadas ou em união de facto: adopção conjunta), ou por uma só pessoa (casada ou não casada: adopção singular).
Através da adopção plena, o adoptado adquire a situação de filho do adoptante e integra-se com os seus descendentes na família deste, ficando extintas as relações familiares entre o adoptado e a sua família natural. Ele perde os apelidos de origem e é até possível alterar o seu nome próprio em tribunal. A adopção plena não é revogável, ou seja, não pode ser dada sem efeito, nem mesmo com o acordo do adoptante e do adoptado.
Na adopção restrita, pelo contrário, o adoptado conserva todos os direitos e deveres em relação à família natural. Assim, nem ele nem os seus descendentes nem os parentes do adoptante são herdeiros legítimos ou legitimários uns dos outros, nem ficam reciprocamente vinculados à prestação de alimentos. Esta adopção é revogável a requerimento do adoptante ou do adoptado. Também pode a todo o tempo, se os adoptantes o requererem, ser convertida em adopção plena, desde que se verifiquem os requisitos exigidos.
Podem adoptar plenamente duas pessoas casadas (não separadas judicialmente de pessoas e bens ou de facto) ou em união de facto há mais de quatro anos, se ambas tiverem mais de 25 anos e forem de sexo diferente. Sendo a adopção singular, o adoptante tem de ter mais de 30 anos, excepto se o adoptando for filho do seu cônjuge ou companheiro/a, caso em que basta ter mais de 25 anos. Regra geral, o adoptante não pode ter mais de 60 anos, contados à data em que o menor lhe tenha sido entregue mediante quaisquer etapas prévias ao processo de adopção, e, se este já tiver completado mais de 50 anos de idade, não pode existir uma diferença superior a 50 anos entre a sua idade e a do menor a adoptar.
O menor a adoptar deve ter, em regra, menos de 15 anos à data de entrada do processo no tribunal.
CIV
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigo 36.º, n.º 7
Código Civil, artigos 1586.º; 1973.º; 1977.º; 1979.º; 1986.º; 1988.º e 1989.º; 1992.º–1996.º; 1999.º; 2002.º-B
Decreto-Lei nº 185/93, de 22 de Maio, na redacção da Lei nº31/2003, de 22 de Agosto