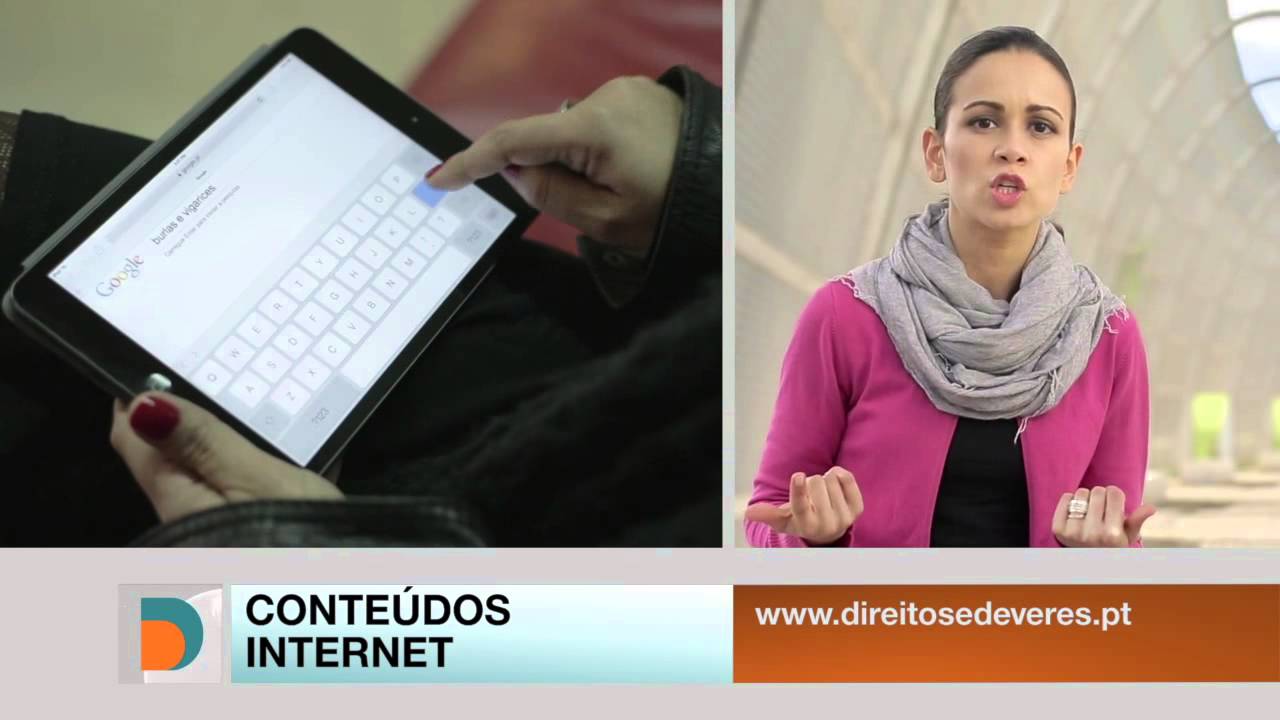Direitos e Deveres
Num mesmo processo criminal é possível — e, aliás, normal — que alguns actos e elementos se encontrem em segredo de justiça e outros não. Por isso, mais do que de «processo em segredo de justiça», deve falar-se de «actos ou elementos processuais em segredo de justiça».
Se um acto processual se encontra em segredo de justiça, é proibido aos meios de comunicação social e a qualquer outra pessoa divulgar o seu teor. Se, pelo contrário, se tratar de um acto não sujeito a segredo ou aberto à generalidade do público, os meios de comunicação social podem narrar aquilo que nele tiver acontecido.
Contudo, mesmo tratando-se de um acto desta natureza, os meios de comunicação social não podem:
- reproduzir documentos incorporados no processo, até à sentença;
- transmitir ou registar imagens ou sons relativos à prática de qualquer acto processual, nomeadamente da audiência;
- publicar a identidade de vítimas de crimes de tráfico de órgãos humanos, tráfico de pessoas, contra a liberdade e autodeterminação sexual, a honra ou a reserva da vida privada;
- publicar conversações ou comunicações interceptadas (por ex., , escutas telefónicas) no âmbito de um processo.
- narrar actos processuais anteriores à audiência de julgamento quando o juiz o tiver proibido por entender existirem factos ou circunstâncias concretas que fazem presumir que a publicidade causaria grave dano à dignidade das pessoas, à moral pública ou ao normal decurso do acto.
O desrespeito pelas proibições referidas faz o infractor incorrer em responsabilidade pela prática do crime de desobediência simples, punível com pena de prisão até 1 ano ou multa até 120 dias.
CRIM
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Código Penal, artigo 348.º
Código de Processo Penal, artigo 88.º
O ambiente e a qualidade de vida estão consagrados como direitos fundamentais tanto na ordem jurídica europeia como na portuguesa. Face a uma sua violação, os moradores têm vários mecanismos de reacção ao seu dispor. No prazo de três anos, poderão — individualmente ou coligados — recorrer aos tribunais para pedir a reparação dos danos causados pela poluição.
Sendo um crime, os moradores também poderão denunciá-lo às autoridades competentes, ou seja, ao Ministério Público, a outra autoridade judiciária ou aos órgãos de polícia criminal, como a Guarda Nacional Republicana ou a Polícia de Segurança Pública. Ao tomar conhecimento do crime, o Ministério Público deverá abrir um processo penal. Se a actividade desenvolvida não for suficientemente grave, os moradores poderão tentar resolver o problema formulando um requerimento escrito junto de um órgão da Administração Pública (junta de freguesia ou município, por exemplo).
Além disso, há o recurso à acção popular a instaurar nos tribunais. Trata-se de um mecanismo jurídico destinado a situações em que um mesmo facto provoca danos a uma pluralidade de cidadãos.
CIV
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, artigos 35.º e 37.º
Constituição da República Portuguesa, artigos 20.º; 52.º; 66.º; 202.º; 268.º, n.º 4
Código Civil, artigos 301.º; 303.º; 483.º; 493.º, n.º 2; 498.º
Código de Processo Civil, artigo 36.º
Código Penal, artigo 279.º, n.º 1
Código de Processo Penal, artigo 241.º
Código de Processo Administrativo, artigos 12.º; 52.º–54.º; 74.º
Lei n.º 83/95, de 31 de Agosto, artigos 12.º e seguintes
Em princípio, não.
O direito da União Europeia, a Constituição e o Código Civil salvaguardam o direito à imagem — ou seja, o direito de uma pessoa não ser fotografada e não ver o seu retrato exposto, reproduzido ou comercializado sem o seu consentimento. Trata-se de um direito fundamental ligado à própria personalidade, pelo que a lei deve protegê-lo, juntamente com o direito à salvaguarda das informações relativas à pessoa e a sua família.
O requisito do consentimento, porém, não é absoluto. Pode dispensar-se quando tal se justificar pela notoriedade pública da pessoa, pelo cargo que desempenhe, pelas exigências da polícia ou da justiça, ou finalidades científicas, didácticas ou culturais. Também se admite a reprodução da imagem pessoal se vier enquadrada em lugares públicos ou na descrição de factos de interesse público ou que tenham ocorrido publicamente. Mesmo em tais casos, a fotografia jamais poderá ser reproduzida, exposta ou lançada no comércio se daí resultar prejuízo para a honra, a reputação ou o decoro da pessoa retratada.
Quem publicar a fotografia ou informações pessoais sem consentimento do próprio e fora dos casos permitidos por lei incorre em responsabilidade civil e/ou criminal.
CIV
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, artigos 7.º e 8.º, n.º 1
Constituição da RepúblicaPortuguesa, artigos 26.º, n.º 1; 35.º, n.º 3; 37.º, n.º 3
Código Civil, artigos 79.º–81.º
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 14 de Junho de 2005 (processo n.º 05A945)
Sim.
O sigilo é um dever fundamental em matéria de protecção de dados, que obriga não apenas os responsáveis pelo tratamento de dados pessoais, mas também quaisquer pessoas que, no exercício das suas funções, tenham conhecimento deles, os membros da Comissão Nacional de Protecção de Dados e os funcionários, agentes ou técnicos que exerçam funções de assessoria a esta entidade, bem como o eventual encarregado da protecção de dados designado pelo responsável pelo tratamento. Todos se mantêm obrigados ao segredo mesmo após termo das suas funções ou mandatos.
Em certos casos — nomeadamente, num processo penal —, o dever de sigilo pode ceder perante o dever de fornecer informações às autoridades. Fora dessas situações excepcionais, porém, constitui crime revelar ou divulgar dados pessoais sem o consentimento da pessoa que tenha legitimidade para prestá-lo (geralmente, aquela a quem dizem respeito). A forma comum deste crime é punível com prisão até 1 ano ou multa até 120 dias. Se houver circunstâncias agravantes (por exemplo, se o agente do crime for um funcionário público ou equiparado, ou um encarregado de proteção de dados), a punição é agravada para o dobro. Por outro lado, tanto a negligência quanto a tentativa são puníveis, embora de modo mais ligeiro.
A obtenção de dados para utilização particular pode envolver a prática de um crime de acesso indevido a dados pessoais, punido com pena de prisão até 1 ano ou multa até 120 dias, as quais são agravadas para o dobro se os dados obtidos forem particularmente sensíveis (como sejam, dados que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as convicções religiosas) ou se o crime for cometido através da violação de regras técnicas de segurança destinadas a assegurar a eficácia da protecção de dados pessoais (como a proibição de entrada de pessoa não autorizada nas instalações onde se realiza o tratamento), ou tiver possibilitado a obtenção de benefício ou vantagem patrimonial.
A referida utilização configurará ainda, provavelmente, um crime de abuso de poder. Este crime consiste em um funcionário (por exemplo, dos serviços secretos) abusar de poderes ou violar deveres inerentes às suas funções com intenção de obter benefício ilegítimo para si ou para terceiro ou de causar prejuízo a outra pessoa. A pena, em regra, é de prisão até 3 anos ou multa até 360 dias.
CRIM
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigos 26.º e 35.º
Código Penal, artigo 23.º, n.º 2; 47.º, n.º 1; 382.º; 386.º
Lei 58/2019, de 8 de Agosto, artigos 8.º, n.º 3, 10.º, 47.º, 51.º, 54.º
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016, artigos 38.º e 54.º
O direito à segurança implica que os cidadãos devem poder viver de forma segura e tranquila, livres de ameaças ou agressões por parte dos poderes públicos e dos outros cidadãos.
As autoridades públicas têm, assim, um duplo dever: não ameaçarem a segurança dos cidadãos e, por outro lado, garantirem essa mesma segurança.
A omissão desta obrigação de garantir a segurança por parte do Estado e, em especial, das instituições públicas que têm essa incumbência — por exemplo, as polícias e os demais corpos de segurança — pode fundamentar um pedido de indemnização pelos danos causados ao cidadão.
CONST
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigos 22.º e 27.º, n.º 1
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 479/94, de 7 de Julho de 1994
Paginação
Os cidadãos não podem colocar directa e imediatamente questões de inconstitucionalidade ao Tribunal Constitucional.
Poderão fazê-lo de duas formas:
- a primeira é apresentar uma exposição ou fazer uma queixa a certas entidades descritas na Constituição, como o Provedor de Justiça; estas, se entenderem que a questão tem fundamento, poderão, elas próprias, apresentá-la ao Tribunal Constitucional(por via da chamada fiscalização abstracta);
- a segundo forma ocorre quando o cidadão é parte num processo judicial (por via da chamada fiscalização concreta). Aí, se entender que uma norma jurídica aplicável no caso é inconstitucional, deve suscitar a questão no processo. Se o tribunal que está a decidir o caso considerar que o cidadão tem razão e que a norma é, de facto, inconstitucional, tem de recusar a sua aplicação, havendo recurso imediato e obrigatório do Ministério Público para o Tribunal Constitucional. Se, pelo contrário, o tribunal considerar que a norma não é inconstitucional, o cidadão deve esgotar todas as vias de recurso e só então recorrer ao Tribunal Constitucional.
CONST
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigos 280.º; 281.º, n.º 2, d); 283.º, n.º 1
Lei n.º 28/82, de 15 de Novembro, alterada pela Lei Orgânica n.º 4/2019, de 13 de Setembro, artigos 70.º e 72.º
Diversos crimes podem ocorrer nessas situações, entre os quais, falsidade informática, contrafacção, uso ou aquisição de cartões ou outros dispositivos de pagamento, sabotagem informática e burla informática. A situação em causa parece corresponder a um crime de falsidade informática.
Pratica um crime de falsidade informática todo aquele que, com a intenção de enganar terceiros, introduzir, modificar, apagar ou suprimir dados informáticos ou interferir por qualquer outra forma num tratamento informático de dados, produzindo dados ou documentos falsos.
O crime é punível com pena de prisão até 5 anos ou multa de 120 a 600 dias.
Porém, a situação é mais grave se os dados em causa forem relativos a um cartão bancário de pagamento ou a qualquer outro dispositivo que permita o acesso a sistema ou meio de pagamento. Nesse caso, a lei prevê ainda diferentes tipos de ilícitos criminais, desde a contrafação, uso, e aquisição de dispositivos de pagamento. No que toca à contrafação, quem, com intenção de provocar engano nas relações jurídicas, contrafizer cartão de pagamento ou qualquer outro dispositivo, corpóreo ou incorpóreo, que permita o acesso a sistema ou meio de pagamento, nomeadamente introduzindo, modificando, apagando, suprimindo ou interferindo, por qualquer outro modo, num tratamento informático de dados registados, incorporados ou respeitantes a estes cartões ou dispositivos, é punido com pena de prisão de 3 a 12 anos. Da mesma forma, quem utilizar cartões contrafeitos, com a intenção de prejudicar outrem ou obter um benefício ilegítimo para si ou terceiro, é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos, podendo os limites mínimos e máximos ser agravados caso o benefício seja de valor consideravelmente elevado. Já no que se refere à aquisição destes dispositivos contrafeitos, a mesma é punida com uma pena de prisão de 1 a 5 anos, caso essa aquisição tenham sido feita com o intuito de prejudicar terceiro ou para obter um benefício ilegítimo. Também os atos preparatórios de contrafação são punidos por lei, igualmente com uma pena de 1 a 5 anos. Se estes crimes forem praticados por funcionários públicos no exercício das suas funções, então o limite mínimo das penas é aumentado, conforme o tipo de ilícito em causa.
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigos 26.º, n.º 2, e 35.º
Código Penal, artigos 221.º; 256.º; 262.º, n.º 1; 267.º
Lei n.º 109/2009, de 15 de Setembro, artigos 1.º–8.º
Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, de 30 de Abril de 2008 (processo n.º 0745386)
Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 9 de Janeiro de 2007 (processo n.º 5940/2006-5)
Podem recorrer a todos os meios de defesa dos seus direitos fundamentais, quer os políticos (Assembleia da República e provedor de Justiça), quer os judiciais (impugnação da decisão governamental nos tribunais).
A Constituição da República Portuguesa declara que «a todos é garantido livre acesso às redes informáticas de uso público». Uma decisão como a descrita violaria este direito à universalidade no acesso às tecnologias da informação. Também a universalidade do direito à educação e cultura seria posta em causa, dado que o Estado, ao realizar este direito, deve contribuir para a «igualdade de oportunidades e a superação das desigualdades económicas, sociais e culturais». Esses valores seriam claramente desrespeitados por uma cobertura territorialmente selectiva de tecnologias difusoras do conhecimento e cultura.
Para contestar a medida ilegal do governo, os cidadãos poderiam desde logo exercer o direito de petição ou de acção popular, segundo o qual «todos os cidadãos têm o direito de apresentar, individual ou colectivamente, aos órgãos de soberania, aos órgãos de governo próprio das regiões autónomas ou a quaisquer autoridades petições, representações, reclamações ou queixas para defesa dos seus direitos, da Constituição, das leis ou do interesse geral e, bem assim, o direito de serem informados, em prazo razoável, sobre o resultado da respectiva apreciação».
CONST
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigos 35.º, n.º 6; 52.º, n.º 1; 74.º, n.os 1–3
Em princípio, não.
Uma tal decisão violaria o seu dever de apoiar a inovação tecnológica, elemento integrante dos direitos fundamentais à educação, cultura e ciência. Aliás, o desenvolvimento da política científica é uma das incumbências prioritárias do Estado no domínio económico.
Apenas em circunstâncias de gravíssimo desequilíbrio financeiro ou noutras circunstâncias excepcionais (por exemplo, estado de sítio ou de emergência) se poderia admitir essa redução drástica no investimento em investigação científica, sabendo o que implicaria em perda de competividade e em estagnação no desenvolvimento económico do país.
Uma vez que tal situação representaria uma violação das normas constitucionais por acção ou omissão, poder-se-ia recorrer ao mecanismo da fiscalização da constitucionalidade das normas legais, por exemplo, se a decisão constar de um decreto-lei. Caso consista apenas numa decisão administrativa (mero regulamento ou despacho), haveria meios de impugnação nos tribunais administrativos e fiscais.
CONST
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigos 73.º, n.º 4; 268.º, n.os 3 e 4; 277.º–283.º
Pode dirigir uma queixa à Comissão Nacional de Protecção de Dados ou suscitar esse problema ao prestador desse serviço (responsável pelo motor de busca), conforme as situações. Pode também pedir ao tribunal que condene a empresa a alterar a situação invocando o seu direito fundamental.
Todos os cidadãos têm direito ao bom nome. Mas para conhecer qual a melhor solução para o caso será necessário saber se o cidadão em causa é efectivamente chamado «burlão» ou «vigarista» num determinado sítio da Internet ou se, pelo contrário, o que acontece é que, sempre que escrevemos o nome do cidadão num motor de busca, somos remetidos para outros sítios da Internet que descrevem situações de burla ou vigarice sem qualquer menção directa e específica a esse cidadão.
Em qualquer caso, ainda que a falsa associação de determinada pessoa a burlas e vigarices possa representar uma ofensa ao seu bom nome e, eventualmente, um crime de difamação, no contexto da Internet, pode não ser fácil identificar (e por consequência responsabilizar) o autor dessa associação, ou das afirmações para as quais se remete.
Por outro lado, e quanto à remoção dos conteúdos ou associações em causa, haverá também duas situações distintas a considerar. Na hipótese de afirmações directamente relacionadas com o cidadão num determinado sítio da Internet, dependendo do tipo de afirmações em causa e do local onde se encontram publicadas, o cidadão pode apresentar uma queixa à Comissão Nacional de Protecção de Dados, para que esta ordene a sua rectificação, eliminação ou bloqueio. Porém, se a associação a burlas ou vigarices resultar do funcionamento de determinado motor de pesquisa, o cidadão pode dirigir-se para o efeito aos prestadores desse serviço de associação de conteúdos ou até à ICP-ANACOM.
Todavia, esta última hipótese só funcionará se o carácter ofensivo das afirmações para as quais se remete for evidente e se os responsáveis pelos motores de busca tiverem conhecimento dessa associação ou se a tiverem promovido. Se a ilicitude não for manifesta, o cidadão pode então dirigir-se à ICP-ANACOM para que esta encontre uma solução provisória no prazo de 48 horas.
Tudo isto não exclui, como se disse, o recurso aos tribunais.
CONST
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigos 26.º, n.os 1 e 2, e 35.º
Decreto-Lei n.º 7/2004 de 7 de Janeiro, alterado pela Lei n.º 26/2023, de 30 de maio, artigos 17.º-19.º, 35.º, 36.º e 39.º
Lei n.º 58/2019, de 8 de Agosto, artigos 4.º, n.º 2, 6.º, n.º 1, al. b), 24.º
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016, artigos 17.º, 57.º, n.º 1, al. f), 58.º, n.º 2, al. g), 85.º