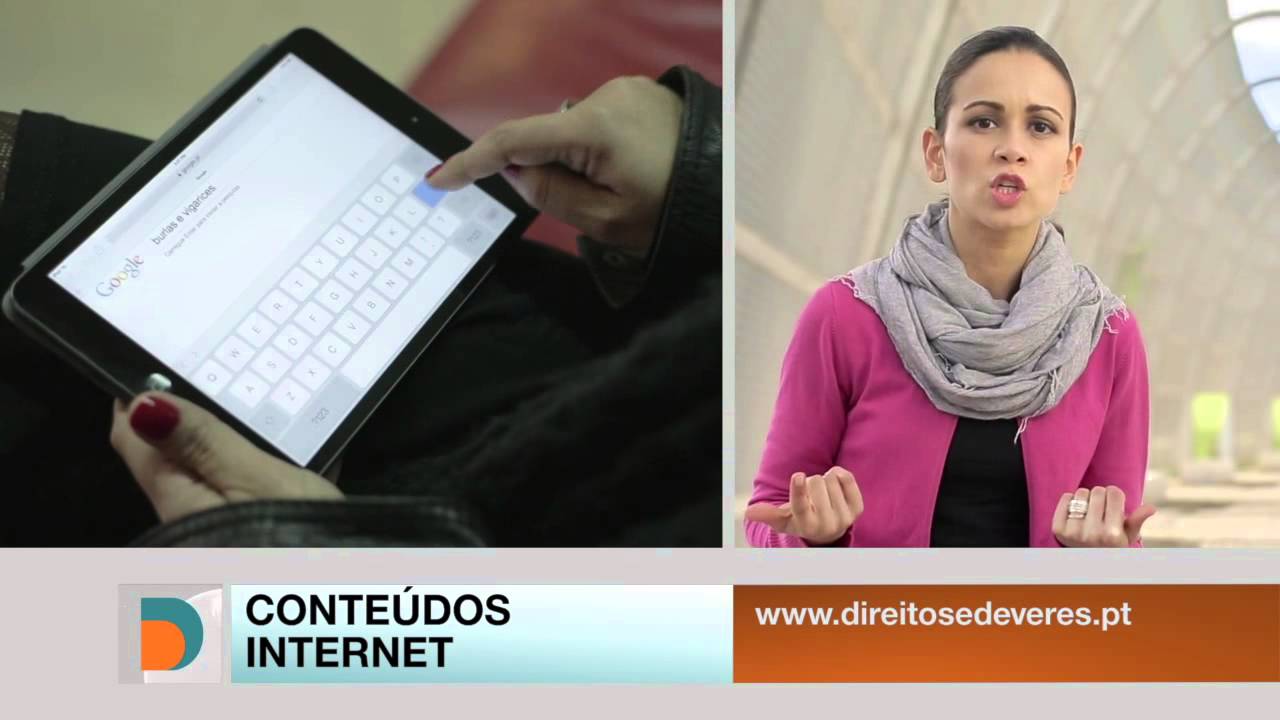Direitos e Deveres
Em princípio, não.
Por regra, os Estados-membros devem admitir no seu território os cidadãos da União Europeia (UE) munidos de um bilhete de identidade ou passaporte válido, além dos membros das suas famílias que, não tendo a nacionalidade de um Estado-membro, estejam munidos de um passaporte válido.
O direito da UE permite, contudo, restrições ao exercício do direito de livre circulação e residência por razões de ordem, de segurança ou de saúde públicas. Estas restrições devem ser proporcionais, além de basear-se exclusivamente no comportamento da pessoa em questão — que deve constituir uma ameaça real, actual e suficientemente grave que afecte um interesse fundamental da sociedade.
Assim, não podem utilizar-se justificações não relacionadas com o caso individual ou baseadas em motivos de prevenção geral. A existência de condenações penais anteriores não pode, por si só, servir de fundamento para impedir a circulação.
No que se refere à saúde, as únicas doenças que podem justificar restrições à livre circulação são as que tenham potencial epidémico, assim definidas pela Organização Mundial de Saúde, bem como outras doenças infecciosas ou parasitárias contagiosas, desde que sejam objeto de disposições de proteção aplicáveis aos nacionais do Estado-Membro de acolhimento. Além disso, a ocorrência de doença três meses depois da data de entrada no território do Estado-membro não constitui justificação para o afastamento.
As pessoas impedidas de circular e permanecer no território de um Estado-membro têm direito a impugnar qualquer decisão que as impeça de circular por razões de ordem, de segurança ou de saúde públicas. Podem apresentar um pedido de levantamento da proibição de entrada no território após um prazo razoável, em função das circunstâncias, e, em todo o caso, três anos após a execução da decisão definitiva de proibição, invocando meios susceptíveis de provar que houve uma alteração das circunstâncias que justificaram a proibição de entrada no território.
CIV
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, artigo 45.º
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, artigo 18.º; 21.º; 45.º, n.º 3
Directiva n.º 2004/38/CE, de 29 de Abril, artigos 5.º, n.º 1; 27.º–32.º
Sim.
Os bancos têm um dever geral de informar os seus clientes ou potenciais clientes quanto a todo e qualquer tipo de serviço que ofereçam. A informação prestada deve ser verdadeira, actual, clara, objectiva, lícita e completa, ainda que feita por remissão para documento acessível aos destinatários.
Para cumprimento deste dever, os bancos têm de prestar ao cliente todas as informações necessárias para que este possa tomar uma decisão esclarecida e fundamentada. Em particular, informação sobre o próprio banco, sobre os diferentes perfis de investidor, sobre a natureza e os riscos do instrumento financeiro em causa, sobre a existência ou não de fundos de garantia ou de protecção equivalente, e sobre os custos do serviço proposto.
A extensão e a profundidade da informação dependem do tipo de investimento proposto, bem como da experiência e conhecimento geral do cliente sobre o investimento no mercado de capitais e da sua capacidade de avaliar o risco associado ao investimento que pretendam realizar. Assim, quanto menor o conhecimento do cliente e/ou quanto maior o risco do investimento proposto, mais detalhada deve ser a informação a prestar pelo banco e mais frequente deve ser a sua prestação.
Para o efeito, os bancos devem começar por classificar os clientes como “investidores qualificados ou profissionais” e “investidores não qualificados ou não profissionais”, informando-os sobre a classificação que lhes tiver sido atribuída e sobre a possibilidade de pedirem que lhes seja atribuída uma classificação diferente.
Os deveres concretos de informação podem depender do tipo de valor mobiliário em causa, e do tipo de operação que o investimento em causa implica. Nesta medida, por exemplo, especificamente quanto a investimentos no âmbito de ofertas públicas de valores mobiliários, a informação necessária para a tomada de decisão dos investidores deve constar de um prospecto, que é divulgado em diversos locais, entre os quais o site da CMVM. Do mesmo modo, existem regras específicas quanto a determinados tipos de valores mobiliários, designadamente quanto a papel comercial, determinados tipos de obrigações, produtos financeiros complexos e participações em organismos de investimento colectivo.
Quando, para além do seu papel de intermediários financeiros, os bancos fazem recomendações de investimento, devem ainda identificar, entre outras coisas, as fontes de informação relevante para a recomendação realizada, o método usado para avaliação do emitente e do instrumento financeiro, o prazo do investimento recomendado, a data e actualização da recomendação.
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Código dos Valores Mobiliários, artigos 7.º, 12.º-B, 12.º-E, 135.º a 148.º, 304.º e 312.º a 317.º-D
Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, artigos 77.º a 77.º-D
Decreto-Lei nº 95/2006, de 29 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 242/2012, de 7 de Novembro
Regulamento (CE) n.º 809/2004 da Comissão, de 29 de Abril de 2004, tal como sucessivamente alterado
Sim.
Os bancos têm um dever geral de informar os seus clientes ou potenciais clientes quanto a todo e qualquer tipo de serviço que ofereçam. A informação prestada deve ser verdadeira, actual, clara, objectiva, lícita e completa, ainda que feita por remissão para documento acessível aos destinatários.
Para cumprimento deste dever, os bancos têm de prestar ao cliente todas as informações necessárias para que este possa tomar uma decisão esclarecida e fundamentada. Em particular, informação sobre o próprio banco, sobre os diferentes perfis de investidor, sobre a natureza e os riscos do instrumento financeiro em causa, sobre a existência ou não de fundos de garantia ou de protecção equivalente, e sobre os custos do serviço proposto.
A extensão e a profundidade da informação dependem do tipo de investimento proposto, bem como da experiência e conhecimento geral do cliente sobre o investimento no mercado de capitais e da sua capacidade de avaliar o risco associado ao investimento que pretendam realizar. Assim, quanto menor o conhecimento do cliente e/ou quanto maior o risco do investimento proposto, mais detalhada deve ser a informação a prestar pelo banco e mais frequente deve ser a sua prestação.
Para o efeito, os bancos devem começar por classificar os clientes como “investidores qualificados ou profissionais” e “investidores não qualificados ou não profissionais”, informando-os sobre a classificação que lhes tiver sido atribuída e sobre a possibilidade de pedirem que lhes seja atribuída uma classificação diferente.
Os deveres concretos de informação podem depender do tipo de valor mobiliário em causa, e do tipo de operação que o investimento em causa implica. Nesta medida, por exemplo, especificamente quanto a investimentos no âmbito de ofertas públicas de valores mobiliários, a informação necessária para a tomada de decisão dos investidores deve constar de um prospecto, que é divulgado em diversos locais, entre os quais o site da CMVM. Do mesmo modo, existem regras específicas quanto a determinados tipos de valores mobiliários, designadamente quanto a papel comercial, determinados tipos de obrigações, produtos financeiros complexos e participações em organismos de investimento colectivo.
Quando, para além do seu papel de intermediários financeiros, os bancos fazem recomendações de investimento, devem ainda identificar, entre outras coisas, as fontes de informação relevante para a recomendação realizada, o método usado para avaliação do emitente e do instrumento financeiro, o prazo do investimento recomendado, a data e actualização da recomendação.
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Código dos Valores Mobiliários, artigos 7.º, 12.º-B, 12.º-E, 135.º a 148.º, 304.º e 312.º a 317.º-D
Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, artigos 77.º a 77.º-D
Decreto-Lei nº 95/2006, de 29 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 242/2012, de 7 de Novembro
Regulamento (CE) n.º 809/2004 da Comissão, de 29 de Abril de 2004, tal como sucessivamente alterado
Pode dirigir uma queixa à Comissão Nacional de Protecção de Dados ou suscitar esse problema ao prestador desse serviço (responsável pelo motor de busca), conforme as situações. Pode também pedir ao tribunal que condene a empresa a alterar a situação invocando o seu direito fundamental.
Todos os cidadãos têm direito ao bom nome. Mas para conhecer qual a melhor solução para o caso será necessário saber se o cidadão em causa é efectivamente chamado «burlão» ou «vigarista» num determinado sítio da Internet ou se, pelo contrário, o que acontece é que, sempre que escrevemos o nome do cidadão num motor de busca, somos remetidos para outros sítios da Internet que descrevem situações de burla ou vigarice sem qualquer menção directa e específica a esse cidadão.
Em qualquer caso, ainda que a falsa associação de determinada pessoa a burlas e vigarices possa representar uma ofensa ao seu bom nome e, eventualmente, um crime de difamação, no contexto da Internet, pode não ser fácil identificar (e por consequência responsabilizar) o autor dessa associação, ou das afirmações para as quais se remete.
Por outro lado, e quanto à remoção dos conteúdos ou associações em causa, haverá também duas situações distintas a considerar. Na hipótese de afirmações directamente relacionadas com o cidadão num determinado sítio da Internet, dependendo do tipo de afirmações em causa e do local onde se encontram publicadas, o cidadão pode apresentar uma queixa à Comissão Nacional de Protecção de Dados, para que esta ordene a sua rectificação, eliminação ou bloqueio. Porém, se a associação a burlas ou vigarices resultar do funcionamento de determinado motor de pesquisa, o cidadão pode dirigir-se para o efeito aos prestadores desse serviço de associação de conteúdos ou até à ICP-ANACOM.
Todavia, esta última hipótese só funcionará se o carácter ofensivo das afirmações para as quais se remete for evidente e se os responsáveis pelos motores de busca tiverem conhecimento dessa associação ou se a tiverem promovido. Se a ilicitude não for manifesta, o cidadão pode então dirigir-se à ICP-ANACOM para que esta encontre uma solução provisória no prazo de 48 horas.
Tudo isto não exclui, como se disse, o recurso aos tribunais.
CONST
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigos 26.º, n.os 1 e 2, e 35.º
Decreto-Lei n.º 7/2004 de 7 de Janeiro, alterado pela Lei n.º 26/2023, de 30 de maio, artigos 17.º-19.º, 35.º, 36.º e 39.º
Lei n.º 58/2019, de 8 de Agosto, artigos 4.º, n.º 2, 6.º, n.º 1, al. b), 24.º
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016, artigos 17.º, 57.º, n.º 1, al. f), 58.º, n.º 2, al. g), 85.º
A lei garante consulta jurídica gratuita ao cidadão em situação de insuficiência económica, para tal devendo apresentar um pedido na plataforma disponibilizada pela Segurança Social para o efeito.
A consulta é concedida para questões concretas nas quais o cidadão tenha um interesse próprio e consiste no esclarecimento sobre o direito aplicável. Pode ainda incluir diligências extra-judiciais que decorram directamente do conselho jurídico prestado ou se mostrem essenciais para o esclarecimento da questão apresentada (por exemplo, a elaboração de uma carta dirigida a um terceiro ou a consulta de um registo oficial).
A consulta pode ser gratuita ou sujeita a uma taxa reduzida, conforme a situação económica do cidadão. No caso de consulta jurídica realizada por profissionais forenses. A nomeação destes é feita pela Ordem dos Advogados, a pedido da Segurança Social.
A consulta jurídica pode decorrer em gabinetes de consulta jurídica criados pelo Ministério da Justiça. É ainda possível que seja prestada por outras entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, mediante protocolo celebrado entre elas e a Ordem dos Advogados, sujeito a homologação pelo Ministério da Justiça.
O cidadão deve averiguar, nomeadamente junto da Ordem dos Advogados ou do Ministério da Justiça, se estes serviços existem na sua área de residência.
TRAB
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigo 20.º, n.º 2
Lei n.º 34/2004, de 29 de Julho, alterada pela Lei n.º 45/2023, de 17 de agosto, artigos 6.º e 7.º, 14.º, 15.º e 22.º
Portaria n.º 10/2008, de 3 de Janeiro, alterada pela Portaria n.º 26/2025/1, de 3 de fevereiro, artigo 1.º
Decreto-Lei n.º 120/2018 de 27 de Dezembro, artigos 4.º e 5.º
Paginação
Embora a Guarda Nacional Republicana (GNR) seja essencialmente uma força de segurança, também pode assumir funções de defesa.
A GNR é um organismo público, ao serviço do povo português, rigorosamente apartidário, definida como «força de segurança de natureza militar», depende normalmente do membro do Governo responsável pela área da administração interna e só exerce funções de defesa em certas situações que a lei prevê.
Em circunstâncias limitadas — tais como o estado de sítio ou o estado de emergência —, pode ser colocada na dependência operacional do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, através do seu comandante-geral. Nessas situações, fica dependente do membro do Governo responsável pela área da defesa nacional no que respeita à uniformização, normalização da doutrina militar, armamento e equipamento.
CONST
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Lei n.º 63/2007, de 6 de Novembro, alterada pela Lei n.º 53/2023, de 31 de agosto, artigos 1.º, n.os 1 e 2; 2.º, n.os 1 e 2; 3.º
Lei n.º 53/2008, de 29 de Agosto, alterada pelo Decreto-Lei n.º 99-A/2023, de 27 de outubro 41/2023, de 2 de junho, artigo 25.º, n.os 1 e 2, a)
As questões criminais que dizem respeito aos militares são julgadas nos tribunais comuns, embora o colectivo de juízes que realiza o julgamento integre um juiz militar.
Somente durante a vigência do estado de guerra podem constituir-se tribunais militares para julgar questões estritamente militares.
CONST
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigo 213.º
Lei n.º 100/2003, de 15 de Novembro, artigos 108.º–116.º
Lei n.º 101/2003, de 15 de Novembro
Decreto-Lei n.º 219/2004, de 26 de Outubro
Portaria n.º 195/2005, de 18 de Fevereiro
O direito à objecção de consciência permite a um cidadão não cumprir determinadas obrigações legais em virtude de convicções de natureza religiosa, moral, humanística ou filosófica.
Tem, primeiro, de tratar-se de um dever que o objector não possa cumprir em virtude de a sua consciência não lho permitir e, segundo, a lei tem de admitir que esse não cumprimento é admissível. Por último, o não cumprimento do dever tem de ser individual e pacífico, não podendo prejudicar gravemente terceiros.
Na parte referente à defesa nacional, a Constituição determina que «os objectores de consciência ao serviço militar a que legalmente estejam sujeitos prestarão serviço cívico de duração e penosidade equivalentes às do serviço militar armado».
Para requerer o reconhecimento do estatuto de objector, o cidadão deve apresentar, na Comissão Nacional de Objecção de Consciência, a declaração de objecção de consciência, que suspende o cumprimento das obrigações militares posteriores a essa data. Pode ainda haver objecção de consciência por outras motivações de natureza ética. Por exemplo, é legítima a objecção de consciência invocada pelos médicos ou outros profissionais de saúde, quando confrontados com a necessidade de atentar contra a vida humana. O próprio Código Deontológico dos médicos consagra esta possibilidade. Situações típicas são as que se prendem com a interrupção voluntária da gravidez.
Os objectores de consciência gozam de todos os demais direitos e estão sujeitos a todos os deveres consignados na Constituição e na lei que não sejam incompatíveis com a condição de objector.
CONST
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 18.º
Convenção Europeia dos Direitos do Homem, artigo 9.º, n.º 2
Constituição da República Portuguesa, artigos 41.º, n.º 6; 276.º, n.º 4
Lei da Liberdade Religiosa, artigo 12.º
Lei n.º 7/92, de 12 de Maio
Lei n.º 173/94, de 25 de Junho
Lei n.º 174/99, de 21 de Setembro
Lei n.º 16/2001, de 22 de Junho, alterada pela Lei n.º 42/2024, de 14 de novembro
Lei n.º 16/2007, de 17 de Abril, alterada pela Lei n.º 136/2015, de 7 de Setembro
Decreto-Lei n.º 191/93, de 8 de Setembro
Decreto-Lei n.º 127/99, de 21 de Abril
Portaria n.º 741-A/2007, de 21 de Junho
Colaborar na defesa da pátria é um dever de todos os cidadãos.
A Constituição afirma que a defesa da Pátria é direito e dever fundamental de todos os portugueses.
Apesar de a defesa da pátria ser um dever fundamental de todos os portugueses, em diferentes diplomas legais surgem referências específicas ao facto de ele incumbir em especial a quem tem a seu cargo a segurança das populações. No Estatuto da Guarda Nacional Republicana, por exemplo, lê-se que «o militar da Guarda cumpre as missões que lhe forem cometidas pelos legítimos superiores, para defesa da Pátria, se necessário, com o sacrifício da própria vida».
A execução da componente estritamente militar da defesa nacional incumbe em exclusivo às Forças Armadas, sendo proibida a constituição de associações ou agrupamentos armados, de tipo militar, militarizado ou paramilitar. Os cidadãos obrigados à prestação do serviço militar podem excepcionalmente ser convocados para as Forças Armadas em tempo de paz, nos termos previstos na lei que regula o serviço militar.
Na defesa da Pátria, o Estado pode determinar a utilização dos recursos materiais e humanos indispensáveis à defesa nacional mediante mobilização e requisição, sujeitando eventualmente as pessoas abrangidas ao regime da disciplina militar. Isso pode abranger a totalidade ou uma parte da população e ser imposto por períodos, por áreas territoriais e por sectores de actividade.
Finalmente, a lei afirma que é direito e dever de cada português a passagem à resistência, activa e passiva, nas áreas do território nacional ocupadas por forças estrangeiras.
CONST
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigos 12.º, n.º 1; 13.º, n.º 2; 273.º e 274.º; 275.º, n.º 1; 276.º, n.º 1
Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de Julho, alterada pela Lei Orgânica n.º 3/2021, de 9 de agosto, artigos 1.º–6.º; 8.º–17.º; 20.º; 22.º; 36.º, n.º 1; 37.º–41.º
Lei n.º 174/99, de 21 de Setembro, artigos 1.º e 11.ºDecreto-Lei n.º 297/2009, de 14 de Outubro
As Forças Armadas compõem-se exclusivamente de cidadãos portugueses. Têm uma organização única para todo o território nacional e devem obediência aos órgãos de soberania competentes. Estão ao serviço do povo português e são rigorosamente apartidárias, pelo que os seus elementos não podem aproveitar-se da arma, do posto ou da função para qualquer intervenção política.
As Forças Armadas são constituídas pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), pelos três ramos das Forças Armadas — Marinha, Exército e Força Aérea — e ainda pelos órgãos militares de comando das Forças Armadas, os quais são o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e os chefes do Estado-Maior dos três ramos. O EMGFA planeia, dirige e controla o cumprimento das tarefas operacionais.
As Forças Armadas asseguram a defesa militar da República, o cumprimento dos compromissos internacionais do Estado português e a participação em missões humanitárias e de paz assumidas pelas organizações internacionais de que Portugal faz parte. Podem ainda ser incumbidas de colaborar em missões de protecção civil, em tarefas relacionadas com a satisfação de necessidades básicas e a melhoria da qualidade de vida das populações, e em acções de cooperação técnico-militar no âmbito da política nacional de cooperação.
CONST
O conteúdo desta página tem um fim meramente informativo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos não presta apoio jurídico especializado. Para esse efeito deverá consultar profissionais na área jurídica.
Constituição da República Portuguesa, artigo 275.º
Lei Orgânica n.º 2/2021, de 9 de agosto, artigos 1.º, n.º 1; 8.º, n.os 1 e 2; 15.º; 16.º, n.º 1
Decreto-Lei n.º 184/2014, de 29 de Dezembro (Lei Orgânica do Estado-Maior General das Forças Armadas)
Decreto-Lei n.º 185/2014, de 29 de Dezembro (Lei Orgânica da Marinha)
Decreto-Lei n.º 186/2014, de 29 de Dezembro (Lei Orgânica do Exército), alterado pelo Decreto-Lei n.º 13/2021, de 10 de fevereiro
Decreto-Lei n.º 187/2014, de 29 de Dezembro (Lei Orgânica da Força Aérea)