
O Fim da Modernidade
Neste ano de 2025, a Europa comemorou o 80.º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial e o começo da época seguinte. A declaração da independência da Áustria, a 27 de abril de 1945, foi um primeiro passo que puseram fim a uma era da história do país e do continente europeu e iniciaram outra. Vistos à distância, esses momentos podem parecer transições suaves e sem atritos, meros itens numa cronologia. É fácil esquecer que em todos eles o futuro ainda estava em aberto, e a extrema turbulência e incerteza do contexto em que foram vividos.
Quando a independência foi declarada em Viena, então ocupada pelos soviéticos, e as pessoas dançaram a valsa «O Danúbio Azul», de Johann Strauss, na Ringstrasse, ao som de uma banda militar soviética, a Segunda Guerra Mundial ainda não tinha terminado.
Um dia depois da independência, a 28 de abril, August Eigruber, líder regional dos nazis na Alta Áustria, ordenou que os combatentes da resistência fossem gaseados no campo de concentração de Mauthausen. Na primeira semana de maio, já após o suicídio de Adolf Hitler, em Berlim, um grupo de homens da Waffen-SS mataram 228 judeus húngaros na pitoresca cidadezinha de Hofamt Priel, na Baixa Áustria.
Para a recém-proclamada república austríaca, o futuro político era tudo menos seguro. Inicialmente, o novo governo provisório apenas foi reconhecido pela União Soviética. Foi preciso esperar por 20 de outubro de 1945 para que, através de uma resolução do Conselho de Controlo Aliado, a Grã-Bretanha, a França e os Estados Unidos reconhecessem o novo Estado. E uma das características fascinantes da refundação da república foi a sua natureza restauradora: no artigo 1.º da declaração de independência de 1945, afirmava-se inequivocamente que não se tratava de um ato de fundação, mas sim de uma «restauração», a ser realizada no «espírito» da constituição de 1920, redigida por uma Áustria derrotada no rescaldo da Primeira Guerra Mundial.
Querendo projetar um caminho para o futuro, as pessoas voltaram-se para o passado. Hoje, ao analisarmos o período de 80 anos que decorreu desde esse momento refundador, à primeira vista parece-nos possível dividi-lo em duas metades muito diferentes. A primeira, desde o fim da Segunda Guerra Mundial até 1989-1990, foi marcada, pelo menos na Europa, por uma paz prolongada, comparável à das décadas de estabilidade geopolítica que se seguiram ao Congresso de Viena de 1814-1815. É difícil imaginar um contraste maior com a instabilidade crónica e a polarização de 1914-1945. O Ocidente, com o apoio dos Estados Unidos, entrou numa era de acalmia política e de crescimento económico. O tempo das lutas de rua, dos golpes de Estado e das experiências autoritárias tinha acabado.
É certo que houve muitos conflitos e violência nesse período, mas a turbulência estava contida por uma estrutura surpreendentemente simples: o sistema de estabilidade bipolar da Guerra Fria, resultante do equilíbrio de poder entre duas superpotências nucleares. Os acontecimentos eram tão imprevisíveis como sempre foram: recordemos as célebres palavras do primeiro-ministro britânico Harold Macmillan quando um jornalista lhe pediu para explicar o que tinha corrido tão mal na crise do Suez em 1956: «Acontecimentos, meu caro, acontecimentos.» O sistema global, porém, era estável.
Tudo isso começou a mudar quando a Guerra Fria chegou ao fim, sendo substituída por uma coisa diferente. De que coisa diferente se trata é uma questão em aberto. Ainda estamos à procura da resposta.
A era em que agora vivemos teve um belo ponto de partida, e não devemos esquecer isso. Em 1989-1990, a dissolução do Bloco de Leste originou uma profunda transformação na estrutura geopolítica da Europa. Surgiu um novo Estado alemão (a Alemanha de 1990 não resultou de uma simples reunificação da antiga Alemanha, era um Estado totalmente novo, com novas fronteiras). E tudo isso aconteceu sem guerra, o que é extraordinário.
A Paz de Vestefália em 1648; o nascimento de um Reich ou Império alemão unificado em 1871; a reorganização da Europa central depois de 1918, nos termos impostos pelos tratados de Versalhes, Saint-Germain-en-Laye, Trianon e Sèvres; a divisão da Europa após 1945 — todas estas transformações foram provocadas por guerras e custaram milhões de vidas. Quando somamos o custo de todas essas guerras, ele traduz-se em 68 milhões de pessoas cujas vidas foram perdidas nesse processo de transformação geopolítica.
Tudo foi diferente em 1989-1990. O sistema de segurança da Europa de Leste, com 40 anos de existência, foi desmantelado, o impasse armado entre o capitalismo e o comunismo foi abandonado, criou-se um novo Estado alemão e pôs-se em causa o equilíbrio de poder no continente europeu — tudo isto sem guerra. A Europa suspirou de alívio e pôde olhar com certo orgulho para o que tinha alcançado.
Foi o que se passou a seguir que viria, realmente, a criar o mundo em que hoje vivemos: a autodestruição da União Soviética, o colapso económico e social da Rússia, as guerras da Jugoslávia, as duas guerras da Chechénia, os ataques do 11 de Setembro, a guerra no Afeganistão, a Guerra do Iraque e os seus ecos prolongados, a crise na Geórgia, a crise financeira global, a crise na Ucrânia, a crise financeira na Grécia, a crise migratória na Europa.
Em vez de entrar em colapso ou de se fragmentar, e ao contrário do que Washington e outras capitais esperançosamente vaticinaram depois do massacre da Praça Tiananmen, a China entrou numa fase de crescimento impressionante. Como salientou Kristina Spohr, uma historiadora da London School of Economics, a implacável repressão de um movimento democrático incipiente pelo governo chinês em 1989 foi tão importante para moldar o nosso presente quanto a queda do Muro de Berlim no final desse mesmo ano.
O mundo carrega hoje a dupla marca das transformações quase simultâneas de 1989 em Pequim e Berlim. O Partido Comunista Chinês manteve-se firme na defesa do sistema de partido único, mas ao mesmo tempo avançou com a integração do país na economia mundial, embora sob algumas condições. Nenhum destes desenvolvimentos tinha sido previsto.
O cientista político George Friedman fez notar que devemos distinguir dois períodos desde 1989. Ao primeiro podemos chamar «pós-Guerra Fria», e estendeu-se de 1990 a 2004-2007. Esse período de pós-guerra foi inicialmente marcado por uma enorme concentração de poder nos EUA. O mundo parecia girar em torno de Washington: vulgarizou-se a expressão «Novo Século Americano» e os líderes militares dos EUA falavam de um «predomínio total de espectro» (full spectrum dominance).
Um documento de trabalho do Exército dos EUA redigido em 1992 defendia que a Operação Tempestade no Deserto constituía o ponto alto de eficácia militar em toda a história da humanidade. Partindo de um resumo simplista de três grandes batalhas — a vitória napoleónica de Ulm em 1805, o ataque alemão à França em 1940 e a Operação Tempestade no Deserto em 1991 —, o texto construía uma narrativa centrada na crescente eficácia. Segundo o autor, que desempenhou funções de comando na Operação Tempestade no Deserto, o estudo dessas batalhas revelou que houve uma aceleração drástica da guerra e uma síntese transformadora das suas componentes operacionais, táticas e estratégicas. A plena integração desses três níveis só teria sido finalmente alcançada na Operação Tempestade no Deserto, graças ao emprego de sistemas de «ataque em profundidade» (deep strike), que permitiram desferir um golpe aniquilador total e tridimensional contra o inimigo, em que todos os teatros operacionais foram analisados e atacados simultaneamente e com igual intensidade.
O mais interessante neste tipo de estudos era o entusiasmo sem limites pela época em que se vivia, uma euforia alimentada pela euforia da vitória. Havia a sensação de que se tinha chegado ao culminar de uma longa evolução histórica. Estava-se no auge da modernidade. A própria história poderia até ter chegado a uma espécie de ponto culminante neste despontar do «Século Americano». Num ensaio influente, e em grande medida mal interpretado, publicado em 1989, o cientista político Francis Fukuyama falou do «fim da história». A sua tese era a de que a locomotiva da história tinha chegado à sua estação terminal.
Foi esta a era do pós-Guerra Fria — mas não durou muito tempo. As catástrofes que se seguiram aos sucessos iniciais da Guerra do Iraque levantaram dúvidas sobre o grau de sucesso dos Estados Unidos no que tocava a traduzir o seu total predomínio militar em conquistas políticas duráveis. Na Rússia, o regime de Vladimir Putin repudiou as políticas de Mikhail Gorbachev e Boris Ieltsin e começou a opor-se aos Estados Unidos, à NATO e à União Europeia.
A liderança chinesa pós-Tiananmen mobilizou-se com uma motivação reforçada para começar a desafiar a ordem geopolítica vigente. As exigências questionáveis de posse sobre algumas ilhas no Mar do Sul da China depressa se viram acompanhadas por uma série de iniciativas destinadas a estabelecer a China como uma grande potência global. E a crescente força e centralidade da economia chinesa, ao atrair uma fatia cada vez maior dos investimentos ocidentais, lembra-nos que o pacto firmado entre o capitalismo e a democracia após 1945 foi um casamento de conveniência, e não a expressão de um vínculo essencial.
No meio de todas essas mudanças, a era do pós-Guerra Fria chegou ao fim. E o que veio depois? Thomas Friedman, colunista do New York Times, propôs uma classificação pouco elegante: o «pós-pós-Guerra Fria». A China tem sido mais clara, caracterizando oficialmente a época atual como a era da «oportunidade estratégica». Os nomes, contudo, não importam. Aquilo que caracteriza a época atual é a emergência de uma verdadeira multipolaridade.
Esta multipolaridade assume muitas dimensões. O facto de os Estados Unidos terem recuado em relação a vários dos seus compromissos internacionais é uma delas. A administração Trump alienou a maioria dos seus parceiros tradicionais. O presidente Donald Trump conseguiu, inclusivamente, azedar as relações com os canadianos, que são provavelmente um dos povos mais amistosos do mundo. Gerou incerteza quanto ao grau de empenho dos EUA na NATO.
Nas relações entre os países, defende uma abordagem exclusivamente orientada por interesses, e pretende instituir uma ordem mundial baseada nas realidades do poder militar e económico. A suposta comunhão de valores entre Estados amigos não tem aqui nenhum papel. Para Trump, tal como para o líder alemão Otto von Bismarck em meados do século xix, os discursos e os protestos dos parlamentares ofendidos são um ruído de fundo irrelevante.
Surgiram novas potências regionais, decididas a afirmar o seu domínio nas respetivas esferas de interesse. À medida que os blocos em que se dividia o mundo do século xx se dissolvem, assistimos a um regresso ao mundo mais volátil e imprevisível do século xix. Nos últimos anos, por exemplo, a «Questão Oriental», que preocupou gerações de estadistas europeus do século xix, ressurgiu sob a forma do aumento da tensão geopolítica entre a Grécia e a Turquia; disputas entre o Egito, a Turquia e outros Estados sobre o futuro da Líbia; conflitos relativamente às exportações de cereais dos portos do Mar Negro; e a linguagem e os gestos conscientemente neo-otomanos do presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
Além disso, com as anexações da Crimeia e de partes do leste da Ucrânia a partir de 2014 e a invasão em grande escala em 2022, a Rússia criou uma crise internacional para a qual ainda não há solução à vista. No entanto, essa invasão, por mais brutal que seja, é apenas a manifestação mais visível de uma guerra mais ampla contra o Ocidente e contra a Europa em particular.
O número de ataques híbridos russos na Europa quadruplicou após a invasão e quase triplicou novamente entre 2023 e 2024. Os sobrevoos ilegais e as intrusões submarinas proliferaram. Com recursos locais ou navios da frota-sombra russa, o Kremlin planeou e realizou missões de sabotagem e subversão, lançando ataques contra transportes, infraestruturas, fábricas e propriedades ligadas a personalidades politicamente importantes, e fez acompanhar essas iniciativas por campanhas de promoção de elementos pró-russos, semeando a confusão, a ansiedade e a tensão em países-alvo. Como explicou, em abril, Sergey Karaganov, um conselheiro político sénior e colaborador próximo de Putin, em entrevista ao canal televisivo Al Arabiya English, o objetivo último do conflito atual é esmagar «a espinha dorsal moral da Europa».
«Não estamos em guerra com a Ucrânia e com os infelizes e estupefactos ucranianos», afirmou Karaganov em junho passado. «Estamos em guerra com o Ocidente.» Se o ataque de Putin à Ucrânia for bem-sucedido, é garantido que haverá no futuro mais provocações e ataques russos.
Por detrás desta agressão, há algo de muito mais profundo do que a mera luta por recursos ou o desejo de reequilibrar as forças entre a Rússia e os seus inimigos. O objetivo é destruir completamente a ordem internacional estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. Daí a importância das alegações falsas segundo as quais a NATO enganou a Rússia ao quebrar a promessa de não se expandir para leste ou de que toda a história das relações ocidentais com a Rússia não passou de um chorrilho de mentiras e promessas quebradas. As narrativas de vitimização por parte da Rússia têm forte impacto na opinião pública interna e, quando projetadas na política internacional, colocam em causa toda a estrutura de tratados e acordos que criaram a ordem do pós-Guerra Fria.
Mesmo se considerado isoladamente, o regime de Putin é uma enorme ameaça à ordem interna e à segurança externa da Europa ocidental. Se tivermos em conta o aprofundamento da sinergia entre Putin e Trump, o caso torna-se ainda mais alarmante. Se por «Ocidente» entendermos uma família de democracias liberais, então a hostilidade de Trump em relação à UE, a sua frieza em relação à NATO e a sua relutância em ver a segurança e os interesses dos EUA como sendo servidos pela solidariedade com Estados com ideais semelhantes aumentam exponencialmente a ameaça de Putin.
Diz-se muitas vezes que Trump representa a queda do neoliberalismo e a rejeição da globalização. Mas faria mais sentido interpretar a relação entre Trump e o neoliberalismo por analogia com a relação entre o estalinismo e o leninismo. A revolução mundial de Vladimir Lenine abriu caminho para o «socialismo num só país» de Josef Estaline, assim como as visões transnacionais e cosmopolitas do neoliberalismo abriram caminho para a abordagem política que aplicará os mesmos princípios (desregulamentação e debilitação dos sindicatos, por exemplo) a um único espaço continental ou nacional.
O novo regime não é exatamente isolacionista, uma vez que está cada vez mais envolvido numa rede de sistemas oligárquicos em todo o mundo. Em Autocracy, Inc., um livro que se tornou um best-seller mundial, Anne Applebaum revela as transferências de capital e os favores recíprocos, a associação entre governos duvidosos e negócios obscuros, que interligam os regimes autocráticos de todas as cores ideológicas em todo o mundo. Trump está envolvido numa teia de corrupção que é transnacional e global.
Em 1991, o sociólogo francês Bruno Latour publicou um ensaio com o interessante título «Nunca fomos modernos». Debruçando-se sobre aquilo que designou como «o ano milagroso de 1989» e, mais especificamente, a queda do Muro de Berlim, Latour propôs que abandonássemos completamente a ideia de sermos ou termos sido «modernos» e, por consequência, toda a fantasia progressista de racionalização, aceleração e controlo que regeu as elites ocidentais desde o século xix. Neste «mundo não moderno em que estamos a entrar […], sem nunca realmente o termos deixado», sugeriu Latour, teríamos de encontrar novas (ou talvez antigas) formas de imaginar o nosso lugar no decurso do tempo e de legitimar os nossos empreendimentos coletivos.
Quer se concorde ou não com Latour, as suas reflexões eram sintomáticas da sensação generalizada de que a sociedade do presente estava a transitar do imaginário orientado para o futuro — próprio da modernidade — para algo mais cíclico, tendo aprendido a humildade pelo colapso dos grandes projetos humanos do passado e maior deferência para com as vozes de supostos anciãos. Não fiquei convencido quando li o ensaio pela primeira vez. Mas, ao longo dos anos, continuei a pensar nessa tese. E realmente parece-me que estamos no fim daquilo a que antes chamávamos a «modernidade».
Para trás ficou a era da industrialização muito acelerada e do «arranque» (como lhe chamou o economista Walt Rostow) rumo a um crescimento demográfico e económico sustentado; a era dos Estados-providência e da prosperidade material (pelo menos no Ocidente); a era dos grandes jornais suprarregionais e da criação dos canais nacionais de rádio e televisão; e a era dos partidos políticos veneráveis, com durabilidade e peso suficientes para servirem de âncora às identidades coletivas. Esta «era moderna» foi mais do que um mero conjunto de instituições; também criou a sua própria mitologia, uma história que podíamos contar a nós próprios, uma forma de nos situarmos no tempo, de compreendermos de onde vínhamos e para onde íamos.
De acordo com a teoria da modernização popularizada na década de 1960, estivemos todos envolvidos num processo de mudança. Os teóricos da modernização imaginavam o presente como um conjunto de vetores. Tornar-se moderno significava tornar-se cada vez mais democrático, criando mais oportunidades iguais. Significava que a família nuclear vencera as redes de parentesco alargado da era pré-moderna; significava o declínio da religião, a burocratização, a penetração cada vez mais profunda da lei em todos os domínios da atividade humana e o Estado constitucional como libertação das relações pessoais de poder do Antigo Regime. E significava a «mediatização»: no mundo da velha Europa, segundo esta teoria, as pessoas obtinham as suas informações de amigos e conhecidos, ou mesmo de estranhos, mas sempre de indivíduos, boca a boca. Nos tempos modernos, em contrapartida, a informação era cada vez mais divulgada através de canais de comunicação influentes — os disseminadores de boatos deram lugar a jornalistas profissionais.
Essa modernidade está a desintegrar-se diante dos nossos olhos. As audiências nacionais da rádio, da televisão e dos jornais, os partidos âncora e de referência para identidades, o crescimento económico como eixo da nossa existência — tudo isso em breve deixará de existir. Na Europa e nos Estados Unidos, o sistema político moderno está a desfazer-se. Partidos veneráveis, com tradições louváveis — o Partido Conservador Britânico e o Partido Republicano nos Estados Unidos —, dissolveram-se numa miríade de fações em conflito e cederam a iniciativa a intrusos populistas. Há um centro fraco e informe que está a ser forçado à defensiva pela esquerda e pela direita, e muitas vezes não é claro quais são as ideias e as exigências que pertencem à direita e as que pertencem à esquerda.
Uma série de aspetos específicos variavam consoante o país e os diferentes meios políticos e sociais, mas na era moderna havia uma história fundadora, uma «grande narrativa», nas palavras do filósofo Jean-François Lyotard, que parecia plausível para a maioria dominante na política ocidental. Era uma história sobre o aumento da prosperidade associada ao crescimento económico, sobre o progresso tecnológico e científico, sobre a universalidade dos direitos humanos e as vantagens indispensáveis de um modelo específico de sociedade liberal democrática.
Essa narrativa de desenvolvimento — a história mundial como um romance de formação (bildungsroman) — já não nos conforta como antes. O crescimento económico, na sua forma moderna, revelou-se ecologicamente desastroso. O capitalismo perdeu muita da sua atratividade; hoje, é até considerado (na linha do economista Thomas Piketty e outros críticos) como uma ameaça à coesão social. E depois há as alterações climáticas, que pairam sobre tudo como uma nuvem negra ameaçadora: uma ameaça que não só põe em causa a natureza do futuro, mas também sugere a possibilidade de que possa não haver futuro algum. A natureza multifacetada da política contemporânea, o presente turbulento e mutável, sem um sentido claro de direção, causa uma enorme incerteza. Todos estes aspetos ajudam a explicar porque ficamos tão facilmente perturbados com as mudanças do presente e porque nos parece tão difícil traçar o nosso caminho.
A incerteza foi exacerbada pelas crises das últimas duas décadas. A crise financeira mundial minou a confiança nas instituições financeiras e nos órgãos governamentais encarregados de as supervisionar. Desde a pandemia de COVID-19, assistimos ao colapso da confiança no conhecimento científico e, consequentemente, na credibilidade das autoridades e dos seus representantes, bem como a um forte aumento do ceticismo em relação aos meios de comunicação social tradicionais. Pode até falar-se de uma inversão do processo de mediatização postulado pela teoria da modernização, no sentido em que os disseminadores de boatos da internet readquiriram o domínio das comunicações e da informação, deixando os especialistas e os jornalistas profissionais em sérias dificuldades para encontrarem a sua audiência. A consequente fragmentação de conhecimento e de opiniões deve-se, em parte, à natureza das novas redes sociais e à forma como as utilizamos, mas também é impulsionada pela manipulação deliberada dessas redes e pela sua polarização intencional.
Chegámos ao ponto em que podemos dizer que a crise do nosso tempo não está apenas a acontecer diante dos nossos olhos, mas também dentro das nossas cabeças. Os gritos de guerra e a argumentação dos demagogos sem freio — ou terribles simplificateurs, como lhes chamou o historiador Jacob Burckhardt —, que querem empurrar-nos de slogan em slogan, de tema em tema, de onda de indignação em onda de indignação, ressoam em sites e feeds de notícias. Nunca foi tão difícil pensar com calma. Mas é precisamente dessa reflexão tranquila, pragmática e aberta que precisamos mais do que nunca.
Oitenta anos depois da sua restauração como república, a Áustria continua constitucionalmente empenhada em respeitar a «neutralidade perpétua». Resta saber como irá manter esse compromisso sob a pressão da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Em determinados aspetos, devido às concessões que foram necessárias para recuperar a soberania total e para afastar as tropas soviéticas em 1955, este é um problema especificamente austríaco.
No entanto, a Áustria não é o único Estado europeu com uma tradição de neutralidade, e a neutralidade pode ser mais do que um estatuto legal ou constitucional — pode ser um estado de espírito.
Vimos como foi difícil para os alemães enfrentar os desafios geopolíticos de um mundo multipolar, apesar do claro alinhamento da Alemanha Federal com o Ocidente durante a Guerra Fria. E a UE, um gigante gentil sem exército e com um aparelho de política externa extremamente subdesenvolvido, ainda não conseguiu responder à ameaça, lançada por Trump, de retirar a garantia de segurança dos EUA. No passado, fazia sentido deixar a questão da segurança europeia a cargo das superpotências nucleares, uma postura passiva incentivada tanto pelos americanos como pelos russos. Não é fácil abandonar velhos hábitos, mas a pressão sobre os decisores está em crescimento acelerado.
Em 1631, quando o rei sueco Gustavo II Adolfo chegou a Berlim à frente de um grande exército em plena Guerra dos Trinta Anos, perguntou ao eleitor de Brandeburgo quais eram as suas intenções. O eleitor disse que pretendia permanecer neutro. O rei, porém, foi inflexível: «Não quero nem ouvir falar de neutralidade. […] Esta é uma guerra entre Deus e o Diabo.» No mundo real — aquele onde vivemos —, não há guerras entre Deus e o Diabo, e as opções são sempre mais numerosas do que os detentores do poder estão dispostos a admitir.
As respostas mais sensatas às espinhosas questões que a história nos coloca nunca foram absolutas. Hoje, porém, há cada vez mais sinais de que estamos perante uma escolha entre a democracia constitucional pluralista e uma série de alternativas autoritárias, desde a chamada democracia iliberal até à violência aberta e ao despotismo arbitrário. Nesta questão existencial, a neutralidade não é uma opção.









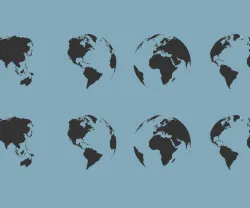
![A humorista Luana do Bem ao lado do politólogo Pedro Magalhães, sobre um fundo cinzento, com os logotipos "Fundação Francisco Manuel dos Santos" e "[IN]Pertinente" ao centro.](/sites/default/files/styles/teaser_small/public/2026-01/INP2026_POLITICA_1_SITE_1280x720_DESTAQUE.png.webp?itok=eh6XTxRK)