
O curto e o longo prazo da liberdade de escolha
O modelo dos contratos de associação foi extremamente importante no passado, tem uma grande relevância no presente mas, tal como existe, não terá futuro a longo prazo. Goste-se ou não desta realidade, este tem de ser o ponto de partida de qualquer debate útil e construtivo acerca dos contratos.
Nos anos 80 e na sequência da transição democrática, que desencadeou um boom no acesso à educação, ficou manifesta a incapacidade do Estado em proporcionar oferta educativa em todo o território nacional. A solução foi a contratualização com escolas privadas, estabelecendo contratos de associação com o propósito exclusivo de garantir uma oferta de serviço público, gratuito e universal nos locais onde não existia cobertura da rede estatal. Hoje, apesar de essa exclusividade ter desaparecido na recente revisão do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, facto é que o pressuposto original se tem esvaziado. Ou seja, mais de 30 anos depois dos primeiros contratos de associação, o Estado chega praticamente a todos os alunos, tanto porque investiu na construção de mais escolas (por vezes até junto de escolas privadas com contrato de associação) como porque a demografia fez baixar o número de alunos no sistema. Consequência: em alguns concelhos, existe duplicação de oferta pública (de um lado através do Estado, do outro lado através dos contratos de associação). Inevitavelmente, nos anos vindouros, esta realidade ampliar-se-á.
Aceitando que essa duplicação de oferta pública representa uma ineficiência na gestão de recursos públicos, a situação comporta dois problemas que requerem solução política. Primeiro, o problema de curto prazo que tem animado o debate público, que consiste em decidir qual das duas escolas fechar. Segundo, o problema de longo prazo, que passa pela redefinição do papel das escolas privadas no sistema de ensino e, em particular, na rede pública, através de mecanismos de liberdade de escolha. Vamos, então, por partes.
- Curto prazo: em caso de duplicação de oferta pública, o que fazer – fechar a escola pública do Estado ou terminar com o contrato de associação?
A cacofonia em que se converteu o debate à volta desta questão tem procurado dar uma resposta definitiva, seja a favor das escolas estatais seja a favor das escolas privadas com contrato de associação. Os argumentos voam em todas as direcções: cálculos sofisticados sobre o valor por turma, longos debates jurídicos, teorias da conspiração sobre a influência da Igreja Católica ou, simplesmente, preconceitos ideológicos que consideram (erradamente) que as escolas são melhores ou piores em função de o proprietário ser o Estado ou um privado. Ora, nenhum desses argumentos responde adequadamente à questão – não se deve manter uma escola aberta só porque pertence ao Estado ou só porque permite gerar uma poupança maior.
Assim, a única resposta que me parece possível, partindo do pressuposto que o debate tem em vista o interesse dos alunos, é bastante mais simples: em caso de duplicação, preserve-se a escola que melhor serve a comunidade onde se insere, seja essa escola estatal ou privada com contrato de associação. Ou seja, havendo duplicação, fechem-se as escolas estatais e privadas que, de um ponto de vista educativo, fazem menos falta. De facto, nenhum critério é mais importante do que o da qualidade e da satisfação de uma comunidade com a sua escola. Qualquer solução que siga outro critério (financeiro, ideológico, corporativo) implica, por definição, o risco de encerrar a escola que melhor serve os alunos – e, do ponto de vista da missão do sistema educativo, isso é inaceitável. Devia ser óbvio. Infelizmente, o actual debate demonstrou que não o é.
A aplicação deste critério não é sempre linear. Nuns casos, é relativamente simples de aplicar. Por exemplo, no caso de Santa Maria da Feira, que o governo usou e sobre o qual escrevi um artigo de opinião no Observador, é evidente a preferência da comunidade pela escola com contrato de associação, ao ponto de deixar praticamente vazia a escola pública do Estado que se localiza nas suas imediações. Como tal, nessa circunstância, deve ser a escola estatal a fechar portas. O contrário seria, de resto, absurdo: obrigar a comunidade a matricular os seus jovens na escola que, enquanto tiveram escolha, deliberadamente rejeitaram. Noutros casos, aqueles em que uma bipolarização tão evidente na comunidade não se verifique, a decisão deve resultar de uma avaliação, por parte das autoridades do ministério da educação, que pondere uma série de indicadores, como o projecto educativo, o papel da escola nessa comunidade, os desempenhos dos alunos, entre outros. Ou seja, não deve ser uma decisão cega e precipitada, mas uma que resulte de um processo atempado e aprofundado para cada caso concreto.
Isto dito, fica claro que a decisão do actual governo – suspender contratos de associação sempre que exista duplicação de oferta pública – tem de ser questionada a dois níveis. Primeiro, porque opta sempre pela manutenção das escolas estatais, sem nunca ter em conta a qualidade do serviço educativo prestado, dispondo-se a encerrar contratos em escolas que poderão servir melhor os alunos de determinado concelho. Segundo, porque toma a decisão num curto espaço de tempo, em cima da preparação do próximo ano lectivo, sem avaliar devidamente, caso a caso, as consequências da sua decisão – para os alunos, para os professores, para os vários profissionais e para a comunidade em que a escola se insere.
- Longo prazo: deve haver escolas privadas na rede pública?
A questão de fundo neste debate está em avaliar se vale a pena o Estado envolver escolas privadas na rede pública, na óptica de proporcionar liberdade de escolha às famílias. E, em caso afirmativo, se os contratos de associação são o modelo adequado para tal objectivo. Em relação à primeira parte dessa questão – se compensa incluir escolas privadas na rede pública –, no caso português, eu diria que sim por uma razão em particular: quando implementada correctamente, torna-se um instrumento eficaz de combate à segregação social.
Portugal tem uma percentagem elevadíssima de alunos que pagam propinas em escolas privadas (i.e. independentes) e uma percentagem baixa de alunos matriculados em escolas privadas com financiamento público (gráfico 1). Por exemplo, no ensino secundário (ISCED 3), 17% dos alunos portugueses frequenta escolas privadas independentes (i.e. que cobram propinas), um valor quatro vezes superior à média da UE21. Em sentido contrário, apenas 5% dos alunos portugueses no secundário frequenta escolas privadas com financiamento público (i.e. sem propinas), um valor três vezes inferior à média da UE21. Esta disparidade portuguesa não é um pormenor, mas sim reflexo de segregação social no sistema educativo: apenas as famílias com perfil socioeconómico mais elevado podem pagar para aceder ao ensino privado, escolhendo as escolas e os projectos educativos que melhor se ajustam às necessidades dos seus filhos. Ou, na fórmula tão tragicamente popular no debate público, quem quer escolher que pague – e quem não puder pagar que se aguente sem escolher.
Ora, esta situação de injustiça social, que tem implicações para o percurso escolar de um aluno e, consequentemente, para a sua vida adulta, pode ser atenuada através da inclusão de escolas privadas na rede pública, passando estas a ser financiadas pelo Estado e ficando comprometidas com a prestação de serviço público (obviamente, sem possibilidade de seleccionar ou excluir alunos). O objectivo é, naturalmente, possibilitar a todos o acesso a uma escola com um projecto educativo distinto, mesmo que privada – daí que a melhor forma de implementar este modelo de financiamento seja dar privilégio aos alunos mais desfavorecidos, já que os restantes terão mais meios próprios para exercer a sua escolha. E, de facto, os dados do PISA da OCDE apontam para que, nos países onde há mais financiamento público a escolas privadas, as diferenças sociais entre as escolas estatais e as escolas privadas sejam aligeiradas (gráfico 2).
Como financiar? Existem diversos mecanismos de financiamento público à frequência dos alunos nas escolas privadas e, em Portugal, os dois contratos que abrangem mais alunos são os contratos de associação e os contratos simples (gráfico 3). Focando a atenção apenas nos contratos de associação, que é principal mecanismo de financiamento público a privados, é perceptível que o número de alunos abrangidos tem vindo a diminuir consistente e significativamente, tanto com governos PS como com governos PSD-CDS. De resto, a verba orçamental atribuída aos contratos de associação diminuiu acentuadamente nos últimos anos, incluindo sob a governação PSD-CDS (gráfico 4), o que demonstra como, lentamente, os contratos de associação têm caminhado para a sua extinção.
Assim chegamos à segunda parte da questão: se faz sentido incluir privados na rede pública, são os contratos de associação o modelo apropriado? Se somarmos a natureza jurídica dos contratos de associação (criados para substituir o Estado nas localidades que a rede estatal não cobria) aos dados quantitativos acima, torna-se evidente que, tal como existe, o modelo dos contratos de associação teve passado e tem indirectamente presente no âmbito da liberdade de escolha da escola – mas já não terá futuro.
Ao longo de anos, a duplicação de oferta pública converteu os contratos de associação num meio informal de liberdade de escolha na educação, na medida em que essa duplicação permitiu aos pais optar entre duas escolas públicas, uma estatal e outra privada com contrato de associação. Esse foi, é certo, um efeito colateral – os contratos de associação não foram originalmente celebrados para oferecer liberdade de escolha às famílias e, em boa verdade, estão reféns do seu desígnio inicial de substituir o Estado onde a rede estatal não cobria. Mas, mesmo que efeito colateral, facto é que proporcionaram uma escolha que as famílias apreciaram, permitindo-lhes, em determinados casos, propiciar aos seus filhos o serviço educativo que ambicionavam mas que, sem apoio do Estado, nunca poderiam pagar. Esse papel tem de ser valorizado e, com a diminuição dos contratos de associação, esse vazio crescente deve ser preenchido.
A grande questão é como fazê-lo sem comprometer os objectivos de, simultaneamente, dar liberdade de escolha e combater a segregação social. As opções são várias e com muitas nuances – abrir a rede pública às escolas privadas que quisessem entrar (com que regras e requisitos?) e reforçar os contratos simples (numa lógica de uma espécie de cheque-ensino universal ou dirigido aos mais desfavorecidos?). É, pois, uma questão em aberto e acerca da qual seria interessante reflectir, sem perder de vista a premissa inicial: a liberdade de escolha da escola só cumpre o seu desígnio quando se destina, em primeira instância, a apoiar os alunos desfavorecidos que, sem esse apoio, não teriam meios próprios para exercer a sua escolha. É isso que importa e deve ser esse o foco.
Alexandre Homem Cristo coordenou Escolas para o Século XXI
O acordo ortográfico utilizado neste artigo foi definido pelo autor


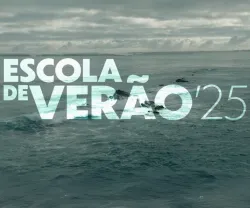
![Imagem da dupla do [IN]Pertinente Sociedade, composta por Hugo van der Ding e Mónica Vieira](/sites/default/files/styles/teaser_small/public/2025-06/INP_SOCIEDADE_1280x720.png.webp?itok=roeftykF)