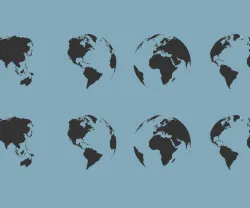Mudar regimes tem sido uma aposta arriscada para os EUA
Este é 13º artigo da «Foreign Policy», publicado pela Fundação em parceria editorial com esta revista internacional. Um texto escolhido por Bruno Cardoso Reis, professor no ISCTE-IUL, para quem «a ideia de libertar países pela força é evidentemente muito arriscada e de legalidade duvidosa».
Os Estados Unidos são o país que mais intervenções externas liderou para impor mudanças de regime. Calcula-se que tenham derrubado 35 governos estrangeiros nos últimos 120 anos. Este recorde assenta numa combinação perigosa de forte poder militar e um grande número de atores considerados inimigos — além de uma excessiva autoconfiança que se tem revelado sistematicamente errada.
Ninguém se tem mostrado mais tentado a recorrer às forças armadas e à economia mais fortes do mundo para vencer discussões, conquistar territórios, derrotar adversários e intimidar aliados do que Donald Trump. Neste momento, Washington tem em curso uma campanha militar e dos serviços secretos cada vez mais intensa contra o presidente Nicolás Maduro, da Venezuela, depois de já ter atacado o Irão e o Iémen e de ter ameaçado, de forma mais vaga, a Nigéria, o México, o Panamá e mesmo a Dinamarca e o Canadá.
O derrube de líderes de outros países é uma tática suficientemente frequente para ter direito a uma sigla específica entre os académicos: FIRC, ou foreign-imposed regime change (mudança de regime imposta pelo estrangeiro).
De acordo com um levantamento realizado por Alexander Downes, professor associado e cientista político da Universidade George Washington e autor do livro Catastrophic Success: Why Foreign-Imposed Regime Change Goes Wrong (Sucesso Catastrófico: Porque Falham as Mudanças de Regime Impostas pelo Estrangeiro), entre 1816 e 2011, os Estados Unidos foram responsáveis por cerca de um terço das 120 destituições forçadas de líderes por uma intervenção externa em todo o mundo.
As mudanças de regime e outras intervenções violentas raramente correm de acordo com os planos. Pela sua parte, algumas das ameaças agora lançadas por Trump — como entrar «aos tiros» na Nigéria, onde há grupos extremistas armados e fortes conflitos étnicos e sectários — têm tudo para correr muito mal. Os fracassos do passado deveriam servir para recordar os americanos de que a arrogância pode ter consequências catastróficas, seja para os indivíduos, seja para os Estados.
Veja-se o caso da mudança de regime estrangeiro n.º 34, imposta pelos EUA ao Iraque, cujo resultado eu pude testemunhar numa série de patrulhas militares que acompanhei como repórter em Bagdad, em maio de 2006.
Três anos depois de os Estados Unidos terem derrubado Saddam Hussein com base em alegações falsas sobre a existência de armas de destruição maciça no Iraque, não havia sinais da vaga de democratização que a equipa do presidente George W. Bush vaticinara para o Médio Oriente. Pelo contrário, quando as acompanhei, as patrulhas da 10.ª Divisão de Montanha tinham-se convertido num serviço de remoção de cadáveres. Todas as noites, recolhiam e transportavam os cadáveres de iraquianos que outros iraquianos deixavam abandonados nas ruas e nas calçadas de Bagdad.
Os mortos, na sua maioria jovens, alguns com as mãos estendidas no ar em choque ou amarradas atrás das costas pelos seus assassinos, foram vítimas de uma guerra civil sectária que a administração Bush não antecipou. Derrubar o governo sunita de Saddam e as suas forças de segurança foi uma tarefa fácil para as Forças Armadas dos EUA. Não se pode dizer o mesmo relativamente à luta pelo poder entre as milícias xiitas iraquianas, apoiadas pelo Irão, e os grupos revoltosos sunitas, nascidos do vazio de segurança que se seguiu à intervenção norte-americana. O desenrolar dos acontecimentos acabou por deixar o Irão mais forte, além de ter criado as condições para o surgimento do Estado Islâmico enquanto ameaça global. Há tropas americanas na região até hoje.
Muito tempo depois de as forças americanas terem expulsado Saddam, os cidadãos iraquianos ainda sentiam na pele as consequências dessa intervenção. Todos os dias, enfrentavam sequestros, torturas e assassínios, carros armadilhados, bombas suicidas, entre outros ataques.
Certa noite, em Bagdad, as tropas americanas foram atingidas por uma bomba de fabrico artesanal. A explosão deixou alguns dos jovens soldados a coxear ou atordoados. Já um motorista iraquiano que circulava ali perto foi atingido na cabeça e morreu.
Naquela noite, Will Shields, o segundo-tenente de 23 anos que liderava a patrulha, dirigira-se a um posto da polícia de Bagdad — uma das forças de segurança controladas pelos xiitas que os Estados Unidos tinham criado para impor a ordem no Iraque. Entre exortações e negociações, Shields incitou os polícias xiitas assustados a saírem dos seus gabinetes para, sob a proteção americana, ajudarem a patrulha dos EUA a recolher os corpos daquela noite durante o tempo que fosse necessário.
«Vocês têm noção de que é o vosso trabalho?», perguntou o frustrado tenente norte-americano à polícia iraquiana naquela noite. «Como é que podem esperar que os americanos façam alguma coisa, se vocês não fazem nada?»
A dimensão dos assassínios com motivações sectárias impediu que fossem atribuídos nomes e histórias de vida aos mortos iraquianos, reduzindo-os a uma sucessão de ferimentos, registados pelos soldados enquanto atiravam os corpos para dentro dos veículos de caixa aberta.
O caso da Venezuela representa o regresso a uma longa tradição de interferência dos EUA na América Latina. Segundo a investigação de Downes, cerca de 20 das 35 mudanças de regime apoiadas pelos EUA ocorreram na América Central, na América do Sul ou nas Caraíbas.
Em alguns desses países, os governantes foram sucessivamente afastados e substituídos pelos Estados Unidos, numa cadência digna de quem sacode uma máquina de venda automática para que caia o chocolate certo. Só em 1954, por exemplo, Washington D.C. destituiu três líderes guatemaltecos.
A nível mundial, um terço de todas as quedas forçadas de regime resultaram, nos dez anos seguintes, em guerras civis no país intervencionado, concluiu Downes.
Um caminho frequente rumo ao desastre é o que se verifica quando os regimes entram em colapso total, deixando as forças de segurança armadas, insatisfeitas e desnorteadas. Outro rumo desastroso frequente é quando as potências estrangeiras colocam no poder um novo líder, o qual é obrigado a uma tremenda ginástica para ir ao encontro de prioridades diversas do seu povo e da potência estrangeira que o colocou no poder.
«O grande problema das mudanças forçadas de regime é a tendência para não se pensar no que vem depois, não se saber qual é o plano para o futuro», afirmou Downes. «E é incrível a frequência com que isso acontece», acrescentou. «Os países continuam a interferir e, das duas, uma, ou não pensam no que vai acontecer a seguir ou acreditam... que as coisas vão ser diferentes naquele caso.»
De acordo com as estatísticas, as mudanças forçadas de regime têm mais hipóteses de conseguir levar a uma democracia consolidada se ocorrerem em países com prévia experiência democrática, que sejam economicamente prósperos e tenham uma população relativamente homogénea, como o Japão ou a Alemanha no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, concluíram Downes e os seus colegas de investigação.
Quando esses critérios não se verificam, surgem situações como o regresso ao poder dos talibãs no Afeganistão ou a ascensão da República Islâmica depois de os Estados Unidos e o Reino Unido terem ajudado o xá do Irão, afastando o seu adversário político. Após duas décadas de assassínios e rebeliões, o Iraque alcançou um certo grau de estabilidade, mas o custo de todo o processo assustou os restantes países da região, tornando-os ainda mais relutantes em relação a eventuais experiências democráticas. Alguns especialistas veem com alarme qualquer tentativa de impor uma mudança de regime na Venezuela, um país produtor de petróleo onde a má governação do autocrata socialista Maduro e do seu antecessor Hugo Chávez, agravada pelas sanções internacionais, destruíram a economia e criaram milhões de refugiados.
A administração Trump acusou Maduro de ligação ao tráfico de droga, mas os Estados Unidos exageram o papel da Venezuela no contrabando de droga para os Estados Unidos. Para reforçar a presença militar, Washington enviou o seu maior porta-aviões para a região. Dezenas de pessoas foram mortas em ataques norte-americanos contra lanchas que, segundo os Estados Unidos, mas sem que tenham sido apresentadas provas, transportavam droga.
A administração Trump tem sido vaga quanto às intenções dos EUA, nomeadamente se pretendem usar a força para expulsar Maduro (que manipulou as eleições para se manter no poder), ou se, com as suas ações militares — como os ataques aéreos —, visam encorajar os venezuelanos a tratarem eles mesmos do assunto.
A estratégia mais pacífica que caracterizou o primeiro mandato de Trump — com imposição de sanções financeiras para aumentar a pressão sobre Maduro e a proposta de um acordo de partilha de poder para facilitar a sua saída — não serviu, ao contrário do que se esperava, para capacitar a oposição venezuelana. Neste novo mandato, Trump optou por recorrer a meios militares e à CIA, seja para assustar Maduro, levando-o a abandonar o poder, seja mesmo para o forçar a sair de cena.
«Já vimos este filme antes», declarou Jacqueline Hazelton, especialista no tema do impacto político do poder militar e anteriormente professora do Naval War College, hoje editora da revista International Security, segundo a qual este tipo de intervenções costuma desencadear o choque violento entre fações.
A Venezuela tem uma oposição democrática forte e motivada, liderada por Maria Corina Machado, galardoada com o Prémio Nobel da Paz em 2025. Porém, Maduro dispôs de vários anos para reforçar e diversificar o seu domínio sobre as instituições do país. Corina Machado não tem capacidade para quebrar esse domínio e reprimir adversários, disse ainda Hazelton.
Como argumento em prol de uma intervenção dos EUA na Venezuela, os seus defensores invocaram a 31.ª mudança forçada de regime liderada pelos EUA, ocorrida no Panamá em 1990, em que o governo militar foi substituído por um governo democrático.
O Panamá, no entanto, é um país muito mais pequeno do que a Venezuela, quer em território, quer em população, e estava aí baseado um contingente militar dos EUA, o que não acontece na Venezuela, observou Downes.
Os defensores da intervenção dos EUA na Venezuela têm-se esforçado por responder a quaisquer dúvidas sobre esta opção. Ao ponto de um escritor da oposição venezuelana, defensor da intervenção dos EUA, ter rejeitado que seja apropriado usar a expressão «mudança de regime», no caso do seu país.
Maduro chefia uma rede criminosa de tráfico de drogas, por isso não se trata de derrubar um governo legítimo, disse-me Walter Molina, que fugiu da Venezuela de Maduro e vive agora em Buenos Aires. Molina e outros opositores ao regime consideram que a Venezuela tem um governo eleito, liderado pelo candidato da oposição, o qual, segundo os Estados Unidos e outros países, venceu as eleições presidenciais de 2024, mas que foi posto de lado por Maduro, e que aguarda as condições para regressar.
Qualquer intervenção dos EUA servirá «para respeitar a vontade do povo venezuelano», declarou Molina.
Até pode ser verdade — talvez a conjugação entre o desagrado interno face à má governação de Maduro e uma intervenção forte do exterior sejam suficientes para derrubar um autocrata e instaurar a democracia. A incerteza, contudo, é suficiente para justificar cautela. O mundo, aliás, já assistiu mais vezes a este tipo de abordagem, como quando Dick Cheney, então vice-presidente dos EUA, declarou que as forças armadas norte-americanas seriam «recebidas como forças de libertação» no Iraque.
Sobre a imposição de mudanças de regime em países terceiros, Downes comentou: «É tentador simplesmente avançar, dizendo: “Bem, aconteça o que acontecer, não pode ser pior do que está”. Só que isso por vezes não é verdade.»








![A humorista Luana do Bem ao lado do politólogo Pedro Magalhães, sobre um fundo cinzento, com os logotipos "Fundação Francisco Manuel dos Santos" e "[IN]Pertinente" ao centro.](/sites/default/files/styles/teaser_small/public/2026-01/INP2026_POLITICA_1_SITE_1280x720_DESTAQUE.png.webp?itok=eh6XTxRK)