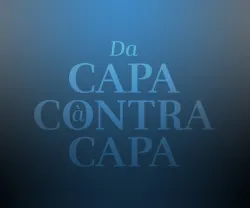As redes sociais são feitas para serem cada vez mais viciantes
O uso que as crianças e jovens fazem das novas tecnologias assustam-no?
Assustam-me quando não são supervisionados e não me assustam quando são utilizados para melhorar o desenvolvimento das crianças. Esse é o aspeto que a tecnologia tem: a forma como se usa pode ter um efeito facilitador, construtivo, ou pode ser inibidor e destrutivo. Quando se trata de crianças, muita da interação é mediada pelos pais e isso vai ditar que tipo de experiência é proporcionada.
A orientação dos pais é decisiva mal as crianças começam a usar as novas tecnologias?
É sempre. As indicações americanas e da Organização Mundial de Saúde dizem que antes dos dois anos não deve ser utilizado qualquer ecrã de proximidade. Ainda não se sabe muito bem o impacto ao nível do desenvolvimento da arquitetura neuronal e, na dúvida, não se está a arriscar. A partir daí, as indicações são para o uso de 30 minutos entre os dois e os cinco anos, mas obrigatoriamente mediado por um adulto. A criança não deve, não pode ficar sozinha na experiência interativa com o ecrã entre os dois e os cinco anos de idade.
A função do adulto serve para ajudar a selecionar o que se vê ou para um controle de tempo, por exemplo?
Serve para muitas coisas, como a questão do controle da utilização, mas também da escolha dos conteúdos e da tradução daquilo que a criança está a ver, de forma a que tenha um entendimento que faça sentido para a sua experiência.
Tem defendido publicamente que o tema das novas tecnologias é complexo e que deve ter respostas flexíveis e menos restritivas...
Sim. A nossa equipa no PIN (Núcleo de Intervenção no Comportamento Online) tem muito essa visão – que é corroborada por várias investigações pelo mundo inteiro – de que a proibição vai conduzir a um artificialismo e a um não aproveitar de oportunidades. Somos muito mais a favor de uma utilização regrada, com limites, construtiva e promotora de desenvolvimento do que de uma proibição.
Em vez de se restringir, quais podem ser as alternativas corretas?
Desde o primeiro contacto com os ecrãs, incluindo até a televisão, deve passar-se um conjunto de mensagens extremamente importantes. A primeira é a de que estes meios não podem ser os únicos meios de entretenimento; os únicos meios de informação, os únicos meios de relacionamento com familiares e com amigos e colegas. Nunca podem ser exclusivos. A outra componente, tem a ver com o limite de tempo: nunca pode ser uma experiência muito demorada, porque vai limitar o envolvimento noutro tipo de experiências, igualmente promotoras do desenvolvimento.
Neste momento que projetos estão a ser desenvolvidos pelo PIN?
Estamos a desenvolver um videojogo que será uma experiência de sensibilização para os jovens e para os riscos da utilização excessiva dos videojogos, que se pode transformar numa adição.
Outra iniciativa que está a arrancar e que vai ser lançada na primeira escola é um questionário para avaliarmos qual a postura dos pais relativamente à utilização dos ecrãs nas crianças do pré-escolar. E isto é uma coisa relativamente nova, porque a maior parte das investigações centram-se muito na adolescência ou na idade escolar e pouco existe nestas idades dos três aos cinco ou seis anos.
Nessas idades são os pais que, para conforto próprio, acabam por exagerar nas tecnologias que dão aos filhos?
Muito verdade. Nessa altura, há claramente uma responsabilidade dos pais na utilização desregrada. Depois, à medida que a criança vai crescendo e aumentando a sua autonomia, vai sendo a própria criança, o próprio jovem, a ser responsável pela utilização indevida. Mas nas idades do pré-escolar, no momento mais importante do ponto de vista preventivo, os pais desempenham um papel fundamental.
Em que consiste esse questionário que vão fazer através das escolas?
O questionário deriva de uma investigação feita nos EUA e foi adaptado à população portuguesa. Vamos bater à porta das escolas, aos pais do pré-escolar, para lhes perguntar como é que eles se posicionam em relação ao tempo do ecrã; à frequência de uso, ao tipo de conteúdos que facilitam e, finalmente, até que ponto é que há um envolvimento relacional, de pais e filhos, na utilização destas experiências. Ou seja, a ideia é perceber quando é que a criança é deixada sozinha ou quando o pai ou a mãe intervém e participam ativamente na experiência do ecrã.
E depois o que é que vão fazer com essas respostas?
Depois vamos compará-las com uma amostra aqui dentro do PIN, em que vamos fazer a mesma pergunta a pais de crianças dos três aos cinco anos. Mas estas crianças têm uma característica diferente das crianças da escola que nós vamos abordar. É que estas crianças são todas do espectro do autismo. O que vamos à procura [neste estudo] é saber como é que os pais de grupos normativos se assemelham ou se distinguem de pais com crianças com fortes mecanismos de desregulação emocional. E perceber se o telefone serve o propósito da regulação emocional, propriamente dito.
Para os adolescentes, além dos videojogos, têm mais algum projeto entre mãos?
Temos a intenção de organizar grupos terapêuticos, grupos de jovens que partilham da mesma condição de adição [aos videojogos, gaming disorder] e fazer uma intervenção a nível de grupo, para além da individual que já fazemos.
Há muitos jovens portugueses com essa condição?
Sim, portugueses e mundiais. Aquilo que se nota é que houve um aumento, sobretudo após a pandemia. Antes da pandemia, acreditava-se que a incidência do «gaming disorder» andava ali entre os 0,5% e 2% da população que joga videojogos, que no total ronda os 3,5 mil milhões no mundo. Agora depois da pandemia essa prevalência, na Europa e nos EUA, subiu para entre 1% e 3%.
Perante esses números quando é que deve começar-se a ter telemóvel ou smartphone?
É fundamental distinguir telemóvel de smartphone. Estamos a falar de dois instrumentos diferentes que podem ser introduzidos na vida da criança e jovem em momentos diferentes, para servirem necessidades diferentes. Uma criança que entra no 2º ciclo, que já tem mais aulas, tem maior autonomia na sua deslocação para a escola, tem mais necessidade de estar em contato com pessoas-chave. E, portanto, a partir da entrada do 2º ciclo, 10 ou 11 anos, o telemóvel parece uma solução muitíssimo interessante.
Quando as necessidades sociais crescem, por volta da entrada do 3º ciclo, será uma boa altura para introduzir o smartphone com a ligação à internet e todas as potencialidades que ele traz.
Além dos videojogos, as redes sociais também têm muitos riscos?
Sim. Hoje só existe o diagnóstico de adição aos videojogos, o tal gaming disorder, e também existe a adição ao jogo a dinheiro. Ainda não existe o social media disorder ou social media addiction, apesar de já ser falado e referido pelas famílias, que se queixam muito. Já vai sendo sugerido, em publicações, essa adição às redes sociais, mas ainda não está formalmente identificada como tal.
Acredita que em breve essa adição das redes sociais pode ser identificada como um problema de saúde como sucede com o game disorder?
Acredito que se vai caminhar nessa direção. Sobretudo pela forma como as redes sociais têm vindo a ser construídas. A sua arquitetura tem mudado no sentido de introduzir componentes aditivos na sua utilização, que aumentam o risco perante indivíduos mais vulneráveis.
Ou seja, as redes sociais estão feitas para serem cada vez mais viciantes?
Cada vez caminham mais nesse sentido, sim. De facilmente se transformarem num comportamento aditivo.
Um fenómeno muito atual ligado às redes sociais é o chamado «FOMO», o «Medo de ficar de fora».
O Fear of Missing Out (FOMO) é um fenómeno muito atual. É uma experiência intensa de ansiedade, derivada da ideia de que se está a perder algo absolutamente fundamental, decisivo, que se for perdido, acarreta o risco do indivíduo ficar de fora de alguma informação pertinente ou de algum acontecimento extremamente relevante que lhe vai dar uma desvantagem social e colocá-lo numa posição de perigo relativamente ao seu grupo.
Quem é que mais sofre desse problema?
Habitualmente, são os jovens entre os 16 e os 24 anos, para quem os temas da integração social se tornam tarefas de desenvolvimento fundamentais. É abordado como uma perturbação de ansiedade.
Outro problema a afetar os jovens é o ciberbullying. É um assunto que o preocupa?
É um enorme problema a vários níveis. Normalmente, as crianças e os jovens falam das suas perturbações principalmente aos seus pais, mas no ciberbullying é diferente. Neste caso, as crianças e os jovens mais facilmente comunicam primeiro a um colega ou a um amigo do que a um adulto, um pai, uma mãe ou um professor. E perante esta diferença é muito importante capacitar os jovens do papel sinalizador e preventivo que podem ter na escalada deste fenómeno. Mas o ciberbullying está claramente instalado.
A rede social WhatsApp é um meio fértil para o ciberbullying?
É. Tivemos há uns anos um exemplo extremamente mediático de ciberbullying com o desafio da baleia azul. Que era uma forma de manipulação e de impacto negativo nas pessoas.
O facto de os pais controlarem os conteúdos que os filhos vêm e as pessoas com quem falam online, não pode ser também uma invasão da privacidade?
Claro. É um limite muito fino. Nas formações costumamos falar na diferença entre supervisão e policiamento. E as práticas parentais recomendadas são práticas de supervisão e não de estar permanentemente em cima. Não se deve ser um pai ou mãe helicóptero, que é o pai ou a mãe que está sempre em cima de tudo o que está a acontecer.
Qual deve ser o comportamento dos pais?
As regras que os pais devem ter com os filhos, em termos de comportamento online, são bastante semelhantes às que devem ter no comportamento offline.
Eu preciso de saber onde é que o meu filho vai, com quem é que vai estar e, de certa forma, o que é que vai fazer. Mas depois, o que acontece, do ponto de vista das conversas, já me escapa bastante. Este é um modelo que também deve ser seguido na internet.
Mas, muita da informação online já é de um grau de privacidade na vida do indivíduo, a que ele tem direito. Este direito vai aumentando à medida que o indivíduo vai crescendo.
Como é que a supervisão devem ser feita?
Por volta dos 12 anos, com a introdução dos smartphones, a password dos adolescentes pode ser do conhecimento dos pais que podem aceder ao telefone sempre informando os filhos de que o vão fazer.
Mas à medida que o jovem cresce vai conquistando o direito a ter uma password que os pais não conhecem. E aí, eu costumo dizer nas formações que se aplica à regra do «Quem não deve, não teme». Ou seja, os pais não sabem a password do jovem, portanto, não há o risco de ir à ‘socapa’ ver os conteúdos e pessoas com quem o filho interage. Mas, quando os pais dizem «Eu quero dar uma espreitadela», o jovem está comprometido a desbloquear o seu telefone e a passá-lo aos pais para eles fazerem a sua supervisão.
É conseguir o equilíbrio.
Claro, é uma questão de bom senso dos pais para haver um equilíbrio entre a supervisão e a privacidade.
Como é que se deteta uma adição aos videojogos?
Há nove sinais de alerta e, se cinco deles estiverem presentes ao longo de um ano, é considerada uma adição.
Que sinais são esses?
O primeiro sinal é o videojogo tornar-se um interesse exclusivo. O segundo é a consequente perda de interesses noutras atividades que no passado eram sentidas como prazerosas. O terceiro é uma reação intensa de fúria ou de tristeza quando é privado do jogo, seja quando tem de desligar, quando tem de ir para a escola ou quando vai numa viagem e não pode levar o jogo atrás. Esta reação desmesurada é um forte indicador de uma relação problemática com o videojogo. Outra é a necessidade de passar cada vez mais tempo a jogar para conseguir obter satisfação.
Parece um processo idêntico ao de dependência de drogas...
Sim. É semelhante à tolerância no campo das dependências com substância: se são necessárias doses cada vez maiores de droga para satisfazer o indivíduo, neste caso são necessárias quantidades maiores de tempo de jogo, para se conseguir satisfazer. Depois – e ouço isto muitas vezes em consulta – muitos dizem:«Eu paro quando quiser ou diminuo quando achar por bem». Apesar deo dizerem, há uma enorme dificuldade em diminuir ou parar o comportamento de jogo.
E, entretanto, entra-se num padrão disruptivo.
Exatamente. E permanece nesse padrão negativo de interação com o jogo quando tudo o resto à volta está a pegar fogo: pais ultra zangados, conflitos familiares, perda de amigos, notas ou rendimento laboral a diminuir de forma muito significativa. E perante todas estas evidências, não há uma interrupção no padrão de comportamento, mas uma manutenção do jogo.
Que outros sinais são preocupantes?
Mentir sobre o tempo que se esteve a utilizar o videojogo; utilizar o videojogo para fugir a emoções e perder ou criar fortes conflitos com figuras significativas.
Tem dito que se as escolas transformassem os recreios em sítios estimulantes, os jovens não estavam tão agarrados ao smartphone. O que é que para si pode ser um concorrente à altura do smartphone?
É preciso criar aventuras. Se for visitar o pré-escolar de uma escola, aquilo é uma aventura incrível, com escorregas, baloiços, pneus pendurados, imensos jogos para serem feitos, como o da macaca. E à medida que a criança vai progredindo na escola, o recreio vai ficando cada vez menos interessante. Vou a muitas escolas fazer formação e em nenhuma escola, mesmo de jovens mais velhos, os campos de futebol se existem, não estão vazios; se existem campos de basquete, não estão vazios; se há matraquilhos, não estão vazios. Onde é que estão os jovens que estão muitas vezes no smartphone? Estão nos sítios onde não existem estas possibilidades.