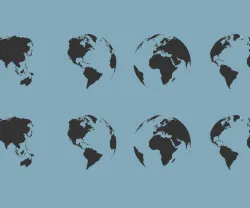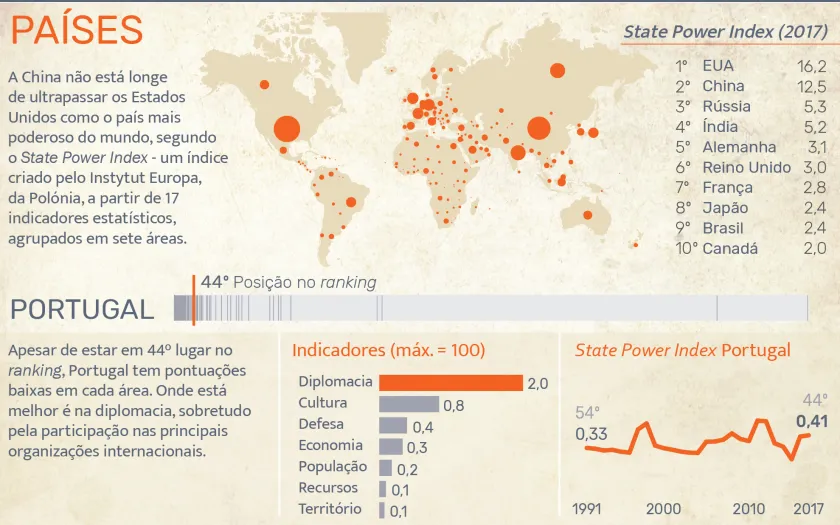
O paradoxo do poder sem poder nos dias que vivemos
«Onde pára o poder?» foi o tema do debate Fronteiras XXI, no dia 7 de Novembro de 2018
Um dos maiores paradoxos do poder nas sociedades contemporâneas é a percepção de que mesmo quando se alcança o poder este não está lá. Este paradoxo traduz-se na ideia de um poder que é elusivo, que não escapa apenas aos governantes, também escapa aos governados. E que se assim deixámos de controlar os nossos destinos, então é necessário reconquistar essa capacidade. O regresso de um certo fascínio pela ideia do “homem forte”, do líder carismático e autoritário, não deixa de se alimentar destas percepções.
Neste artigo procurarei deixar apenas algumas pistas – que não pretendem ser mais do que algumas notas soltas – para pensar neste paradoxo que não encontra respostas simplistas nos discursos sobre o “poder económico”, ou o “poder mediático”, ou o “poder das redes sociais”, ou o “poder das redes secretas”.
Quando se pretende falar “em nome do povo” e, depois, governar “por mandato do povo”, tende-se a esquecer que nenhuma democracia sobreviveu à ideia – errada – de que um mandato maioritário é antes de tudo o mais uma licença para exercer o poder sem restrições.
É comum ouvirmos um discurso sobre “fomos eleitos para fazer isto ou aquilo, têm de nos deixar cumprir o nosso mandato”. É menos comum ouvirmos recordar que, em democracia, mesmo o poder da maior das maiorias está limitado não apenas pela lei, mas também por um conjunto de mecanismos cujo fim último é garantir que, um dia, sendo essa a vontade popular, pode haver uma mudança pacífica de Governo.
A ideia “eu ganhei, eu mando” pode parecer muito democrática – por parecer traduzir a “vontade do povo” – mas, no fundo, é iliberal, e é precisamente essa ideia que muitas vezes regressa quando um governo eleito democraticamente começa a enfrentar dificuldades para realizar os seus objectivos políticos.
É muito interessante notar que, quando debateram as bases em que assentaria a sua nova nação, os “founding fathers” dos Estados Unidos não tenham prestado apenas atenção à herança da Democracia grega, mas também à da República romana, e que alguns dos autores da sua Constituição tenham, nos Federalist Papers, deixado bem clara a importância da ideia de um “governo limitado”, isto é, de um poder que nunca é exercido sem ser contrabalançado por outros poderes. Mais: que residindo a soberania no povo, existem mecanismos de mediação e representação capazes de moderar as paixões das multidões.
Se conhecemos bem a tradicional divisão proposta por Montesquieu entre poder executivo, poder legislativo e poder judicial, conhecemos menos bem o que escreveu James Madison sobre a necessidade de ter “precauções adicionais” à dependência de qualquer governo do voto popular. É o conceito de checks and balances – freios e contrapesos – que limitam, enquadram e fiscalizam quem governa em nome do povo, um equilíbrio que no caso da Constituição americana se procurou alcançar dividindo e combinando “os diferentes cargos de uma maneira tal que cada um possa ser um controlo do outro; que o interesse privado de cada indivíduo possa ser uma sentinela dos direitos públicos”.
O que distingue uma democracia liberal de uma democracia iliberal é o respeito por esses mecanismos, mesmo quando eles colocam aos titulares de cargos políticos desafios complexos e tornem mais difícil a concretização dos seus programas eleitorais. Dizê-lo pode parecer redundante, recordá-lo pode parecer desnecessário ou mesmo espúrio, mas a verdade é que até nas democracias liberais mais antigas há sempre uma tensão constante entre o poder executivo e os diferentes freios e contrapesos que o limitam. Tensões com o sistema de Justiça, porventura aquelas de que mais falamos quando envolvem os tribunais supremos ou constitucionais. Tensões com a liberdade de informação. Tensões com os organismos independentes de regulação. Tensões sobre o poder ou a autonomia que podem ter, ou não ter, organismos da sociedade civil como os sindicatos, as ordens profissionais ou as igrejas.
A ideia de que a democracia é, antes de tudo o mais, um sistema de governo onde o poder está limitado de forma a garantir que o povo terá sempre condições de substituir pacificamente quem exerce o poder, está longe de ser um conceito interiorizado pelos nossos eleitorados, ou mesmo pela maioria dos nossos governantes, que mais depressa acham que a democracia é apenas o governo de quem ganha as eleições.
No limite é aqui que começa este paradoxo do poder: como um sistema de poder limitado exige compromissos, como os compromissos exigem tempo e meias medidas, a democracia nem sempre será a forma mais eficaz de governar no curto prazo – só que é a única forma de governo que, no médio e longo prazo, permite corrigir, por acção da vontade popular, os erros cometidos pelo caminho.
Mas, para isso, é fundamental que o povo se identifique com a democracia e a veja como coisa sua.
A democracia nasceu na Grécia antiga e era exercida pelos cidadãos num espaço onde todos podiam partilhar a mesma informação, sendo que todos sentiam fazer parte da mesma comunidade. Estes dois elementos são muito importantes: não se imagina que os cidadãos possam participar no governo da cidade sem conhecerem o que está em causa, sem terem idêntico acesso aos dados de qualquer debate público; também não se imagina que aceitem livremente as decisões da maioria se não sentirem que todos pertencem a uma comunidade que comunga de interesses comuns e prossegue os mesmos fins.
Há uma enorme distância entre o que eram as discussões na ágora ateniense e os espaços públicos contemporâneos, e só essa distância seria suficiente para criar enormes dificuldades ao processo de formação de decisões livremente aceites por todos e, por isso, pacificamente prosseguidas pelos governos. Voltarei a este importante tema num outro ponto. Por agora fico-me pela também enorme distância que existe entre a cidade-estado ateniense, as nações nas quais, num longo, complexo, conturbado e incompleto processo as democracias se foram afirmando, e um tempo contemporâneo no qual essas mesmas nações cederam parte da sua soberania a instâncias supranacionais.
Um dos grandes problemas que se coloca ao exercício do poder – à própria percepção do poder – é que a política continua a ser local, mas a decisão última passou a estar condicionada por factores que escapam por completo não apenas ao controle como, sobretudo, à compreensão dos cidadãos comuns.
Podemos argumentar que as decisões de transferir soberania foram decisões soberanas, e que por isso não feriram os princípios da soberania, ou podemos falar de tempos pós-soberanos, mas não podemos iludir a existência de uma disfunção fundamental: os diferentes níveis a que se exerce a democracia, aqueles em que os cidadãos conhecem aqueles que os representam, aqueles em que os eleitores partilham o mesmo tipo de informação e interesses, foram sendo esvaziados de funções e perderam poder; há um número crescente de instâncias, do mais diferente tipo, que tomam decisões com impacto directo na vida das pessoas sem que estas saibam como essas decisões são tomadas, porque é que são tomadas, por vezes mesmo por quem e onde são tomadas.
Podendo variar enormemente o seu poder efectivo, dos múltiplos organismos das Nações Unidas ao Banco Mundial, dos tribunais internacionais ao FMI, de instâncias informais como as cimeiras das grandes potências a uniões políticas como a União Europeia (UE), de bancos centrais cujas decisões mudam a história das crises a alianças militares assimétricas, o rendilhado de dependências que a ordem internacional foi criando foi fazendo com que o cidadão comum deixasse de saber o que fazer quando, num momento eleitoral, queria votar de forma a alterar políticas. Mais: foi percebendo que até podia mudar de políticos, mas muitas vezes não conseguia mudar de políticas, mesmo quando isso lhe era prometido. Ou seja, não tinha o poder inerente à promessa democrática. Por outras palavras, o seu destino já não dependia do seu voto.
Este rendilhado de dependências é uma decorrência directa de uma globalização que trouxe um progresso económico sem precedentes ao conjunto da Humanidade mas, ao mesmo tempo, criou novas realidades que potenciaram as tensões de que na nota anterior referi apenas alguns aspectos. Eis mais alguns:
- A aldeia global. Virtualmente todos, onde quer que se encontrem, podem saber como vivem todos, onde quer que eles vivam. Todos podem, no limite, falar com todos, mesmo que seja apenas através de tradutores automáticos. A minha rua pode ser a que vejo da minha janela e ao mesmo tempo a que vejo no meu grupo de WhatsApp ou Facebook. Este maravilhoso mundo novo tanto leva ao cosmopolitismo como ao tribalismo, pois tanto posso abrir essa janela de par em par e ter acesso a uma diversidade de culturas com que nenhuma geração antes da minha conviveu, como posso fechá-la e ficar só com “os meus”, mesmo quando fisicamente nunca nos encontrámos.
- A mobilidade. Nunca foi tão fácil e tão barato deslocarmo-nos. Um universitário da classe média facilmente pode dar-se ao luxo de conhecer mais mundo do que o homem mais rico do século XIX, o mítico banqueiro Nathan Mayer Rothschild. Mas a mobilidade da “geração Erasmus” é também a mobilidade das vagas migratórias. As fronteiras que estão abertas para uns não se fecham para outros. O que encanta os que já não imaginam viver num mundo confinado assusta os que se descobrem em cidades, vilas e aldeias que deixaram de reconhecer como suas.
- A desigualdade. Longos períodos de paz e prosperidade económica não são sinónimo de mais igualdade, pelo contrário: por regra é nesses períodos que se assiste a um aumento das desigualdade, sendo que são as catástrofes, nomeadamente as guerras e as revoluções, que tendem a diminuir a disparidade rendimentos. De uma forma geral as pessoas vivem melhor, com mais saúde, maior longevidade, desfrutando de mais bens de consumo, mas também se apercebem de que há uma pequena minoria que é imensamente rica e não pára de se tornar mais rica. O meu relativo bem-estar empalidece quando confrontado com a frustração de expectativas e o choque da ostentação da riqueza.
- As identidades. Numa aldeia global viver em todo o lado pode ser o equivalente a não viver em lado nenhum. Ora isso cria um desconforto que leva à procura de comunidades de pertença. Elas sempre existiram e podiam ter uma relação mais ou menos conflitual com as comunidades nacionais que eram as unidades base por excelência das democracias, mas não se excluíam a não ser quando eram instrumentalizadas nesse sentido (recordemos os ódios raciais ou a retórica da “luta de classes”). Agora, face a uma diluição da nação, até como unidade orgânica central do exercício do poder, as identidades podem degenerar rapidamente em tribalismos, na exploração do ressentimento e na celebração da não-integração.
- Os novos oligopólios. Ao mesmo tempo que se rompe o tecido que mantém unidas as comunidades que aceitam viver em democracia e com as regras da democracia, e que o espaço público deixa de ser um só para se atomizar e fechar nas suas bolhas, a economia 4.0 é também uma economia dominada por um número muito pequeno de empresas, de escala global, com um poder imenso e que é extraordinariamente difícil regular. É certo que é também uma economia em que se ganha e perde poder muito mais depressa do que noutras áreas mais tradicionais, mas a velocidade da inovação não é acompanhada pelo legislador, nem de longe, nem de perto. E o problema é que, se por acaso isso acontecesse, talvez a inovação deixasse de ser tão disruptiva como felizmente é.
- As novas paisagens políticas. Desde a década de 1960 que temos vindo a assistir à progressiva substituição de uma paisagem política muito marcada pelas clivagens esquerda/direita e trabalho/capital por novos arranjos onde pontuam novas clivagens, variáveis de país para país e que podem girar em torno de temas como os costumes morais, as atitudes face à imigração, o grau de escolarização, o viver numa metrópole ou numa pequena cidade, o ser velho ou ser novo. Não há um padrão único, mas ao mesmo tempo que surgem novos partidos, também as estruturas que habitualmente representavam a sociedade civil, e que se tinham incorporado no sistema de freios e contrapesos dos Estados modernos, vão perdendo protagonismo para organizações informais, animadas por activistas, muito vocais mas de representatividade difícil de avaliar. Tudo isto também contribuiu para a percepção de que já não se sabe onde mora realmente o poder, até porque vai a par com a perda de representatividade dos partidos tradicionais.
- As elites e as burocracias globais. Se no passado havia toda uma mitologia sobre a “finança internacional”, hoje há muitos e muitos milhares de funcionários das inúmeras agências internacionais cuja missão, a par com as agências externas dos governos nacionais, e sem esquecer as redes académicas, culturais ou lobistas, é, e podemos afirmá-lo sem exagero, supra-estatal. Mesmo considerando a bondade das motivações que presidiu à criação de cada um destes organismos ou redes, a natural cultura das organizações é sua auto-preservação, acompanhada pela centralidade do seu trabalho. Por regra muito qualificados e bem pagos, mas vivendo num mundo à parte, estes exércitos de altos funcionários, técnicos reputadíssimos, políticos meio reformados ou idealistas que se crêem destinados a salvar o mundo, não só se auto-perpetuam, como se têm vindo a multiplicar. Mas não se pode passar sem eles, apesar deles.

A União Europeia é um bom exemplo dos problemas criados por este paradoxo do poder, e não por causa do tão falado “défice democrático”. Não é por as instâncias da União Europeia – com excepção do Parlamento Europeu – não responderem directamente perante os cidadãos que estes não sabem facilmente responder a duas perguntas básicas: afinal quem é que manda? e o que é que eu posso fazer para que as políticas mudem?
Como imaginamos, a maioria dos cidadãos europeus, de tanto ouvirem os seus líderes nacionais falarem de Angela Merkel, são capazes de acreditar que é a chanceler alemã quem realmente manda em Bruxelas, e isso não deixa de ser uma parte da verdade. Ao mesmo tempo, quantos saberão quem é Donald Tusk? Seguramente menos do que aqueles que sabem quem é Jean-Claude Juncker, apesar de formalmente ocuparem postos de igual dignidade.
Mas se já não são muitos os que sabem identificar os líderes formais da União, creio, sem margem para grande erro, que serão pouquíssimos os que alguma vez ouviram falar de Martin Selmayr, o secretário-geral da Comissão Europeia, o eurocrata que provavelmente tem mais poder na prática que aqueles dois políticos juntos. Ora se não ouviram falar dele, muito menos saberão como retirá-lo de um cargo a que chegou através de um verdadeiro golpe palaciano.
Estes exemplos, sendo conjunturais, servem para ilustrar as dificuldades inerentes à construção de uma organização política sem precedentes na História como é a União Europeia. Uma construção que tem muito pouco em comum com a da federação americana, e ainda menos com um momento fundador tão clarividente como a Convenção de Filadélfia que escreveu a Constituição dos Estados Unidos.
Por isso mesmo, e uma vez que estas notas são sobre poder e as percepções do poder, notemos como há na construção europeia alguns nós górdios de difícil solução:
- Na sua aproximação clássica, Montesquieu preconizou a separação dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judicial. Ora, na União Europeia essa separação não é clara, longe disso, pois há decisões tipicamente executivas que são competência da Comissão e outras do Conselho. As competências legislativas também não são um exclusivo do Parlamento. Há mesmo cargos que têm nomes especiais para iludirem o que são: ao que na prática é o ministro dos Negócios Estrangeiros da União Europeia chama-se Alto-Representante para a Política Externa e de Segurança.
- Numa democracia espera-se que exista confronto político e alternância, mas na UE não é isso verdadeiramente que se deseja porque ela não emana dos cidadãos, mas dos Estados, ou seja, são os Estados as altas partes contratantes, são eles que negoceiam os tratados. Numa democracia faz-se política e esta quer-se confrontacional; numa construção tão sui generis como a UE faz-se diplomacia, e esta procura por definição evitar o confronto. Não surpreende por isso que nenhum cidadão da União saiba como, pelo voto, se pode mudar as políticas comunitárias – é que não pode.
Quando neste quadro se chega à famosa TINA – o acrónimo para a desculpa política “there is no alternative” – compreende-se que muitos cidadãos questionem o poder dos “consensos europeus”. Sobretudo quando as notícias que chegam de Bruxelas não são boas, sobretudo quando a política continua a ser local e, por isso, país a país os políticos preferem ter um alibi externo do que assumir uma fraqueza interna.
Há quem atribua a Edmund Burke o desabafo de que, na galeria da imprensa do Parlamento, se sentaria um quarto poder muito mais importante que qualquer dos outros, mas é mais provável que essa fórmula, que sempre traduziu uma indisfarçável irritação com o papel da imprensa e dos órgãos de informação, tenha tido outro autor. Para o caso pouco importa pois, nos tempos que correm, o debate já não é sobre o poder da imprensa (tomada aqui no seu sentido lato, o que inclui todas as formas de jornalismo), mas antes sobre a falta de poder da imprensa e o excesso de poder das redes sociais.
Regresso por isso à ágora ateniense, esse local onde todos se informavam dos assuntos de interesse comum. Quando as democracias modernas nasceram já não era possível reunir todos os cidadãos num mesmo local, e de resto as experiências do período clássico recomendavam a utilização de formas de representação mediada que mitigassem os riscos de captura das emoções por demagogos. Mas permanecia o problema da necessidade de existir um espaço público comum, uma espécie de terreno conhecido por todos onde as diferentes propostas pudessem lutar pela preferência dos eleitores. Esse espaço público comum foi criado pela imprensa, cujo desenvolvimento – e liberdade – sempre evoluiu a par com o desenvolvimento e enraizamento da democracia.
Sempre houve momentos de tensão em que se questionou a liberdade – como já houvera na Atenas de Tucídides e Péricles – pois eles são próprios de um ambiente plural onde muitas vezes as paixões falam mais alto. Foram momentos em que os políticos viram na agressividade da informação o “quarto poder”, que acusam de não ser eleito e não ser escrutinado. Tal como houve momentos em que revoluções tecnológicas – primeiro a rádio, depois a televisão, também o cinema – introduziram alterações radicais na forma de fazer política, não deixando de haver quem utilizasse instrumentalmente as novas plataformas para fins de propaganda ou para dar mais projecção à difusão de notícias falsas.
A mais recente ruptura tecnológica foi a proporcionada pela internet e, tendo aberto enormes oportunidades, também coloca desafios a que temos dificuldade em responder.
O primeiro desafio é o da sobrevivência do jornalismo. Não falo da imprensa escrita como a conhecemos, ou mesmo do actuais modelos de televisão ou de rádio, mas de jornalismo enquanto actividade independente, escrutinadora, enquanto poder equilibrador dos diferentes poderes que formam o sistema de freios e contrapesos de uma democracia, “cão de guarda” das instituições em nome dos cidadãos. Também como actividade que, procurando a objectividade, busca a melhor aproximação à verdade e procura ser um espelho da sociedade e do tempo em que vivemos. Este desafio coloca-se uma vez que o modelo de negócio que, há mais de dois séculos, sustenta o jornalismo livre está hoje sob enorme pressão por causa do domínio oligolopolista da internet.
O segundo desafio é o de preservar a existência do tal espaço público comum a todos sem o qual é difícil conceber uma democracia. A multiplicação das fontes de informação levou a um fenómeno de tribalização da sociedade e de pulverização da moderna Ágora. O espaço público começa a estar estilhaçado e os diferentes grupos fecham-se nas suas conchas, que podem ser apenas grupos do WhatsApp ou do Facebook, onde a informação, ou a desinformação, circula sem qualquer triagem jornalística.
Infelizmente a reacção do jornalismo nem sempre tem sido a melhor, apesar de deverem ser os jornalistas, assim como os responsáveis políticos, os primeiros guardiães do espaço público. Uma sociedade atomizada e fechada em guetos é uma sociedade em que não se conversa – no fim do dia ganha quem for mais numeroso e conseguir juntar mais grupos e grupinhos, não quem tiver melhores propostas.
É tendo em consideração estes dois desafios que devemos encarar problemas como as chamadas fake news ou o alegado “poder das redes sociais”. Até porque aquilo a que assistimos são, antes de tudo, o mais formas novas de fenómenos antigos. Notícias inventadas sempre houve, potências estrangeiras a difundi-las também, e capacidade para causarem imensos danos não é coisa nova. Basta recordarmo-nos dos famosos “Protocolos dos Sábios de Sião” para termos consciência que já houve no passado fake news de muito mais trágicas consequências do que aquelas que hoje nos alvoroçam.
Já quanto às redes sociais elas são um alvo em movimento. Dir-se-ia que em cada campanha se inventa algo de novo para levar mais longe a capacidade de as utilizar. Mas elas são, na essência, um instrumento neutro – tanto serviram para eleger Obama como depois serviram para eleger Trump; tanto serviram para convocar as mobilizações da “Primavera Árabe” como facilmente servem para realizar temíveis julgamentos na praça pública. Receamo-las como já receámos a rádio e depois a televisão, mas o grande desafio é perceber como podemos ficar menos dependentes de poucas empresas demasiado poderosas e verdadeiramente globais.
Mas de algo temos de ter consciência: se os algoritmos dessas empresas sabem tanto sobre nós é porque nós queremos, é porque isso nos é confortável e nos facilita o dia-a-dia. É também uma escolha nossa.

Os mais pessimistas costumam olhar para os números da economia e notar que o rendimento das classes médias quase estagnou há várias décadas. Os mais optimistas sublinham que, com o mesmo rendimento, ou com o mesmo salário, se tem hoje acesso a muito mais, mesmo muitíssimo mais, do que se tinha há 20 ou 30 anos. Ambos têm razão pois a globalização e os avanços tecnológicos tornaram quase tudo muito mais acessível mas sem criar, no mundo desenvolvido, empregos melhor remunerados.
Não teriam sido necessárias as crises que vivemos para que esta evolução gerasse um choque de expectativas. Não será necessária uma nova crise para que a próxima revolução tecnológica, que já começou, agrave ainda mais o desconforto de todos os que, como referi no início, têm a percepção de que perderam o poder de controlar os seus destinos.
Essa revolução é a da inteligência artificial e já andamos com ela no bolso. No telemóvel. Com quem partilhamos uma enorme quantidade informação. Que “sabe” sobre a nossa vida e os nossos hábitos coisas que não lhe ensinámos, mas ele aprendeu – e por isso nos diz, por exemplo, quando pegamos nele ao fim da tarde, quanto tempo levaremos a chegar a casa e qual o melhor caminho.
Pessoas como Elon Musk, Bill Gates, Steve Wozniak ou Stephen Hawking alertam para um tempo em que a inteligência artificial estará tão desenvolvida que, no limite, os computadores tomarão conta do mundo. Na verdade eles já tratam de imensa coisa, e não apenas controlar automatismos: basta pensar que 70% de todas as transações financeiras no mundo são realizadas por algoritmos. Não é impossível que no prazo de 10 a 20 anos metade dos actuais empregos sejam ameaçados por outros algoritmos e há quem estime que, na próxima década, desaparecerão 40% das 500 maiores companhias do mundo.
Os mais pessimistas antevêem a concretização do pesadelo orwelliano, uma sociedade onde aquilo que os algoritmos saberão sobre cada um de nós permitirá não apenas controlar-nos como manipular-nos. Os mais optimistas notam que um mundo onde haverá (dentro de apenas 10 anos) 20 vezes mais sensores ligados em rede do que seres humanos, e onde a quantidade de dados acumulada duplicará a cada 12 horas, será simplesmente demasiado complexo para ser controlado top down.
Para onde caminhamos então? Onde estão realmente as alavancas do poder? Será possível resolver o paradoxo de um poder sem poder, ultrapassar a angústia de se ter deixado de controlar o seu destino, deixar de ceder ao fascínio do “líder forte”?
Nenhum algoritmo pode dar respostas a estas perguntas. E nós também não as conhecemos.
O acordo ortográfico utilizado neste artigo foi definido pelo autor
«Onde pára o poder?» foi o tema do debate Fronteiras XXI, no dia 7 de Novembro de 2018


![A humorista Luana do Bem ao lado do politólogo Pedro Magalhães, sobre um fundo cinzento, com os logotipos "Fundação Francisco Manuel dos Santos" e "[IN]Pertinente" ao centro.](/sites/default/files/styles/teaser_small/public/2026-01/INP2026_POLITICA_1_SITE_1280x720_DESTAQUE.png.webp?itok=eh6XTxRK)