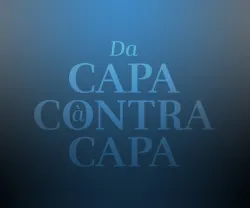Devagar, devagarinho, os pais reinventam-se
É como se Nuno Hipólito Santos vivesse dentro de um pêndulo. Segunda-feira, comboio, três horas e vinte de Braga para Lisboa. Quarta-feira, comboio, três horas e vinte de Lisboa para Braga. Trabalha a tempo parcial para poder acompanhar o crescimento do filho, Miguel, agora com um ano e meio. Quer ser um pai próximo, terno, cuidador.
Se fosse mais velho, talvez este médico de família colocado no Centro de Saúde de Sete Rios, na capital, acusasse cansaço. Aos 31 anos, acabados de fazer, recupera depressa junto da mulher, Rita Araújo, investigadora do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, e do filho, “extremamente sensível às mudanças”. “Eu sei que ele sabe que hoje é domingo e que eu amanhã me vou embora”, diz.
Vista de longe, parece uma família tradicional. Começaram a namorar aos 15 anos, casaram-se aos 25, tiveram um bebé antes dos 30. Formam um casal heterossexual, de nacionalidade portuguesa, com um filho e planos para ter mais um ou dois. Vistos de perto, tudo os separa do modelo do tempo dos avós – assente na desigualdade, com o marido elevado à categoria de chefe de família e ganha-pão e a mulher submissa, relegada ao papel de dona-de-casa, “natural” responsável pelas tarefas relacionadas com a casa e a família. Cresceram em famílias de transição, com mães integradas no mercado de trabalho e pais um pouco mais participativos dentro de casa. E estão a construir uma família com base no afecto e na igualdade entre homens e mulheres.
Naquele domingo, Nuno confeccionara um chili vegetariano para o almoço e preparava um bolo de chocolate com café para o lanche. Rita estivera a arrumar a casa e a tratar da roupa. Ainda ele fazia o café, sentou-se ela a entreter o filho e a conversar sobre como, apesar do predomínio de casais formados por duas pessoas que trabalham a tempo inteiro, as mulheres despendem muitíssimo mais tempo com a casa e a família, o que as penaliza na carreira e no bem-estar. E como, devagar, devagarinho, emerge um modelo novo, que não descura a vida profissional da mulher, nem a vida familiar do homem.
– Ele cresceu com o pai a fazer coisas que naquela altura eram vistas como coisas de mulher. O pai dele é quem maioritariamente cozinha lá em casa – comenta ela.
– Eu sempre fui incentivado a fazer esse tipo de coisas – confirma ele, trazendo o café e sentando-se.
Tanto Nuno como o irmão tinham de fazer pequenas tarefas domésticas. Não muitas, porque os pais, um casal de engenheiros agrónomos, tinham empregada doméstica. Apesar de todo esse treino, Nuno reconhece que não estava formatado para a igualdade plena.
– Não sei explicar porquê, achava que havia determinadas coisas que eu não tinha que fazer.
– Passar a ferro.
– Sou eu que faço, mas, no início, quando fomos viver juntos, assumi que essa tarefa não era minha…
– Eu explico. Ele, por causa do trabalho dele, usa camisa quase todos os dias. Nós tínhamos acabado de começar a viver juntos, perguntou-me: ‘Quando é que vais passar as camisas?’ ‘Ah, eu não vou passar as camisas, eu nem uso camisas!’, respondi-lhe. ‘Ah, mas eu não sei passar a ferro!’ ‘Ai, mas não tem nada que saber. Eu explico-te e tu aprendes!’”
– Ninguém me ensinou que eu não podia ou não devia passar a ferro. Tenho um bocado ideia que estas coisas estão gravadas…
– A tua mãe trata da roupa.
– A minha mãe trabalhou numa lavandaria quando era estudante. Ela sempre tratou da roupa lá em casa. Ainda trata…
– Eu detesto passar a ferro!
– Há coisas mais agradáveis para fazer mas, no que às tarefas domésticas diz respeito, é algo que não me incomoda particularmente.
É um dos parâmetros que põem Portugal a fazer má figura no índice da igualdade do Instituto Europeu da Igualdade de Género. O primeiro Inquérito à Ocupação do Tempo, feito em 1999, revelava que as mulheres asseguravam sempre ou quase sempre as refeições, a limpeza regular da casa, o cuidado e o tratamento da roupa. O último, publicado em 2016, mostra que elas investiam quatro horas e 23 minutos, em média, por dia, em tarefas domésticas e prestação de cuidados e eles duas horas e 38 minutos. Naquelas duas horas, elas continuavam numa azáfama e eles podiam ir ao ginásio, sair com um amigo ou sentar-se no sofá a ler, a ver televisão ou a dormitar. Ver-se-á o que dirá o próximo inquérito, agendado para 2021.

Bem vistas as coisas, aconteceu tudo muito depressa. Na década de 60, as mulheres entraram oficialmente no mercado de trabalho. Desde a revolução de 25 de Abril de 1974, tudo conflui para a transformação da família ganha-pão/dona-de-casa na família duplo-emprego: a fecundidade caiu, diminuiu o número de filhos, multiplicaram-se os divórcios, baixou o número de casamentos, consolidaram-se as uniões de facto, legalizou-se o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a adopção independentemente da orientação sexual, a procriação medicamente assistida para mulheres viúvas, divorciadas e solteiras.
Hoje com uma das mais elevadas taxas de actividade feminina da Europa, Portugal conta quatro décadas de políticas de apoio à conciliação entre vida profissional e vida familiar. O expoente desse esforço é a licença parental, que começou por ser exclusiva da mãe (1976) e se alargou ao pai – numa primeira fase só em caso de morte ou incapacidade da mãe (1984) e numa segunda fase já por direito próprio (1995).
Antes de Nuno e Rita nascerem, era como se a presença do pai fosse irrelevante. Só em 1988 se concedeu aos funcionários públicos dois dias de faltas justificadas aquando do nascimento de um filho ou de uma filha. Os homens, em casa, ficavam-se pelas reparações ou pelas questões administrativas.
Em 1995, eram eles crianças, aqueles dois dias de folga foram alargados ao sector privado e concebeu-se a hipótese de o pai partilhar uma parte da licença. O direito a uma licença exclusiva do pai surgiu em 1999 e cingia-se a cinco dias úteis no primeiro mês.
Já em 2009, eram Nuno e Rita namorados, o Estado começou a procurar promover paridade, alargando a licença exclusiva do pai e criando a licença parental inicial, bonificada em 30 dias caso seja partilhada pelos progenitores. De então para cá, fez pequenos ajustes.
O sistema, porém, permanece distante da igualdade defendida por organizações como a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. O pai tem direito a 20 dias obrigatórios e cinco facultativos. A mãe tem direito a 30 dias facultativos pré-parto e 42 obrigatórios pós-parto. E a licença parental inicial de 120, 150 ou 180 quanto muito vai permitindo que cada vez mais pais fiquem em casa um mês sozinhos com os filhos.
Cada família fará as suas contas. Rita e Nuno fizeram as deles. “Sabíamos que queríamos os dois estar o máximo de tempo possível com o Miguel, mas à medida que a licença do pai aumenta, a da mãe diminui”, lamenta ela. Estava a amamentar e queria fazê-lo pelo menos até aos seis meses. E Nuno estava a terminar o internato e tinha de se preparar para o exame final. “Tornava-se complicado eu reduzir o meu tempo para que ele ficasse com mais tempo.” Decidiram que ele tirava o 1º mês e o 6º.
Quando abriu o concurso público para colocação de médicos, Nuno julgava ter nota para ficar no Norte do país. Lisboa era o último recurso, apenas possível porque podia alojar-se em casa de uma avó. Quando lhe saiu Lisboa, atrapalharam-se. Tinham de “organizar a vida.”
Ela acabara de assinar um contrato de trabalho. Para ficarem todos juntos em Braga, ele teria de recusar a vaga que lhe fora atribuída no sector público e de procurar trabalho no sector privado. “Gosto daquilo que faço, gostava de o fazer no Serviço Público de Saúde, porque é nisso que eu acredito.” Se fossem todos para Lisboa, ela teria de encontrar outro trabalho, o que na sua área seria difícil, e não disporiam de retaguarda familiar. “Eu aqui tenho apoio, tenho os meus pais, tenho os meus sogros, tenho família”, diz Rita. E haveria um aumento de despesas. “Em Lisboa, é tudo caro.”
Até ao último momento, alguns familiares esperavam que ela fizesse as malas e o acompanhasse. “Claro que a minha profissão é importante, mas não mais do que a profissão da Rita e vice-versa”, salienta Nuno. Pediu licença para ficar a trabalhar a tempo parcial, com o respectivo corte salarial. E está desejoso de conseguir, já no próximo concurso público, ficar colocado mais perto de casa. Se não, terão de “repensar tudo”.
Poucos irão tão longe, mas é evidente que a mudança está a acontecer. De acordo com o último Relatório Sobre o Progresso da Igualdade, preparado pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE), há cada vez mais pais a receber subsídio por licença parental facultativa (52,2% em 2009 para 70,6% em 2018) e por licença parental inicial (10,1% para 39,9%). Já o regime de trabalho a tempo parcial “continua a manter uma dimensão pouco significativa em Portugal, abrangendo 10,5% da população empregada” em 2018 (85,6% mulheres e 14,3% homens). E muitas das pessoas que estão nessa situação (33,8%) gostariam de trabalhar mais horas. Não o fazem porque não podem, sobretudo, por falta de melhor proposta de trabalho ou de serviços de apoio.
Trabalhadores altamente qualificados, a cumprir contratos com o Estado, Rita e Nuno não notaram escárnio e maldizer. Outros, porém, não podem dizer o mesmo. O Livro Branco – Homens e Igualdade de Género em Portugal, coordenado por Karin Wall, editado pela CITE e pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa em 2016, dá conta de uma atitude pouco favorável entre os empregadores, que os homens percecionam “com apreensão, receando prejudicar a vida familiar ao não usufruírem das licenças e receando ser alvo de represálias ou, no limite, de despedimento caso o façam”. Este desconforto é só um dos muitos sinais de que a figura do pai está a a alterar-se.
Estudiosos como a socióloga Sónia Vladimira Correia têm demonstrado continuidade e mudança. Por um lado, persiste “o papel de ‘mãe ideal’, o recurso à figura feminina como ‘a peça central’ nos cuidados às crianças (‘a’ mãe, ‘as’ avós, ‘as’ tias, ‘as’ babysitters, ‘as’ educadoras, ‘as’ professoras…), a naturalização da competência feminina para os cuidados às crianças (‘instinto maternal’, ‘apelo biológico para a maternidade’)”. Por outro, há “o divórcio e a separação, a definição de mulher desligada da experiência da maternidade”. E “a atribuição de importância ao papel do pai na vida dos filhos”, o aparecimento da “paternidade cuidadora e interventiva como parte integrante da identidade do homem”, e “a negociação e partilha nos cuidados à criança”.
O arquitecto Augusto Silva conta 45 anos e lembra-se bem de como era a família da sua infância, na Póvoa de Varzim. Só “muito pontualmente” o pai, agente de seguros, fazia alguma tarefa doméstica. Só em condições muito especiais substituiria a mãe, funcionária judicial, a trabalhar a tempo inteiro. As funções estavam muito bem definidos. “O meu pai fazia o papel de polícia mau. Se nos portássemos mal, ele chamava-nos à atenção, puxava-nos as orelhas, dava-nos uma sapatada. A minha mãe era o polícia bom. Era com quem nos sentíamos protegidos e com quem podíamos falar sobre qualquer problema.”
Parece que foi noutra era, atendendo ao que é a sua própria postura nos dias que correm. Sempre cuidou do filho de um ano e meio. Nada o distingue da companheira, Luísa Dias. “Ele conhece-o tão bem como eu”`, afirma a fisioterapeuta, de 31 anos. “Ele sabe se há papas, se as fraldas estão a acabar, se a roupa está a ficar pequena. Ele sabe se tem consulta, se está a tomar algum medicamento. Ele sabe o que é preciso fazer e faz.”
Diz a experiência de Augusto que não basta a vontade do pai. A mãe e outras mulheres da família têm de criar espaço para o deixar entrar na esfera do cuidado. Tem uma filha de 13 anos, de uma relação anterior, e com ela não foi igual. “Eu queria trocar fraldas, achava que devia, e a avó e a tia ficavam chateadas por eu querer fazer isso.”
Quando se separou, a menina ia nos três anos. Contentou-se com umas horas à quarta-feira e um fim-de-semana de quinze em quinze dias. “Achava que era melhor estar com a mãe, mas hoje sei que é igual. A criança tem uma capacidade de adaptação brutal.” Procurando participar mais na vida da filha, há pouco propôs-lhe passar a residência alternada, mas ela não quis. “Ela já é crescida, já está habituada àquilo.”
A relação tensa com a ex-mulher não ajuda. Menos ainda desde que Augusto e Luísa se apaixonaram e decidiram morar juntos. Quando a filha está a passar o fim-de-semana com eles, Luísa trata de domar a sua natureza expansiva. “Tenho uma atitude mais calculada. Tento nem estar presente quando algum tema mais sensível é conversado”, revela. “Eu também tenho cuidado”, diz ele. “Quando preciso de falar com a minha filha, afasto-me com ela ou espero que a Luísa saia. É uma forma de as proteger.”
A residência alternada não era uma opção evidente há dez anos. Só há pouco começou o debate sobre o direito das crianças a viver com os dois progenitores após uma separação ou divórcio. Apesar de tudo, “persiste a prática de as crianças ficarem a residir com a mãe”, como se pode ler no já referido Livro Branco – Homens e Igualdade de Género em Portugal. Estas decisões, baseadas nos supostos “papéis naturais”, têm consequências – para as mulheres, sobre as quais “passa a recair uma responsabilidade acrescida (‘exclusiva’) no dia-a-dia, com um forte impacto na sua relação com o mercado de trabalho, na conciliação família-trabalho, na gestão dos tempos e no bem-estar económico do seu agregado”, nos homens, que “vêem altamente condicionado o acesso aos/às filhos/as, através de um regime de visitas que os impossibilita de partilhar o seu quotidiano e de manterem a proximidade relacional que se cultiva no dia-a-dia, ao mesmo tempo que os desresponsabiliza.” A idade conta. De geração para geração, observam-se “claros sintomas de uma transformação dos papéis de género na família, ganhando terreno a percepção de que o homem tem tanta responsabilidade quanto a mulher”.

Será quase um cliché dizer que a maior característica das famílias actuais é a diversidade. Há pessoas que vivem sós, casais sem filhos, casais com poucos filhos, casais com muitos filhos, casais com filhos de relações anteriores, casais de sexo diferente, casais do mesmo sexo, casais monoculturais, casais multiculturais. Muitos casais nem se casam, como é o caso de Augusto e Luísa. Mais de metade dos bebés nasce fora do casamento, como o filho deles. Os pais acham que não precisam de assinar um papel ou mesmo, nalguns casos, viver debaixo do mesmo tecto. O que importa é o amor – repetem revistas, blogues, livros de auto-ajuda, filmes e séries de TV.
Veja-se Nuno F. Santos, 44 anos, repórter, produtor, guionista, fundador da TKNT – Televisão K Não é Televisão, “uma web TV, espécie de rádio e webzine/magazine exclusivamente dedicada à indústria cultural e tudo o que a ela está agregado”. Sente-se infinitamente mais livre para procurar a sua felicidade do que os pais alguma vez sentiram.
Cresceu em Setúbal numa família formada por um soldador e por uma doméstica que tudo fizeram por ele, inclusive sonhar um futuro à medida das suas aspirações. “Senti a pressão de ser um bom pai, com base em deixar aos filhos o maior número de conforto em herança possível, permitindo-lhes educação escolar e ser um exemplo de honestidade. No entanto, a minha personalidade de homem não se coaduna com a que imaginaram para mim, de todo”, nota. Nunca se sentiu impelido a “ter um emprego por ter”, nem “a ser como os vizinhos que construíram casas em terrenos de herança em vez de pedirem empréstimos ou viverem numa casa alugada”. Usa brinco. Trabalha como freelancer. Viveu em união de facto. Separou-se há três anos. Mora numa casa alugada, no Porto, uma semana sozinho, outra com a filha, Cecília, de 10 anos.
As suas escolhas nem sempre são compreendidas até pelos pares, uma vez que a precariedade já lhe provocou sobressaltos na hora de pagar as contas. Exemplos? “Há dois anos convidaram-me para fazer a www.tknt.pt no Luxemburgo e em Paris para as comunidades portuguesas. Também já tive a hipótese de ser guia temporariamente na Noruega. Eram cerca de três mil euros por mês em qualquer um dos casos.” Alguns amigos aconselharam-no a experimentar, podia falar com a filha através do Skype, mas ele não quis. “Não concebo a ideia de estar longe numa fase de crescimento da Cecília. Gosto de a levar à escola, de fazer o almoço, de a levar a comer fora, a visitar os avós. Gosto de sentir a pele, o cheiro. Gosto de saber o que sente, o que precisa.”
Às vezes, vendo-se enquanto pai, Nuno F. lembra-se da mãe, na década de 1980. “Tendo eu horário disponível, passo praticamente todas as horas livres com a minha filha, muitas das vezes em casa, deixando-a ser criança enquanto faço as tarefas domésticas.”
Quando Nuno F. e a ex-companheira decidiram separar-se, não houve batalha pela guarda partilhada e pela residência alternada. “O entendimento semana a semana foi decidido na hora, sem qualquer problema”, assevera. Nem ele, nem ela conceberam outra hipótese. “Para lá de querermos estar os dois com ela, sabíamos o bem que cada um de nós quer para ela, por mais que nos pudéssemos até detestar ou manter a distância.”
Para facilitar, ficaram a viver muito perto um do outro. “Eu fiquei na mesma casa onde vivíamos, possibilitando um quarto só para a Cecília na mesma. A casa onde estou é a casa onde ela aprendeu a andar. A mãe voltou para a casa da mãe dela, a cinco minutos.”
Nuno F. acredita que a filha está feliz. Embora tenha sofrido com a separação, sentiu-se sempre amada pela mãe e pelo pai. E, ao que lhe é dado saber, “nunca se queixou” da residência alternada. A modalidade permite-lhe estar uma semana com a mãe, a avó e as primas e outra com o pais e “as coisas dela”. “Gosta dos dois locais. Entra num modo de gostar tanto que quase não quer saber da mãe quando está no pai e vive-versa.”
Atreve-se a dizer o que muitos pais (as mães, sobretudo) preferirão guardar para si: “Sinto-me estupidamente um homem mais completo por ser pai divorciado.” Consegue superar-se. “Na semana em que estou com a minha filha, os meus horários são rígidos e vivo para ela.” Na semana em que a filha está com a mãe, aproveita para fazer as suas coisas. “Sei que ela é uma mãe ultra dedicada, o que me permite ser homem de descanso, horários flexíveis, ter espaço para viajar sozinho, ter relações e estar absolutamente relaxado.”
Também tem dias maus, como qualquer pessoa. Naquela sexta-feira, era suposto Cecília ficar com ele e pediu-lhe para passar a noite em casa da mãe. Até calhou bem, porque Nuno F. estava febril, mas não deixou de sentir um aperto no peito. E se, afinal, a filha gosta mais de estar com a mãe do que com ele? “Não é fácil, como não é fácil qualquer relação que acabe….”
Sabe que os seus pais, agora com 86 e 82 anos, ainda têm pena de ter uma neta com pais separados. “Para lá de todo o amor” que lhe devotam, encaram-na como uma vítima. Ele relativiza essa visão, percebe que vem de outro tempo, mas não relativiza tudo em seu redor. “Dói quando os dias da família na escola são feitos maioritariamente num plano coreográfico a pensar na família que não tem pais separados”.
Que pode fazer? Educa a filha para a igualdade, dando o exemplo, dizendo-lhe que não há cores para menina e cores para menino, pedindo-lhe que diga apenas o nome se referir o tom de pele de algum amigo, “perguntando-lhe, na brincadeira, se gosta de algum rapaz ou de alguma rapariga”, falando “com normalidade de amigos homossexuais”.
Os estereótipos e os preconceitos infiltram-se cedo na mente humana. As crianças que estas famílias estão a criar encontram-se no início do processo de socialização. “Acho que ainda não se discute muito esta questão de como educar para nós termos mulheres com direitos e deveres e homens com direitos e deveres”, considera Rita Araújo. “Se vamos ensinar determinadas coisas às raparigas, temos que ensinar aos rapazes também. Queremos que o Miguel cresça a ser um rapaz que é respeitador tanto das raparigas como dos rapazes.”
Luísa e Augusto ainda não pensaram muito a sério no assunto. O filho ainda está a aprender a falar. Veste roupa da secção de rapaz, adora encaixar peças e brincar com carrinhos, mas ninguém o desencoraja quando pega nas bonecas da irmã ou quando tenta imitar um adulto a varrer.
Rita e Nuno já têm conversado sobre isso. Vestem roupa de todas as cores ao filho, até porque “tem imensa coisa herdada das primas”. E divertem-se ao perceber que nada lhe agrada mais do que brincar com uns legumes, umas panelas e uma cozinha. No infantário, já preconizam que, quando crescer, há-de ser cozinheiro. Pelos pais, há-de ser o que quiser.
O acordo ortográfico utilizado neste artigo foi definido pelo autor