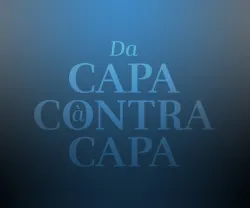Como passámos do branco e azul monárquico ao verde, vermelho e amarelo republicano
A revolução republicana vitoriosa a 5 de Outubro de 1910 levou à constituição de um governo provisório chefiado por Teófilo Braga. Entre uma série de medidas que se prendiam com a representação do Estado, o governo provisório preocupou-se, como era natural, com a questão da manutenção ou alteração do seu símbolo supremo: a bandeira nacional. O que se deveria, nesse sentido, fazer? Dever-se-ia guardar a bandeira anterior, modificando-a apenas no que nela representava o regime monárquico, ou, pelo contrário, dever-se-ia substituí-la por uma insígnia totalmente nova? A questão afigurava-se crucial, e a dúvida pertinente: por isso o governo provisório nomeou, logo dez dias após o triunfo da revolução, uma comissão para as resolver. Explicava-se esta nomeação «considerando que a bandeira é o símbolo da Pátria e importando definir e resolver sobre a representação moral da nacionalidade»; e compunha-se a comissão de cinco membros: o escritor Abel Botelho, o pintor Columbano Bordalo Pinheiro, o tenente António Ladislau Parreira, o capitão José Afonso de Palla e o jornalista João Chagas, todos eles ligados pelo denominador comum de serem indefectíveis republicanos.
A comissão apresentou o seu relatório a 29 de Outubro. Trata-se de uma peça literária e histórica interessante a diversos níveis; desde logo, pela compreensão da profundidade do simbolismo que havia de rodear a escolha da bandeira, como se dizia no início do relatório: «O problema da fixação da bandeira nacional, que, visto à luz superficial, parece coisa bem simples, é no entanto uma questão complexa, porque esse consagrado símbolo tem de sintetizar por uma forma impressiva, eloquente, sumária e viva, o significado social do povo que representa. Há-de conter a sua alma, o seu ideal, o seu carácter, a sua tradição, a sua história. […] há-de resumir a vontade nacional. Tem de exprimir as ideias de independência, de domínio, de constituição social, de regime político. Tem de ser ao mesmo tempo a evocação lendária do passado, a imagem fiel do presente e a figuração vaga do futuro.»
Partindo desta premissa, o relatório passava de seguida a considerar a hipótese de se guardar a bandeira branca e azul dos últimos tempos da monarquia, perguntando se essas cores seriam representativas da nação. A resposta dada era ambivalente: no que se referia ao branco, não tinham os relatores dúvidas de que essa era a cor por excelência das bandeiras nacionais portuguesas, acompanhando-as como cor principal desde os primórdios da nacionalidade até à data dos trabalhos da comissão, sem quebra nenhuma, e concluíam: «O branco não há dúvida que deve, em todas as hipóteses, ter representação na nova bandeira»; já quanto ao azul, a comissão considerava que a sua inclusão na bandeira se havia originado numa referência ao culto mariano (em especial a Nossa Senhora da Conceição, padroeira do reino), e que, embora fosse uma cor aprazível, revelava-se demasiado branda e até representativa de uma certa perda de energia do povo português, pelo que devia ser banida da nova bandeira porquanto «para nós, histórica e moralmente, o azul é uma cor condenada».
Prosseguindo depois na análise das cores possíveis, a comissão debruçava-se sobre o vermelho: associava-o a uma cor presente na bandeira portuguesa desde D. João II e por isso ligada à epopeia gloriosa dos Descobrimentos, classificando-o como «cor combativa, quente, viril […], cantante, ardente, alegre», além de ser também a cor da bandeira revolucionária e, portanto, «cor nova — a cor da esperança» no projecto republicano; por tudo isso, tornava-se imprescindível incluir o vermelho na nova bandeira. Chegando por fim ao verde, os relatores assinalavam, antes de mais, a sua condição de cor positivista, isto é, definida por Auguste Comte como cor do futuro, e por isso adoptada pelo positivismo e pelas instituições que, no século xix, mais pugnavam por essa filosofia política, como a maçonaria; mas advertiam os relatores que o verde não tinha suficiente tradição nas bandeiras portuguesas, e que, além disso, «não é feliz, nem dispõe dum grande poder irradiante a justaposição do verde ao vermelho». Depois, numa súbita alteração de perspectiva, o relatório afiançava que, apesar destes óbices, o verde devia estar consagrado na nova bandeira, porque foi «uma das cores que preparou e consagrou a revolução». Além da escolha das cores, a comissão achou por bem conservar o escudo das armas nacionais, retirando-lhe naturalmente a coroa real, e pousando-o sobre uma esfera armilar (como o tinha feito, como se viu, D. João VI), entendida agora como símbolo da epopeia ultramarina e do império, «padrão eterno do nosso génio aventureiro, da nossa existência sonhadora e épica».
O que se conclui do exame do relatório apresentado a 29 de Outubro de 1910? Que a comissão estava Inclinada para a adopção duma bandeira branca e vermelha, espécie de resumo das tradições vexilares portuguesas, e alterou depois o seu alvitre em prol da expressão mais específica dos ideais revolucionários, republicanos positivistas e maçónicos. O que não causa dúvida são os motivos da escolha do vermelho e do verde, claramente enunciados pela comissão: trata-se das cores dos ideais, dos partidos e das instituições que haviam preparado e conduzido a revolução.
O governo provisório apreciou o relatório da comissão logo a 30 de Outubro de 1910, determinando algumas modificações em relação ao que havia sido apresentado, nomeadamente quanto ao formato da esfera armilar e quanto à estrela radiante colocada em timbre, que foi eliminada. A 6 de Novembro, o tema foi novamente submetido ao conselho de ministros e, a 29 desse mês, foi aprovado o projecto da bandeira verde e vermelha e fixada a data do 1.º de Dezembro como Festa da Bandeira. Logo nesse primeiro feriado de 1910, a nova bandeira foi usada como «bandeira nacional» no desfile militar e popular que, partindo do largo fronteiro à Câmara Municipal de Lisboa, onde tivera lugar a proclamação do novo regime, seguiu até à praça dos Restauradores, cujo nome e conceito se considerava adequado à situação então proporcionada, alcançando por fim a Rotunda, local decisivo para a resolução militar da sublevação republicana.
[...] Dividiram-se as opiniões em dois grandes campos. [...] Da vasta polémica então despertada, traduzida em copiosa e variada contribuição jornalística sobre o tema, emergiu um elevado número de projectos. No que se refere às cores, podemos dividi-los em três categorias: alguns retomavam a bicromia branco/azul, limitando-se a expurgar a bandeira precedente do que nela representava a instituição monárquica (a coroa); outros projectos procuravam a fusão das duas bicromias, juntando as cores que consideravam nacionais (azul/branco) com as cores republicanas (verde/vermelho); outros ainda, por fim, apostavam unicamente no verde e vermelho. É curioso verificar que grande parte dos projectos parecia ansiar pela conciliação, entendendo que apenas a conservação das cores branca e azul (ou mesmo só a branca, a rigor) garantiria um carácter verdadeiramente nacional à nova bandeira; ao passo que a inclusão das cores verde e vermelha serviria de referência aos novos moldes ideológicos da vida política do país. Ficariam assim representados na nova bandeira a continuidade histórica da nação, mas também a mudança de regime. Quanto à disposição dessas cores, a maioria dos projectos insistia numa bandeira partida, embora tenham sido também propostos rombóides inspirados na bandeira brasileira, tricolores segundo o modelo francês, ou até modelos mais complexos directamente copiados das bandeiras britânica e americana.
O acordo ortográfico utilizado neste artigo foi definido pelo autor