
Cérebro, a mais formidável estrutura do Universo
Reveja o Fronteiras XXI «De que é capaz o cérebro?»
Há, no mínimo, duas possibilidades: podemos olhar para o cérebro como uma estrutura extraordinária pela sua capacidade, complexidade e mistério ou podemos ver à nossa frente um quilo e pouco de massa orgânica, gelatinosa, que compreende algo como 86 mil milhões de neurónios (sim, já houve quem os tivesse contado), podemos ver o maior e mais impressionante enigma ou uma máquina que vamos desmontando e analisando, peça a peça. Mas, na verdade, não se trata de um dilema, as duas perspectivas podem coexistir no formidável trabalho da descoberta do cérebro.
É comum usarmos metáforas para descrever o que se passa no cérebro: uma fábrica, um sistema hidráulico, um relógio, luzes que se acendem quando tocamos piano, sinapses e fusíveis, um computador com software e hardware. Usamos o que conhecemos para o explicar. E esse pode ser o problema número um. Na realidade, o que acontece no cérebro não tem comparação com coisa nenhuma. Examine-se, por exemplo, o caso da visão: foram já identificadas, pelo menos, 35 áreas do cérebro implicadas neste processo, numa actividade que se distribui no espaço e no tempo. No entanto, o resultado é uma experiência única, uma visão integrada do mundo com a ilusão de uma inteligível passagem de tempo. Como é que os nossos cérebros fazem isso?
A ciência é isso mesmo: uma longa e interminável sucessão de perguntas. E a neurociência coloca algumas das dúvidas mais interessantes que temos. Porque aqui mora o arquitecto de tudo. É esta parte de nós que nos faz andar, pensar, decidir, amar, criar, parar, continuar. É aqui que mora o medo e a imaginação, a memória e a consciência, uma conta de somar e um sonho. Cada minúscula luz que se acende com mais uma descoberta é importante. E, nos últimos anos, temos visto os avanços da tecnologia a ajudar muito a concretizar este brilhante projecto.
A história tornou-se ainda mais complicada e mais interessante com a intromissão da inteligência artificial (IA), a electrofisiologia, a farmacologia, ressonâncias magnéticas funcionais e outras técnicas de imagem, a óptico-genética, a edição de genes e o recurso à chamada modulação abstracta, entre outras ferramentas. O conhecimento acelerou.
O mito de que usamos 10% do nosso cérebro, criado por uma tentativa de simplificação que foi levada à letra por engano, foi definitivamente derrubado. Sabemos hoje que o cérebro funciona completamente e constantemente. Resta perceber como. Se quisermos usar uma percentagem de 10% quando falamos do cérebro, talvez não seja disparate dizer que o que sabemos sobre ele é menos (bem menos) do que 10% do que lá existe.
Nas últimas duas décadas, arrancaram enormes projectos de neurociência Big Science, no valor de milhares de milhões de euros, com promessas incríveis e novas formas de espreitar o que vai dentro das nossas cabeças. Na Europa, por exemplo, o Projeto Cérebro Humano (HBP, na sigla em inglês de Human Brain Project) – que está longe de ter conseguido cumprir o plano inicialmente concebido – anunciou que iria usar simulações de computadores para revelar pormenores da engenharia do cérebro. E se ver como tudo funciona “normalmente” – entenda-se: da forma mais comum na população – nos parece agora uma tarefa irresistível, o desafio de resolver os quebra-cabeças e avarias que levam a doenças e problemas de saúde mental é ainda mais entusiasmante.
Uma das muitas abordagens do HBP, que junta investigadores de várias áreas no estudo do cérebro e no desenvolvimento de novas aplicações de tecnologias nas neurociências, é a criação de modelos cerebrais personalizados de doentes. São uma espécie de “avatares cerebrais” que podem vir a ser úteis na clínica para optimizar as terapias. Um dos projectos, por exemplo, centra-se em doentes com epilepsia, conseguindo simular a disseminação das actividades cerebrais durante crises epilépticas. É uma nova forma de olhar que pode ajudar a resolver (ou, pelo menos, esclarecer) outros problemas neurológicos, como a doença de Alzheimer.
Outro grande projecto “cerebral” e multimilionário do nosso tempo é o “conectoma”, que surgiu nos EUA com a promessa de produzir o completo diagrama interactivo do cérebro humano. Recentemente – 35 anos depois de Sydney Brenner ter apresentado ao mundo os pormenores do esquema do cérebro de um verme com pouco mais de 300 neurónios chamado Caenorhabditis elegans –, os cientistas publicaram a imagem do cérebro da mosca-da-fruta, disponibilizando, em acesso aberto, o mapa tridimensional (conectoma) que inclui os seus 25 mil neurónios. O trabalho demorou 12 anos.
Há quem jure que, daqui a uns anos, graças ao projecto do conectoma, vamos ser capazes de digitalizar os neurónios do nosso cérebro, ou seja que conseguiremos digitalizar o nosso cérebro. É uma possibilidade que não nos arriscamos a desmentir, sobretudo quando vemos como do trabalhoso início da sequenciação de um genoma se passou rapidamente para uma realidade em que qualquer um de nós pode facilmente ter o seu próprio genoma sequenciado. Sim, é verdade que daí a percebermos o que ali está “escrito” vai um longo caminho. E o mesmo – ou mais ainda – vale para esta miragem do conectoma. Mesmo que nos apresentem este bonito mapa pormenorizado, quando tempo será preciso esperar para percebermos o que temos ali, à nossa frente? Além disso, a estrutura de um cérebro não é tudo, pode ser apenas um bom início. Os cérebros são redes dinâmicas e não mapas estáticos.
As imagens dos circuitos neuronais, ou mesmo de um simples neurónio, podem ser de uma beleza desarmante (convém lembrar que os nossos circuitos não são realmente coloridos como algumas imagens da ciência propagam), mas a forma como olhamos para estas representações ganha uma força estranha, por se tratar de algo tão complexo que existe em nós.
As modernas ferramentas aplicadas à neuro-imagem já conseguem atingir uma precisão que se aproxima da de um exame de tecido post-mortem. Graças a elas, os cientistas exploram todo o tipo de ligações que podem ser feitas entre as medidas do cérebro, o que está lá dentro e as características pessoais. Um estudo apoiado em ressonância magnética revelou, por exemplo, que os taxistas de Londres – e, imaginamos, de outras grandes cidades – apresentam um maior volume em determinadas zonas do hipocampo – uma região crucial para a memória – do que a população em geral. Outras investigações ensinaram-nos que os músicos que tocam numa orquestra possuem uma “área de Broca” – uma parte do cérebro no hemisfério esquerdo que está associada à linguagem – invulgarmente maior do que as outras pessoas.
Outros estudos focam-se na actividade cerebral, as luzes que se acendem no nosso cérebro. Uma das primeiras coisas que a ciência procurou neste órgão foi o amor que, dizem as crianças, vive no coração. Os neurocientistas garantem que acontece (também) no cérebro em menos de um segundo, despertando cerca de uma dúzia das diferentes regiões que o compõem. Mais: um estudo baseado em imagens cerebrais divulgado por uma equipa de cientistas da Universidade de Coimbra concluiu que alguns dos circuitos cerebrais activados em elementos das claques de futebol da Académica (os Mancha Negra) e do Futebol Clube do Porto (os Super Dragões) são semelhantes aos que o “amor romântico” desperta. Quem somos nós para duvidar?
Um outro trabalho recente de uma equipa de investigadores, liderada pela Unidade de Investigação de Neurociência Cognitiva da Universidade Autónoma de Barcelona (Espanha), recolheu dados durante cinco anos e quatro meses de um grupo de 25 mulheres que ficaram grávidas pela primeira vez e 20 mulheres sem filhos. Os investigadores, que publicaram um artigo na revista científica Nature Neuroscience, também analisaram os cérebros de 19 homens que foram pais pela primeira vez (companheiros das mulheres grávidas do estudo) e de 17 sem filhos. Todos os participantes nesta investigação foram sujeitos a várias ressonâncias magnéticas.
No cérebro dos homens, que parece ser imune à paternidade, não foram registadas alterações. Porém, o estudo revelou que, numa primeira gravidez, as mulheres sofrem reduções significativas de matéria cinzenta em regiões que estão associadas à cognição social. O que não significa qualquer tipo de declínio das funções mas antes uma “sintonização” e reorganização dos circuitos neuronais que optimizam o cérebro para melhor desempenhar a tarefa de ser mãe.
Mas, na verdade, o recurso a estas novas tecnologias mostra-nos realidades que é preciso continuar a interpretar e a perceber. A ressonância magnética funcional, por exemplo, revela-nos dados de grande precisão e imagens de grande beleza, mas continuamos sem saber o que acontece ao nível celular, nos neurónios e nas sinapses.
A maior parte das funções do cérebro humano surgem no chamado córtex cerebral, que é comprimido, através de muitas dobras, até um tamanho suficientemente pequeno para ser carregado aos ombros. Algumas regiões do cérebro são muito especializadas e recebem informações sensoriais dos nossos olhos, ouvidos, boca, nariz ou pele. É com estas regiões que se gerem as informações e os estímulos com que sentimos o mundo à nossa volta e que criamos respostas motoras. Mas é preciso mais do que isso para fazer um cérebro humano.
Temos de ir mais além e explorar as denominadas áreas de associação, que nos ajudam a usar as informações que recebemos. Por exemplo, para conseguirmos ler qualquer frase deste texto, além dos olhos, temos de usar partes do cérebro que ligam as letras umas às outras. Por sua vez, estas palavras ligam-se entre si e às memórias e significados que lhes estão associados. E assim, por processos similares a este, falamos, ouvimos ou escrevemos. Ou, simplesmente, pensamos.
Uma das infinitas curiosidades que alimentam a investigação científica está nos segredos de um cérebro criativo. Mais ou menos discutível é, por exemplo, a associação que muitos neurocientistas acreditam existir entre uma criatividade extraordinária e a saúde mental. Será que para haver espaço e tempo para a criatividade aplicada à arte ou à ciência é preciso sacrificar alguma coisa? Uma capacidade extraordinária, num domínio artístico ou científico, exige um preço a pagar? E, já agora, os incrivelmente dotados nascem assim ou é algo que se constrói, desenvolve, aprende ou apreende? Ou as duas coisas, como uma semente que existe mas tem de ser regada para germinar?
Parece que há transigências que os nossos cérebros parecem ser forçados a fazer. Eis, a propósito, um dos mais populares quebra-cabeças de todos os tempos: o cérebro de um adolescente. Há quase tantos neurónios no nosso cérebro como os artigos publicados que nos tentam ensinar a lidar com a imprevisibilidade de um cérebro nesta altura de desenvolvimento normalmente traumática (quanto mais não seja, para os pais que os acompanham…).
A adolescência é um momento único de sintonização e amadurecimento do cérebro, segundo muitos neurocientistas. Nesta altura, assiste-se, por exemplo, à afinação e poda das sinapses (as ligações entre os neurónios) que se reduzem entre a infância e a idade adulta. E o caminho faz-se muitas vezes entre (des)equilíbrios que os levam a correr riscos e a agir de forma aparentemente incompreensível. Por outro lado, sabe-se que é nesta fase de desenvolvimento que surgem outros problemas de saúde mental como, por exemplo, a esquizofrenia. Mas será que uma coisa está relacionada com a outra? Se está, como? O pouco que sabemos diz-nos apenas que o cérebro se desenvolve de forma diferente, na sua estrutura e funções, em adolescentes que acabam por apresentar sintomas de esquizofrenia ou outras doenças mentais. Mas ainda ninguém encontrou o gatilho (os vários gatilhos) que permitiriam corrigir este desvio. Na infância, na adolescência ou noutra idade qualquer.
Recentemente, a neurocientista britânica Sarah-Jayne Blakemore esteve em Portugal para participar numa conferência organizada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre o tema do cérebro adolescente. A cientista lembrava que as novas técnicas que nos permitiram espreitar para o cérebro (e enquanto ele funciona) levaram, entre outras conclusões decisivas, a perceber que as mudanças de comportamento na adolescência são causadas por uma combinação de factores (ambiente, cultura, alterações hormonais, enquadramento social), incluindo mudanças muito substanciais no cérebro.
“As neurociências já mostraram que o cérebro dos adolescentes tem muita plasticidade, é possível mudá-lo. O que é bom e mau, ao mesmo tempo. É mau porque significa que, se o cérebro está a mudar na adolescência, os acontecimentos perturbadores no ambiente que os rodeia podem ser uma má influência para o seu desenvolvimento . Mas também existe aqui uma oportunidade em que intervenções, aprendizagens, reabilitações terão um grande impacto, porque o cérebro ainda é maleável”, explicou a investigadora.
Pode parecer óbvio, mas a descoberta de que o cérebro continua a desenvolver-se durante a adolescência, e não apenas durante os primeiros cinco anos de vida, é recente. E mesmo depois, na idade adulta, a máquina (com mais ou menos problemas que possam surgir associados ao envelhecimento) não pára de nos surpreender. Segundo um estudo divulgado o ano passado, a formação de novos neurónios não pára no final da adolescência mas é antes um processo que continua ao longo da vida, confirmando-se ainda em idosos com mais de 90 anos.
Na investigação sobre a neurogénese adulta, que decorreu em Espanha, a equipa de cientistas analisou amostras de tecidos cerebrais da região do hipocampo para avaliar os danos provocados em pessoas com doença de Alzheimer. Confirmaram uma diminuição acentuada dos neurónios nos doentes, mas perceberam também que nos cérebros saudáveis, apesar de se confirmar um declínio, a formação de novos neurónios continuava até idades avançadas. O mais velho cérebro analisado pelos investigadores onde encontraram provas deste processo de formação de novos neurónios pertencia a um homem de 97 anos. No entanto, os resultados deste trabalho não abalam o antigo conceito que diz que a maioria dos neurónios que existem no nosso cérebro estão lá desde que nascemos. Isso continua a ser verdade.
O cérebro funciona a todo o momento. E muda ao longo do tempo. A plasticidade é uma das suas características mais incríveis, embora também possa ser uma das mais frustrantes para os cientistas que procuram o normal, o padrão ou, por exemplo, o cérebro típico de um adolescente, de um homem ou de uma mulher. Depois, esta maravilha das novas tecnologias pode passar de uma preciosa ajuda a geradora de volumes alucinantes de informações produzidas e divulgadas por milhares de laboratórios em todo o mundo…
Há uma sucessão imparável de novidades: o que acontece no cérebro quando comemos, quando ouvimos uma música, vemos uma obra de arte, lemos um livro, aprendemos uma nova língua, fazemos exercício, temos um orgasmo, nasce um filho, uma criança chora, dormimos ou sonhamos, nos lembramos de alguma coisa, enfrentamos um perigo, envelhecemos.
O novo mundo das admiráveis tecnologias derrubou muros que pareciam inultrapassáveis e provou que os nossos cérebros mudam. E também mudam por causa delas, tais como as tecnologias de comunicação, as redes sociais, os jogos de computador, os telemóveis. Mas mais importante do que essa constatação é perceber se isso é bom ou mau. Se isso está a danificar o cérebro ou a adaptá-lo para um melhor desempenho neste ambiente. E isso ainda não sabemos.
O impacto do uso (e abuso) dos ecrãs na organização dos cérebros dos adultos e, sobretudo, dos mais novos já preocupava muitos investigadores. Com a pandemia da Covid-19 que isolou as pessoas em casa, suspendeu as aulas presenciais e impôs os ecrãs como único meio de comunicação entre alunos e professores, o problema tem ainda mais importância. Chegamos assim ao conceito que alguns cientistas chamam cérebro biliterado, adaptado à leitura digital e impressa. O processo de aprender a ler muda o nosso cérebro, mas o que lemos, como lemos e onde lemos (um livro, um telemóvel, um computador) também tem influência.
Transformar novas informações em conhecimento consolidado nos circuitos do cérebro requer vários processos (incluindo o recurso ao raciocínio abstracto) e muitos deles implicam um tempo e atenção que nem sempre dedicamos numa leitura digital. É por isso que “deslizamos” pelas palavras de um texto num ecrã, numa leitura corrida e “na diagonal” que vai travando aqui e ali, numa ou outra palavra que se destaca. É provável que muitas das pessoas que leram este texto o tenham feito usando este método e, uma grande parte, sem sequer dar conta disso.
Sabemos que para cada nova tecnologia ou progresso que surgiu ao longo da história houve a mesma preocupação com o impacto que isso teria nos nossos cérebros. Reza a história que Platão temeu que a escrita iria destruir as memórias de toda a gente, porque já não seria preciso lembrarmo-nos de nada, estaria tudo registado. A profecia pode parecer radical, mas, ao mesmo tempo, não parece improvável que as regiões dos cérebros que guardam as memórias tenham sofrido alguma alteração ao longo do tempo provocada pelo nosso modo de vida. Daqui a alguns anos, teremos mais dados. E mais perguntas.
Algumas das respostas que procuramos podem estar na chamada “Big Science”, podem estar nas novas tecnologias, podem estar nas investigações que são feitas em cérebros muito mais pequenos – como o da mosca-da-fruta – dentro de laboratórios. Podem estar nessas três frentes combinadas com muitas outras. Mas, analisando as nossas limitações, por exemplo por razões éticas, que nos impedem de explorar e experimentar os cérebros humanos, há uma questão que não deixa de ser inquietante: será que os nossos cérebros são demasiados limitados para percebermos como funcionam os nossos incríveis e ilimitados cérebros?
O acordo ortográfico utilizado neste artigo foi definido pelo autor

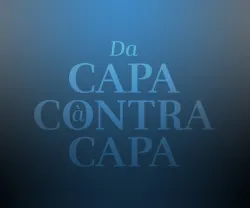
![A radialista Filipa Galrão e o endocrinologista Ricardo Rangel, lado a lado, com o logotipo "[IN]Pertinente" ao centro, acima das suas cabeças, sobre um fundo cinzento claro.](/sites/default/files/styles/teaser_small/public/2026-01/INP2026_CIENCIA_1_SITE_1280x720_destaque_0.png.webp?itok=hv5UNUcv)