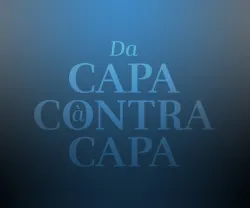The problem we all live with
Mil esperanças num só sorriso. Não é? Um grande sorriso aberto. E o olhar, reparem bem no olhar dela. Mil esperanças. Todas juntas, numa só criança.
Não havia o direito de a insultarem quando, aos seis anos de idade, se dirigiu a uma escola em Nova Orleães para ser a primeira aluna negra a ter aulas num local que até então só era frequentado por brancos.


Não havia o direito de todos os professores dessa escola se recusarem dar-lhe aulas. Durante um ano, foi a única aluna de uma turma, com uma professora especialmente enviada de Boston. A voluntária, vinda do Massachusetts, ensinou-a «como se estivesse a dar aulas para uma turma inteira». A menina estranhou ao princípio, pois nunca tivera uma professora branca. Hoje recorda-a como a melhor professora que teve na vida. Professora e aluna não faltaram um dia sequer.

E não havia o direito de, todas as manhãs, uma mulher a ameaçar na rua, dizendo-lhe que a iria envenenar («I’m going to poison you. I’ll find a way!»), a ponto de os agentes federais destacados para a proteger terem determinado que a menina só poderia comer o que trouxesse de casa.
Não havia o direito de uma outra mulher, mãe de filhos, a assustar à porta da escola, mostrando-lhe uma boneca vestida de negro dentro de um caixão. Ainda hoje ela recorda que isso a atemorizou mais, muito mais, do que os insultos que ouvia enquanto caminhava.
Não havia o direito de o seu pai ter perdido o emprego apenas porque a filha, na Primavera de 1960, ter sido dos poucos alunos negros que passaram nos testes para serem os primeiros a estudarem em escolas integradas. Os testes eram propositadamente difíceis: quantos mais reprovassem no exame de admissão mais forte seria o argumento para manter um sistema que separava negros e brancos. Dos 135 alunos que concorreram, só seis foram apurados. Desses, dois decidiram ficar na escola de origem e três foram transferidos para McDonough. A menina ficou só, a única criança negra inscrita na William Frantz Elementary School.

Não havia o direito de lá longe, no Mississípi onde a menina nascera, os seus avós serem expulsos das terras onde trabalhavam há 25 anos como rendeiros, no ancestral regime de sharecropping. Expulsos apenas porque a neta frequentava uma escola que era reservada a meninos de pele branca. Eram também brancos os donos de uma mercearia a que os seus pais habitualmente iam às compras; desde o dia em que a menina entrou na escola, disseram à sua família para não voltar a aparecer na loja. Não havia o direito.

Mas havia o Direito, e outros direitos. Um tribunal ordenara que as crianças negras tinham esse direito – o direito de frequentarem as mesmas escolas que as outras crianças, que delas se distinguiam apenas pela cor da pele. 1 de Novembro de 1960. A ordem era para cumprir, mesmo que os pais das crianças brancas não tenham aceitado a decisão dos tribunais, tirando os filhos da escola no dia em que a menina negra lá entrou. No primeiro dia nem houve aulas, com ela refugiada no gabinete do director. As autoridades não vacilaram. O Presidente Eisenhower enviou agentes federais para a proteger.

A conselho da mãe, a menina rezava no caminho para a escola. Que mantra recitaria incessantemente, ladeada por polícias, na solidão de si mesma? Por certo, não conheceria Solitude of the Self, um dos mais belos e poderosos discursos da causa dos direitos das mulheres, pronunciado no Congresso norte-americano em 1892 por Elizabeth Candy Stanton (1815-1902). Ainda assim, atravessou as ruas na solidão de si mesma.
Aos seis anos de idade, julgando que a confusão em seu redor nada tinha que ver com ela, pensando que tudo aquilo eram os tumultuosos festejos de Mardi Gras em Nova Orleães. A idade da inocência, estranha e maravilhosa. Caminhava sem olhar para o lado, por entre gritos e impropérios. Sem um sinal de medo, sem uma lágrima. Os agentes federais que a acompanhavam surpreenderam-se com a coragem daquela menina de seis anos, que marchava resoluta, em passo marcial, rumo à escola onde não tinha um só amigo, mas centenas de inimigos, todos da sua idade. Um antigo membro dos U.S. Marshals, Charles Burks, recorda-se: «Nunca chorou, nunca choramingou. Seguindo o seu caminho, marchava em frente como um pequeno soldado. Tínhamos todos muito orgulho dela».

Um psiquiatra infantil, Robert Coles, ofereceu-se para a acompanhar. Todas as semanas ia a sua casa para conversar com ela. Daí resultou um livro sério e sisudo, The Desegregation of Southern Schools: A Psychiatric Study, publicado em 1963 pela Anti-Defamation League. E, do mesmo autor, uma obra para crianças. Desta última, publicada em 1995, resultaria a redescoberta da menina, Ruby Nell Bridges, agora casada e mãe de filhos, a Srª Ruby Hall.

Naquele ano de 1960 alguns pais continuaram a mandar os seus filhos à escola, apesar dos protestos e dos tumultos. Simplesmente, como não eram da turma de Ruby, esta continuou a ter aulas sozinha. Entre os que foram à escola estava Pam Foreman Testroet, a primeira menina branca que brincou com Ruby. Os manifestantes indignaram-se muito mais com o gesto do pai de Pam, Lloyd Foreman, um pastor metodista de 24 anos, do que com a ida de Ruby para a escola. Lloyd Foreman é um dos heróis desta história. Outros seguiram-lhe os passos.
O pai de Ruby, Abon Bridges, voltou a ter emprego, graças à ajuda de um vizinho que lhe deu trabalho a pintar casas. Outras versões dizem que o novo emprego foi arranjado pela National Association for the Advancement of the Colored People (NAACP), que apelara a que os pais inscrevem-se os filhos em escolas até aí reservadas a brancos. Abon Bridges mostrou-se relutante ao início, mas a vontade da mãe, Lucille, prevaleceu, correspondendo ao apelo da NAACP. Aos seis anos de idade, Ruby Nell Bridges, lançada para a frente de combate contra a discriminação racial, pioneira involuntária da luta contra os preconceitos, tornava-se a primeira criança negra a frequentar uma escola primária do Deep South que até então fora exclusiva dos brancos.
A comunidade ajudava os pais, ficava com as crianças mais novas (Ruby era a primogénita), vigiava e protegia a casa da família. Para a defender, chegaram a ir a pé, atrás do carro dos agentes que a transportavam até à escola. «A minha família não teria conseguido fazer aquilo sem o apoio dos nossos amigos e dos nossos vizinhos», afirmou Ruby recentemente. A comunidade ajudou. «Comunidade»? Em Portugal não há disso, só em Rio de Onor. Já vamos falar mais à frente da importância do sentido de comunidade.

Entretanto, Ruby Bridges cresceu, pois é a lei da Natureza, mais sábia do que a insensata natureza humana. Ainda hoje vive em Nova Orleães, com o marido e os seus quatro filhos. Durante quinze anos, trabalhou numa agência de viagens. O irmão de Ruby morreu em 1993. As suas sobrinhas frequentaram a mesma escola que um dia lhe quis fechar as portas. Ruby Bridges levava-as à escola todas as manhãs. Cada ida até à William Frantz representava para si um regresso ao passado. Ruby trabalhou como voluntária na sua antiga escola, três dias por semana, como representante dos encarregados de educação.

A publicidade gerada em torno do livro do psiquiatra Robert Coles, saído em 1995 com o título The Story of Ruby Bridges (com ilustrações de George Ford), despertou a atenção dos media para alguém que, entretanto, mergulhara no esquecimento. Em 1960, por razões de segurança, o nome de Ruby Bridges fora omitido das notícias. Agora, ninguém mais se lembrava dela. Os jornalistas conseguiram localizá-la, bem como à sua antiga professora, Barbara Henry. Em 1999, Ruby publicou a sua autobiografia, Through My Eyes, e decidiu lançar uma fundação com o seu nome para combater os preconceitos e a segregação racial. A antiga professora e a sua aluna fizeram palestras em escolas, uma das várias iniciativas da Ruby Bridges Foundation, que já trabalhou em parceria com o Centro Simon Wiesenthal.
Nas suas memórias de infância, parcialmente transcritas aqui, Ruby recorda os dias em que era escoltada de automóvel até à William Frantz Elementary School, apesar de a mesma distar apenas uns poucos quarteirões da sua casa (essa fora, aliás, uma das razões para escolher a William Frantz…). Lembra-se do dia em que foi fazer o teste de admissão a uma escola integrada, vestida a rigor. E recorda o trajecto de autocarro na companhia da mãe até um local onde mais de cem meninos negros aguardavam a realização da prova. Foi-lhe dito, na altura ou mais tarde, que o teste era especialmente difícil: se os negros reprovassem em massa, as autoridades escolares de Nova Orleães conseguiriam impedir – ou pelo menos atrasar – a aplicação das medidas de integração que haviam nascido à sombra da famosa sentença Brown v. Board of Education of Topeka, que o Supremo Tribunal Federal proferira em 1954.
Naquele Verão de 1960 vários membros da NAACP tinham ido a casa dos seus pais, dizendo que Ruby fora a única aluna aprovada, que a William Frantz era melhor e mais próxima de sua casa do que a escola que então frequentava. A mãe, Lucille, estava convencida de que nada de mal iria acontecer à família se dessem um passo que todos sabiam ser ousado. Em Setembro, no início do ano, Ruby permaneceu na antiga escola: através de sucessivas medidas – mais de 28 leis segregacionistas! – os legisladores da capital estadual, Baton Rouge, com a cumplicidade do governador (e cantor religioso e profano) James «Jimmie» Davis, tinham conseguido retardar o cumprimento das decisões do tribunal federal. Este, sob a égide do juiz James Skelly Wright, nunca abandonou a sua firme posição de combate às leis discriminatórias, qualificadas como «uma tragédia» pelo jornal de maior tiragem de Nova Orleães, o Times Picayune.

Prevendo o pior, o juiz Wright, outro dos heróis desta história, solicitara ao governo federal que enviasse agentes e forças da ordem. Domingo, 13 de Novembro, a mãe de Ruby disse-lhe que no dia seguinte iria frequentar a nova escola e que, provavelmente, muita gente estaria no exterior à sua espera. Não havia razão para medo, assegurou – ela estaria ao seu lado. Ficou surpreendida quando, na manhã seguinte, quatro agentes federais apareceram à sua porta. Levaram-na num carro, ao lado da mãe. Ruby não se lembra de ter tido medo. Nem sequer quando um dos agentes lhes disse que iriam sair dos carros primeiro e só depois mãe e filha deveriam abandonar as viaturas, encaminhando-se directamente para o interior do edifício escolar, sem olhar para trás. Minúscula, escoltada por quatro homens corpulentos, Ruby não via o rosto de ninguém, recordando-se apenas dos gritos e dos objectos que a multidão arremessava. Na sua ingenuidade, supôs que a presença de tanta polícia, quer a que a escoltava, quer a que estava à sua espera na porta da escola, era um indício de que aquele estabelecimento de ensino deveria ser um local muito importante. A confusão do primeiro dia não a perturbou – julgava que os gritos dos pais dos alunos e o caos envolvente eram normais numa escola daquelas dimensões. Nesse dia, 14 de Novembro, mãe e filha ficaram juntas. Sentaram-se e esperaram. Chegadas as três da tarde, Ruby ficou contente: era hora de regressar a casa. Muito tempo depois, soube que, durante toda a manhã, manifestantes se haviam aglomerado nas cercanias da escola. Aos alunos e aos seus pais juntaram-se jovens estudantes universitários. Entoavam hinos como «Glory, glory, segregation, the South will rise again». Porém, o que mais a assustou não foram os hinos e as vozearias, os impropérios ou os emblemas hostis – foi a visão de uma boneca vestida de negro num caixão.

Depois dos insultos de há cinquenta anos, hoje chovem as homenagens. Uma história tipicamente americana. Bill Clinton atribuiu-lhe a Presidential Citizens Medal em 2001. No ano anterior, Loreena («Lori») McKenna fez uma música em sua honra, «Ruby’s Shoes» e em 1998 a Disney produziu Ruby Bridges. A Real American Hero, um telefilme dirigido por Euzhan Palcy que contou a história da sua coragem. Para a elaboração do filme, a Disney contou com a participação da própria Ruby Bridges, da sua antiga professora e de Robert Coles, o psiquiatra que a acompanhou naqueles tempos conturbados. Também já foram feitas peças de teatro com a história de Ruby Bridges e o Youtube tem várias dramatizações amadoras, geralmente feitas por jovens estudantes, crianças.
Ruby e a família perderiam a casa e os haveres em 2005, nas inundações provocadas pelo furacão Katrina (é melhor não entrarmos na questão ricos vs. pobres e brancos vs. negros a propósito das vítimas do Katrina...). No ano seguinte, em Outubro de 2006, foi inaugurada uma escola com o seu nome. Um mês depois, em Novembro, foi homenageada num espectáculo, o Anti-Defamation League's Concert Against Hate. Numa exposição no Museu da Criança de Indiannapolis, em 2007, o seu nome figurou ao lado dos de Ann Frank e de Ryan White.

Para quem não saiba, Ryan White (1971-1990) foi uma criança hemofílica que, por ter contraído acidentalmente o vírus da SIDA/HIV, viu negada a sua entrada numa escola em 1985. Após uma batalha legal que durou anos, conseguiu concluir os estudos, morrendo em 1990. Nomes grandes homenagearam-no. Elton John, que muito ajudou a sua família, cantou no funeral, a que compareceram desde a Primeira Dama, Barbara Bush, a Michael Jackson, um cantor que fez várias operações plásticas para embranquecer a pele. O antigo Presidente Ronald Reagan, que com a sua mulher Nancy apoiara Ryan e a família nas suas infindas batalhas judiciais, escreveu nesse dia um comovido artigo de jornal, in memoriam. A mãe recordava-se de o filho ser insultado na rua, quando ia a caminho da escola ou de regresso a casa, com gritos de «sabemos que és gay!». Algo parecido com o que Ruby sofrera, vinte anos antes. Ryan está sepultado ao lado da mãe. A sua campa já foi profanada quatro vezes.
Numa reunião na sua antiga escola, em 2010, Ruby reencontrou Pam Forema Testroet, que com cinco anos de idade fora a primeira criança branca a quebrar o boicote à presença da menina negra na William Frantz Elementary School. Entretanto, tinham passado 50 anos. Cinquenta anos. Vejam este vídeo da CBS News, com imagens do reencontro e outras de 1960, onde se pode ver o terrífico caixão com uma boneca.

Em 2011, Ruby visitou uma escola em Oakland, coincidindo com a inauguração nessa cidade do monumento Remember Them, da autoria de Mario Chiodo. O monumento, de gosto discutível, mas típico da escultura convencional norte-americana, representa 25 personalidades que ao longo da História se destacaram pelo seu trabalho em prol da Humanidade. Lá encontramos Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt, Nelson Mandela, Gandhi, Luther King, Oskar Schindler, Elie Wiesel, Rosa Parks, Madre Teresa, Winston Churchill, Helen Keller. Num dos extremos, minúscula, uma criança, a única criança de todo o monumento: Ruby Bridges.

Há cerca de um ano – mais precisamente, em 15 de Julho de 2011 – Ruby Bridges foi à Casa Branca. Na parede fronteira à entrada para o Salão Oval, o Presidente Obama, por sugestão de Ruby, mandou colocar um quadro, que aí ficou exposto durante alguns meses no Verão passado. O quadro chama-se The Problem We All Live With.
Há cerca de um ano – mais precisamente, em 15 de Julho de 2011 – Ruby Bridges foi à Casa Branca. Na parede fronteira à entrada para o Salão Oval, o Presidente Obama, por sugestão de Ruby, mandou colocar um quadro, que aí ficou exposto durante alguns meses no Verão passado. O quadro chama-se The Problem We All Live With.
The Problem We All Live With é um óleo de Norman Rockwell, datado de 1964 [ou 1963], com 91 x 147cm.
Norman Percevel Rockwell (1894-1978), pintor e ilustrador, imortalizou Ruby Nell Bridges sem sequer saber o seu nome. Ainda que dissesse que os Rockwell «eram distintos pela sua falta de distinção», Norman nasceu numa família relativamente abastada. Mais abastada seria não fora o caso, digno da queirosiana A Relíquia, de uma tia rica e sem filhos, de quem os Rockwell aguardavam a herança, ter legado a sua fortuna para a compra de bíblias destinadas aos prisioneiros de Sing-Sing. Um gesto bonito, sem dúvida. Pela parte da mãe, Norman era neto de Howard Hill, um retratista e naturalista inglês mal sucedido, que emigrou para os Estados Unidos após a Guerra Civil. O rapaz não gostou muito dos tempos passados em Nova Iorque, com uma mãe depressiva que lhe ensombrou a infância e, porventura, a idade adulta – ao longo da vida, também ele padeceu ciclicamente do mal depressivo. A família era profundamente religiosa e o rapaz foi menino de coro em St. John the Divine, a igreja-catedral nova-iorquina que serviu de cenário a uma conhecida cena de The Godfather III, de Coppola. O pequeno Norman revelou, desde muito novo, um talento extraordinário para o desenho. Numa das suas recordações mais remotas, lembra-se de desenhar as personagens de David Copperfieldenquanto o avô lhe lia em voz alta o livro de Dickens.
É como ilustrador realista, ademais prolífico (produziu mais de 4.000 obras), que ficará conhecido para a posteridade. Aliás, o próprio sempre afirmou ser um mero ilustrador, ainda que haja motivos para desconfiar de tanta modéstia. Conhecia e admirava os grandes pintores, a ponto de, em 1960, no seu famoso Triple Self-Portrait (um painting within a painting within a painting…), ter chamado para junto de si os auto-retratos de Dürer, Rembrandt, Picasso e Van Gogh, o que não fizera noutros trabalhos profundamente autobiográficos, como Blank Canvas - Deadline (1938).
Na feitura da tela The Connoisseur (1962) quis mostrar que era capaz de pintar à maneira de Jackson Pollock. E inspirou-se abertamente em Miguel Ângelo para pintar Rosie the Riveter, um ícone cultural dos Estados Unidos, imagem que saiu na capa da Saturday Evening Post de 29 de Maio de 1943. Rockwell gostava, aliás, de brincar com o mundo das artes e dos críticos. Tal acontece em The Connoisseur (título mordaz…), mas também em The Art Critic (1955) e, de forma menos evidente, em Portrait (1946). E, já agora, em Artist and Critic, de 1928. A propósito, convém dizer que a ideia de que Rockwell era ou é menorizado não tem inteira consistência. É certo que, quando morreu, um crítico influente afirmou que a sua obra não deixara e nunca deixaria marcas, no que se enganou. Mas também é certo que os pintores realistas o admiram, que Willem de Kooning (1904-1997) coleccionava os seus quadros e que Andy Warhol exaltava o seu talento, artístico e comercial. No mundo da crítica, nomes de prestígio começam a elogiá-lo. E as retrospectivas sucedem-se. Nos leilões, os seus quadros alcançam valores estratosféricos.
Em 1912, quando ainda era estudante, para o livro Tell-Me-Why Stories About Mother Nature, faz, entre outros, Mastodons, Pterodactyli e Ichtyossauri, um trabalho que não interessa a ninguém. Apenas o menciono para poder falar de uma vaga em que essa ilustração se inscreve e de queCharles R. Knight (1874-1953) é, para mim, o expoente máximo, com uma obra interessantíssima (mas, claro, menorizada). Vejam aqui, ou então este livro.

A precocidade do talento de Norman e a marca do seu estilo inconfundível são patentes num quadro de 1914, The Magic Foot-Ball, o qual, além de uma alusão a Millet, é um extraordinário prenúncio de tudo o que faria a seguir, mostrando que, em termos técnicos e artísticos, nunca evoluiu nem teve inclinações experimentalistas. Porque não quis. Não quis, porquê? Porque desde novo teve uma carreira de sucesso.
A primeira encomenda apareceu aos 16 anos, fez o primeiro livro ilustrado aos 17. Aos 18 anos já era o director artístico da Boy’s Life, revista dos escuteiros da América e, em 1916, com 22 anos, faz a sua primeira capa da Saturday Evening Post (e casa pela primeira vez, com Irene O’Connor, de quem se separará). Um autor de sucesso, que competia com os melhores: Howard Chandler Christy, A. B. Frost, N. C. Wyeth (grandioso!), Maxfield Parrish, os irmãos Leyendecker e James Montgomery Flagg, a quem se deve o famosérrimo Uncle Sam Wants You. Houve algum «industrialismo» em tudo isto, a ponto de, por exemplo, sermos incapazes de distinguir se algumas capas da Post eram de Rockwell ou de J. C. Leyendecker (este, aliás, fez mais capas para a Post do que Rockwell). Ambas eram iguais, até no estrondoso acolhimento que tiveram junto dos leitores. Assim, para quê mudar? Há flutuações, evoluções, percebemos que os trabalhos dos anos 20 são diferentes dos das décadas seguintes. Mas, no período anos 30-anos 50, é difícil saber ao certo a data dos vários quadros. Excepto, claro, aqueles em que é flagrante a presença da guerra, com destaque para a série Willie Gillis, personagem criado por Rockwell que na altura muitos julgaram existir na realidade. Isto valeu-lhe ser comparado ao grande Winslow Homer (1836-1910), o que, convenhamos, talvez seja um exagero. Tirando estes momentos, a sua obra é homogénea e compacta.
Existem, todavia, momentos de ruptura na trajectória artística de Norman Rockwell. De resto, The Problem We All Live With é, porventura, o ponto de viragem mais saliente da sua obra. No tema e na técnica, assinala um startling switch, sobretudo para um homem que se autodefinia como alguém que pintava a vida como gostaria que ela fosse (cf. Sherry Marker,Norman Rockwell, 1989, pp. 17-18). Ainda assim, permaneceu sempre fiel ao que sabia e gostava de fazer: quadros figurativos, retratos realistas, com uma mensagem directa e simples. Daí a razão da sua extraordinária popularidade.
Em regra, Norman Rockwell é relativamente admirado pela sua técnica mas profundamente desvalorizado pela sua arte. Tomam-no, na melhor das hipóteses, como um ilustrador tecnicamente talentoso, ameno e pacato, inofensivo e pueril, cujas imagens nos comovem fugazmente ou nos fazem sorrir pela sua candura pura. Umas vezes, artista de humor previsível; outras, dado ao sentimentalismo fácil. Sexo e violência, nada. Pior ainda, o establishment considerava-o um paladino dos valores arcaicos e conservadores. «Rockwellesco» tornou-se sinónimo de uma pintura demasiado fácil, feita para consumo de massas, o apogeu pictórico de um certo burguesismo kitsch. Vladimir Nabokov tem uma frase letal: «Dalí é um irmão gémeo de Norman Rockwell raptado por ciganos quando era pequeno».
Não abundam as análises aprofundadas The Problem… Uma, excelente, de Richard Halpern, será referida adiante. Outra encontra-seaqui. Um pouco transviada, com o devido respeito. Diz o autor que, muito provavelmente, a criança não ia vestida de branco para a escola, que se tratou de um artifício do artista para reforçar o contraste com a pele negra da menina, com o cinzento dos U.S. Marshals, com a descoloração geral da tela. Não viu o escriba dessa intrincada análise as fotografias de Ruby a caminho da escola? Não sabe como muitas mães negras vestem os seus filhos a rigor? Mais: há um outro quadro de Rockwell, New Kids in the Neighborhood (1967), em que a menina negra, vestida de branco, tem muitíssimas afinidades com a criança retratada em The Problem… Mas já lá vamos.

De um modo geral, todos salientam, e com acerto, que a alvura do vestido contrasta com o cinzentismo burocrático dos fatos dos agentes federais. É um facto. Mas a inteligência de Rockwell está noutros detalhes: nas paredes, a inscrição racista, «Nigger». Ainda mais esmaecidas, três letras «K K K», numa alusão letal ao tenebroso Klan. Ao centro, a polpa do tomate arremessado escorre como uma mancha de sangue humano, algo nunca vista nos quadros de Rockwell. Em termos pictóricos, um exercício à maneira de Pollock. A rapariga caminha serena, vai segura mas não altiva. Os livros e a régua mostram-na como aquilo que era: uma estudante a caminho da escola. Outro pormenor, decisivo: não se vêem os rostos dos agentes. Se se vissem as caras dos U.S. Marshals o olhar do observador desfocar-se do essencial; em suma, toda a tela perderia vigor. Diluir-se-ia a mensagem que pretende transmitir. Assim, a força da ordem e o império da lei adquirem um tom impessoal, sendo justamente esse o segredo e mistério da sua autoridade. O quadro seria um desastre se mostrasse as caras dos agentes. A força está lá, e pressente-se, mas não se exibe ostentatoriamente. A ponto de, segundo Rockwell, que visitou a União Soviética e compreensivelmente apreciava o realismo socialista, os russos julgarem que a menina não estava a ser levada para a escola; ao invés, estava a ser transportada à força para fora do estabelecimento escolar. Rumo onde, ao Gulag?

O olhar do observador é forçado a situar-se em redor da menina. Tudo o mais são adereços. Para obter esse efeito, Rockwell colocou-a ligeiramente à esquerda, o que confere naturalidade à composição, uma técnica em que o pintor era mestre. Pensou colocá-la à direita, na zona de trás, mais protegida; mas assim, à esquerda, na vanguarda, tem um ar mais corajoso e simultaneamente mais sereno. Todos os trabalhos de Rockwell fascinam pela espontaneidade tranquila, pelo extremo realismo, pelo modo como o observador parece surpreender e desvendar repentinamente uma cena do quotidiano que decorre diante dos seus olhos, como se ele não estivesse lá. Este talento «cinematográfico» é uma das principais causas da sedução da obra de Rockwell e da sua imensa popularidade. Também aqui, em The Problem…, o autor evidenciou essa sua mestria de captação de um instante, mas de um instante em que se adivinha muito mais do que isso, em que se imagina o antes e o depois, na mais pura linha das storytelling pictures. Na sua obra há trabalhos «cinéticos» que fogem a este padrão e que, ao contrário de congelar o tempo num instante decisivo, exploram, como nos comics, a dinâmica de uma sucessão de imagens; nesses trabalhos, a narrativa é apresentada na íntegra, sem apelo à imaginação do observador nem espaço para que ela se desenvolva. Tal acontece num desenho a carvão, não muito conhecido, que retrata o incêndio do estúdio do artista ocorrido em 1943 (My Studio Burns, 1943), que destruiu centenas de quadros. Os trabalhos que seguem esta lógica de forma mais evidente são The Gossips (1948), que as minhas filhas adoram, e o duplo Day in the Life of a Little Girl e Day in the Life of a Little Boy, ambos de 1952.
Repare-se que The Problem… não mostra a multidão enfurecida, mas apenas as marcas da sua actuação: o tomate esmagado, as inscrições na parede. Desse modo, Rockwell engrandece e singulariza a heroína, enquanto critica a cobardia daqueles que só actuavam em bando. Mais: o ponto de vista do observador da tela é colocado como se este estivesse integrado na multidão ululante. A horizontalidade das linhas reforça essa perspectiva, que é extremamente perturbadora e até interpelante. Olhamos para a menina como se nós próprios fizéssemos parte daqueles que a insultavam e ameaçavam. Há muita inteligência e muita subtileza em tudo isto – e é óptimo mostrar a inteligência e a subtileza de artistas considerados «menores» ou «vulgares».
A propósito: não percebo por que motivo glorificam a extraordinária cena do pequeno-almoço em casal de Citizen Kane mas, em contrapartida, desprezam com snobismo um quadro de Rockwell que explora exactamente o mesmo tema, a ausência de comunicação na vida conjugal: The Breakfast (ou Breakfast Table), de 1930, é anterior 11 anos relativamente ao filme de Welles. Este, claro, era um génio e introduz uma perspectiva diacrónica, ilustrando a sucessiva degradação da life with Emily do cidadão Kane. Mas também Rockwell não teve pudor em abordar o tema da conjugalidade deteriorada, tendo igualmente mostrado, ainda que de forma complacente, discussões entre casais por questões políticas: The Debate, de 1920, que é claramente retomado em Election Day, de 1948. Noutro quadro, mais tardio, The Marriage Counselor (1963), mostra um casal na sala de espera de um conselheiro matrimonial – o marido traz o olho negro, fruto de uma agressão da mulher. Por ser um facto caricato e até um cliché humorístico, a mulher bater no marido era algo com que se podia brincar: Rockwell nunca teria mostrado uma mulher agredida por um homem. Em todo o caso, retratou várias vezes os problemas da vida conjugal, questões que também o afectaram. Parece estranho em alguém que é conhecido – e criticado – por dar uma visão rósea da realidade americana e por ser um partidário dos valores tradicionais.
Como se disse, The Problem We All Live With interroga-nos, questiona-nos, pergunta-nos de que lado estamos. Hoje, talvez isso não faça muito sentido. Mas fazia sentido – fazia muito sentido – em 1964. Para termos presente o que estava em causa lembremos o que fizeram aos Freedom Riders, caso ocorrido em 1962, precisamente em Nova Orleães. Lembremos igualmente que, quando Ruby se dirige à escola, em Novembro de 1960, não havia ainda o Civil Rights Act, de 1964, nem se tinham ouvido em Washington, a 28 de Agosto de 1963, as palavras tonitruantes do sonho de Luther King.
O título não era nada inocente a este propósito, com as palavras bem claras: «we all». Desta guerra ninguém se poderia alhear. O «problema» não era apenas entre activistas negros e sulistas racistas. Dizia respeito a todos nós. Era o problema com que todos vivemos, para usar uma tradução desastrada e literal.
A menina é o centro da composição, sem que Rockwell a colocasse exactamente aí. Fazia sentido. Aquela história tinha muitos protagonistas, vilões e heróis, mães racistas e gente como o pastor Foreman ou o juiz Wright. No entanto, aquela era a história de uma só menina – e de uma menina só, que caminhava rezando. Houve a professora e o psicólogo, a mãe e o pai, os vizinhos, a comunidade. Mas, no caminho para a escola, Ruby era só ela, mais ninguém. Aliás, nessa fragilidade residia a força do seu exemplo. Aí residia também o mais desarmante argumento contra os segregacionistas: que mal poderia fazer aquela menina de seis? Que risco ou ameaça poderia transportar consigo? Por ser tão inofensiva é que Ruby era tão perigosa. A vida é feita destes paradoxos… Em Little Rock, em 1957, ainda se poderia dizer que era um grupo de nove estudantes já crescidos, que poderiam criar uma facção, fundar uma célula subversiva. Aqui, não. Era tudo tão puro e tão simples… E isso tornava ainda mais risíveis ou detestáveis os argumentos daqueles que queriam impedir Ruby de frequentar uma escola de meninos da sua idade.
Importava, por isso, sublinhar a solidão de Ruby Nell Bridges. Dela, muitos se recordam. Mas ninguém se lembra dos outros meninos negros que foram para a McDonough. Esses iam juntos, podiam apoiar-se mutuamente. Ruby, em certos momentos, só contava consigo própria.Solitude of the Self. Em todo o episódio, há um cruzamento de coragem individual e sentido comunitário, uma mescla de individualismo e comunitarismo que é, por assim dizer, profundamente «americana». Duvidam? Vejam os filmes do Capra, o mais «rockwellesco» cineasta que conheço.
Norman Rockwell sabia que o valor da «história» (era umstoryteller…) e a dimensão do «problema» (the problema we all live with…) impunham justamente que fosse destacada a figura da criança e a sua singularidade. Se fossem duas ou três meninas a caminhar em conjunto, falando umas com as outras, a história perderia interesse – ou, pelo menos, impacto narrativo. Não por acaso, já houve quem comparasse o quadro de Rockwell à fotografia daquele que, em Tianamen, enfrentou sozinho uma coluna de tanques.
Há quem evoque Ruby a propósito de imagens em que, no seio de um grupo, alguém se destaca pela sua singularidade. Num exercício algo forçado, o blogue No Caption Needed (de que existe um livro) traça um paralelo entre a menina do quadro de Rockwell e a segunda figura que caminha em fila indiana, numa escola de Washington, imagem publicada pelo Washington Post na série «Starting a New School Year».
Além de realçar a solidão da criança, Norman Rockwell, ao situá-la ligeiramente à esquerda na tela, conferiu realismo e naturalidade à pintura. Não era credível, de facto, que Ruby caminhasse exactamente a meio dos quatro guardas que a acompanhavam. A colocação da num ponto não-central permite ainda abrir espaço para preencher o vazio assim criado com a palavra «Nigger» («the n-word») e a mancha do tomate.
No entanto, Norman Rockwell parecia ser relativamente inseguro quanto à transmissão da sua mensagem. Apesar de os seus quadros, pelo extremo realismo, mostrarem tudo e serem completamente auto-explicativos, Norman Rockwell parecia não acreditar nas suas capacidades de storyteller e por isso colocava elementos que contextualizavam suplementarmente a cena retratada. Como se fosse necessário… Já em 1921, em No Swimming, vemos as crianças molhadas (e o cão) numa corrida de fuga, tendo por trás o aviso da proibição de nadar. Em Breaking Home Ties (1954), um dos seus trabalhos mais comoventes, encontramos um dístico universitário na mala do rapaz que parte de casa. A lanterna e a bandeira mostram-nos que o pai e o estudante aguardavam a chegada de um comboio. Ao analisar o quadro, o especialista Thomas S. Buechner traçou um paralelo com O Regresso do Filho Pródigo, de Rembrandt. A alguns pode parecer uma heresia, mas a mim deixa-me feliz: o quadro de Rockwell é, talvez, o que mais gosto em toda a sua obra e o de Rembrandt é uma das pinturas predilectas da minha mãe, talvez mesmo aquela de que mais gosta. Prossigamos com as inscrições patentes nos quadros de Rockwell. No celebérrimo Saying Grace (1951), encimando a idosa e a criança que fazem as suas orações, vemos as letras pintadas que mostram estarmos num restaurante (confronte-se com outra obra da mesma temática, Family Grace, de 1938). Em Suffleton’s Barbershop (1950) temos igualmente as letras pintadas no vidro, agora indicando tratar-se de uma barbearia. EmHomecoming Marine, de 1945, Rockwell vai mais longe: o soldado tem na mão uma bandeira japonesa enquanto relata os seus feitos de guerra aos colegas e amigos (e a duas crianças que o contemplam como se contempla um ídolo). Na parede, um jornal exibe a cara do rapaz, com o título «Garageman a Hero». Num famoso quadro de 1953, Girl With a Black Eye(ou Outside the Principal’s Office), as letras na porta assinalam que a maria-rapaz endiabrada, com um olho negro, foi chamada ao gabinete do director da escola (não sei porquê, mas é o quadro de Rockwell a que as minhas filhas mais acham graça…). Outra obra, já referida, tem muitas analogias com esta: The Marriage Counselor, de 1963, onde o marido de olho negro e a esposa agressora aguardam ser atendidos por um conselheiro matrimonial. Na porta do escritório, as letras «Marriage Counselor». Nalguns casos, é possível que Rockwell fizesse isto não por insegurança mas em busca de realismo. Noutros, para deixar na tela uma mensagem suplementar, como acontece em Homecoming Marine. Era também uma forma inteligente e subtil de designar os quadros, para que o público que olhasse para as capas da Post compreendesse de imediato o que estava em causa, sem necessidade de legendas ou demais explicações. Por acaso, quando a revista Lookpublica The Problem We All Live With não menciona o nome da obra (fá-lo apenas no índice). De facto, como vimos atrás, o título do quadro era interpelante e até provocatório, tanto ou mais do que a própria pintura. Daí a prudência dos editores da Look.
Um outro ponto deve ser sublinhado: a enorme, e talvez excessiva, desproporção de tamanho entre a menina e os homens que a protegem. Quatro agentes em redor de uma criança, formando à sua volta um perímetro inexpugnável de segurança. Quatro torres e um peão. Ruby, de facto, foi um peão, um peão da NAACP, na guerra das escolas integradas em Nova Orleães. Mas para quê tanto aparato? Porque, naqueles dias tumultuosos, tinha mesmo de ser assim. E foi mesmo assim que tudo se passou. Uma vez mais, Rockwell não vai além dos factos, não supera o real nem recria uma realidade-outra. Esta autenticidade, esta fidelidade ao real, é, aliás, uma das suas grandes virtudes. Não toma partido de forma explícita, o que tem motivado várias interpretações deste quadro, algumas bastante disparatadas (como aventar que seria uma tela segregacionista…). A neutralidade de Rockwell sempre foi uma das suas marcas, o que se compreende num artista que se via a si próprio como um simples ilustrador e que fazia capas de uma revista destinada a atrair milhões de leitores, cada qual com a sua opinião. Tomar partido seria suicidário, em termos comerciais e artísticos (repetimos: o comercial e o artístico andam a par na obra de Rockwell). Além do seu talento óbvio, o êxito pretérito de Rockwell na Post e as características da sua arte devem-se, em larga medida, ao surgimento, nos alvores, dos anos 20 da impressão rápida a quatro cores. Era um mundo novo, mas que exigia cautela por parte do explorador. «Além de ser tecnicamente competente, inventivo e prolífico, tinha de esconder as suas opiniões pessoais, as suas causas e preferências que os leitores poderiam não partilhar; tinha de produzir a verdade visual exacta», salienta Thomas S. Buechner (Norman Rockwell. Artist and Illustrator, 1983, pág. 21), que na juventude fora estafeta da Post e se converteu num dos maiores especialistas na obra de Rockwell.
Também aqui, em The Problem…, há contenção do subjectivismo autor, ainda que mais matizada do que nos seus anteriores trabalhos para aPost. Rockwell mostra a menina imperturbável, tal qual ela caminhou nesses dias para a sua escola. Minúscula, protegida por bons gigantes de que não vemos os rostos.
Aliás, na sua narrativa autobiográfica, Ruby Bridges recorda que, a caminho da escola, não conseguia ver os rostos daqueles que a insultavam, rodeada que estava de polícias gigantescos. A presença imponente das forças da ordem, marchando como numa parada militar (repare-se nos punhos cerrados), não é um artificio para aumentar o dramatismo da cena, é um retrato fidedigno do que se passou. Num dos primeiros esboços, Rockwell terá pensado, porventura, em colocar a frágil mas determinada criança apenas protegida por dois agentes, caminhando à frente dela (mas também, é claro, pode ser apenas um primeiro ensaio, em que foi pintada uma apenas uma parte de todas as figuras projectadas).
A denúncia do preconceito, insistimos, é feita através de um retrato extremamente realista do que efectivamente se passou em Nova Orleães, no ano de 1960. A violência da situação, ainda assim, é implícita – e exposta de modo subtil. Rockwell não mostra a multidão enfurecida. Nem era esse, de resto, o seu estilo. Nas suas pinturas do tempo da 2ª Guerra, nunca, ou quase nunca, vemos soldados em acção (há um G.I., com uma metralhadora, em posição de combate, mas nada mais). Sangue, então, é coisa que jamais aparece. Com o tempo, como veremos, a violência tornar-se-á mais explícita e o sangue acabará por aparecer. No passado, houve, é certo, o originalíssimo Strictly a Sharpshooter (1941), obra singular no contexto da produção de Rockwell. Mas aí estamos perante uma luta de boxe, o que não é considerado violência – pelo menos naquele tempo, pelo menos na América.
Em The Problem… a cor também é importante, sobretudo pela sua ausência. Eis uma técnica que o pintor conhecia e usava de há muito, com destaque para Strictly a Sharpshooter, de 1941. Note-se como Rockwell apresenta os agentes federais enviados por Eisenhower: marciais, vestindo fatos que se confundem com as paredes e o chão, sendo que dois estão de castanho claro e outros dois de cinza (as cores dos fatos alternam na diagonal, o que adensa a ideia de uma «caixa» formada em torno de Ruby). Do ponto de vista da cor, a parede nada tem de significativo, o mesmo ocorrendo com o chão. Deste modo, ainda se destacam com mais vigor os elementos que Rockwell quis realçar: o branco da menina negra e o vermelho sanguíneo do tomate. O vestido imaculado, de angelical alvura, sobressai do tom geral da pintura, envolta numa coloração suja e pardacenta. Ruby Bridges, num branco impecável, destaca-se pela serenidade e pelo estoicismo. O quadro tem pouca ou mesmo nenhuma dinâmica. A ausência de cor alia-se à ausência de movimento, como se as figuras estivessem paradas, assemelhando-se a estátuas, o que acontece com os agentes mas também com a menina.
Ao contrário do que sucedera com todas as suas obras anteriores, Rockwell não quis retratar uma pessoa, mas um símbolo. Um «emblema de maturidade» ou uma «Rosa Parks em miniatura», numa tela em que o autor teve de se rodear do maior cuidado, já que facilmente poderia ter resvalado no mais grosseiro e risível kitsch (cf. Richard Halpern, Norman Rockwell: The Underside of Innocence, 2006, pp. 124ss).
A imagem do quadro, concluído em 1963, surgiu pela primeira vez nas páginas centrais da revista Look, em 14 de Janeiro de 1964, o que valeu ao autor vários elogios mas não menos críticas. A revista, nesse número, tinha como tema «How We Live». Acrescentava: «Up in the city, Down on the farm, Out in the suburbs. In homes packed with pride, prejudice and love». Daí também o título da pintura: «The Problem We All Live With». A Look mostrava vários modos de vida nos Estados Unidos e Rockwell ilustrava um problema que a todos dizia respeito. Simplesmente, aquilo não era típico de Norman Rockwell, o poeta visual da americanidade, dos valores sólidos que fizeram a grandeza dos Estados Unidos. «Um quadro destes, tratando este tema, realizado por alguém que era acarinhado pelos sectores mais conservadores do país, fez com que muita gente parasse e pensasse que, de facto, havia um problema. Esse problema era o racismo, pura e simplesmente», como já alguém observou, aqui.
A questão dos direitos civis estará presente noutras obras de Rockwell, muito mais vulgares e de menor fôlego. Há uma pintura de 1938 em que a questão das minorias é aflorada. De uma forma extremamente irónica, Rockwell mostra um índio tristemente espantado (humilhado?) a receber pelo correio um postal publicitário com os dizeres «See America First». O índio, perplexo, contempla-nos frontal e directamente, olhos nos olhos, como se estivesse a ser retratado. Para que outros lugares poderia ele ir, se não a América onde nascera? Existe uma análise de Jack Doyle muito completa e informada sobre a questão racial na obra de Rockwell, aqui, mas onde, curiosamente, este trabalho não é mencionado, porventura porque estas abordagens são dominadas em exclusivo pela perspectiva da negritude. Há também uma dissertação académica, de Kirstie Kleopfer, sobre o envolvimento de Rockwell na questão dos direitos cívicos, disponível aqui, mas onde aquele quadro também não é referido, estranhamente. Também não é citado um trabalho feito por Rockwell, no final da vida e da carreira, para o Department of Interior, Bureau of Reclamation. Os índios vêem a barragem como um sinal de progresso ou como uma ameaça às suas terras e tradições?
The Problem We All Live With é, já o dissemos, um momento de ruptura numa obra que se destaca pela sua continuidade e longevidade (Rockwell fez capas para a Post de 1916 a 1963…). A ruptura é estética mas coincide com outras mudanças que por certo a influenciaram. A mulher de Rockwell, Mary Barstow, morrera repentimaente em 1959, de ataque de coração, os filhos saíram de casa e, em 1961, Norman tinha uma nova, terceira e derradeira companheira, Mary L. «Molly» Punderston, uma professora reformada e fervorosa liberal. O artista fez um desinspiradodesenho a lápis do novo casal, de perfil (abusava dos perfis...), em 1965, que fica muitíssimo aquém de outro desenho (vertido em tela) que realizara de Mary Barstow, no ano da morte desta.
Ao liberalismo da mulher juntava-se o dos amigos. Entre eles, o célebre psiquiatra Erik Erickson, também um liberal que ajudava Rockwell nas suas depressões recorrentes. O ponto é relevantíssimo. Porquê? Porque Erickson era uma espécie de figura tutelar para Robert Coles. Sim, Robert Coles, o jovem psiquiatra que se voluntariara para acompanhar Ruby Bridges, o homem que desde Março 1963 publicou na The Atlantic Monthlyum conjunto de artigos sobre os efeitos devastadores da discriminação racial na auto-estima das crianças. Aí relatava o caso da menina de Nova Orleães – e é muito provável que Erickson tenha falado a Rockwell de Robert Coles, autor de The Desegregation of Southern Schools. Actualmente, Coles é um reputado psiquiatra infantil, professor em Harvard, autor de mais de 75 livros, galardoado com o Prémio Pulitzer… querem mais?
No plano profissional, assiste-se também a uma grande viragem na trajectória de Norman Rockwell. Ao fim quase 50 anos de colaboração, deixou de trabalhar para a Saturday Evening Post, onde teve a sua época dourada entre meados dos anos 30 – fala-se em 1935 como o ponto de partida do seu apogeu – e finais da década de 50. Já se buscou uma explicação ideológica para a saída de Rockwell da Post, onde criara nada menos do que 318 capas (há quem refira 321), cada qual vista por cerca de 4 a 5 milhões de pessoas por semana. Segundo essa interpretação, a que até o blogue oficial da Casa Branca parece aderir, o pintor-ilustrador estaria insatisfeito pelo facto de os editores da revista o obrigarem a retratar os negros numa atitude subserviente. Rockwell era, ele próprio, subserviente em relação a quem lhe pagava (no caso da Post, para mais, pagava mal: recebia $5.000 por ilustração, quando cobrava o dobro noutras encomendas). É um facto que Norman Rockwell sempre quis, acima de tudo, agradar aos clientes, sendo, nesse aspecto, um artista completamente «comercial» (mas não ganancioso: ainda na juventude, rejeitou propostas mais tentadoras da concorrência e manteve-se fiel à Post). E é também um facto que alguns trabalhos seus mostram os negros numa posição servil e respeitosa, como sucede em Boy in Dining Car (1946). Uma história de perfeccionismo e meticulosidade: a sua obsessão com os pormenores era tal que visitava os locais que ia pintar; neste caso, conseguiu que uma carruagem-restaurante fosse deslocada para um depósito em Nova Iorque e esquadrinhou-a de alto abaixo, na busca da autenticidade total. Não admira que entregasse os seus trabalhos ultrapassando todos os prazos…. Se emBoy in Dining Car o empregado negro surge, de facto, numa atitude servil, importa dizer várias coisas. Desde logo, isso era natural: o empregado era um empregado, certo? Depois, o servilismo não é assim tão grande: o empregado observa com um sorriso paternal o rapaz que lê a ementa como se fosse um adulto, procurando parecer um adulto. Nesse sentido, será também paternal o modo como, em The Runaway (1958), o polícia e o empregado de um restaurante de estrada olham para um rapazinho que pretendia ingenuamente fugir de casa com uma trouxa às costas. A ideia de que os editores da Post, que o artista sempre louvou, queriam que Rockwell figurasse os negros numa atitude subalterna é ainda infirmada por uma razão mais simples, mas decisiva: ao longo de quase cinco décadas de colaboração com a revista, praticamente nunca desenhou um negro. Existe, é certo, um trabalho muito pouco citado, Woman Fallen From Horse (ouThataway), de 1934, em que um negrinho indica a uma amazona desafortunada a direcção que o seu cavalo tomara. Mas não se pode dizer que o menino negro apareça à boa maneira Jim Crow.
Eis um ponto curioso, porventura muito característico de «Rockwell I»: os negros não faziam parte da paisagem humana que retratava. Trata-se, aliás, de uma ausência impressionante. Aconselho os leitores interessados a fazerem um exercício em família: existe um livrinho de bolso, da Abbeville Press (1990), que recolhe 332 capas e ilustrações. É a forma mais prática de percorrer a obra de Rockwell de fio a pavio. Folheiem o livro: não se vê um negro. Há uma alternativa mais pesada, o mastodôntico Norman Rockwell. Artist and Illustrator (1983). É um livro descomunal, horrível de manusear. Tem dezenas ou centenas de ilustrações, em grande formato, muito próximo do real. Negros à vista? Nada (ou muitíssimo pouco…). De resto, na sérieFour Freedoms, de 1943, feita na sequência de um discurso de Roosevelt e especialmente apta a integrar pessoas de várias cores, só aparecem brancos. Um dos freedoms, o celebérrimo Freedom From Want é, aliás, dos quadros mais «conservadores» de toda a sua vastíssima produção. Tudo indicia, portanto, que Rockwell não pintava os negros numa aparência servil; pura e simplesmente, ignorou-os até aos alvores dos anos sessenta. Daí que não seja de acolher inteiramente a tese segundo a qual teria abandonado a Postporque esta o obrigava a retratar negros de uma forma que não apreciava. Ainda assim, é um facto que a Post não queria problemas. E The Problem We All Live With era, naturalmente, um grande problema. Como referiu Rockwell, numa entrevista de 1971, «George Horace Lorimer [o editor daPost] que era um homem muito liberal, disse-me para não retratar negros, salvo como criados».
Há alguns casos, raríssimos, em que aparecem negros. Um jovem engraxador de barbearia, em Full Treatment (1940), mas onde quase não se vê de que cor é a sua pele. The Banjo Player, um trabalho de 1926, onde um ancião mostra a sua arte a um escuteiro – não é propriamente uma atitude servil, mesmo que se admita que o cenário remete para o velho ambiente elitista, sulista e racista. Love Ouanga, de 1936, mostra uma negra bem vestida, numa igreja, em contraste com outros negros, mas não há qualquer servilismo ou menosprezo em função da raça. Depois, há quadros em que os negros surgem em cena, como acontece em Homecoming (1945) e emRoadblock (1949). Note-se, nestes dois casos, que os negros aparecem no seio de uma multidão e, em Homecoming, parece estarem integrados no bairro que aguarda a chegada do soldadinho. Em Roadblock, surgem de costas, praticamente não se vêem. Das duas uma: ou Rockwell retratava os negros de costas (em Roadblock e em Full Treatment) justamente para não assinalar a sua condição subalterna, tal como os editores lhe exigiam; ou, pura e simplesmente, não tinha técnica nem experiência para desenhar os rostos e as expressões de pessoas de raça negra. Esta última interpretação não é descabida, atento o facto de Rockwell ser um perfeccionista. E, se virmos bem, a menina de The Problem… não prima pela perfeição… De qualquer modo, em trabalhos da década de sessenta mostra ser capaz de desenhar e pintar pessoas negras, se bem que décadas e décadas a retratar apenas brancos deixaram as suas marcas: a negritude, em Rockwell, é inexpressiva e vazia.
A explicação mais convincente para a saída de Rockwell da Post é de natureza económica ou comercial. Norman Rockwell abandonou a Postporque a revista decidiu modernizar-se e, para isso, ter ilustrações na capa, como acontecia há décadas e décadas, não era propriamente o mais aconselhável. The Times They Are A-Changin’… Agora, chegara a era da fotografia, mais directa e mais forte na sua mensagem. A Collier fechara em 1965, a Post sofria a concorrência da televisão. Apenas a Life e a Look se mantinham em alta: para a Look aquele tempo foi, aliás, o do seu apogeu. O editor era Dan Mich, um apologista do jornalismo interventivo e de causas, situado nos antípodas da abordagem asséptica da Staurday Evening Post; ele e o director artístico da revista, Allen Hurlburt, deram plena liberdade a Norman Rockwell.
Reconhece-se, contudo, que também não existem muitos dados que confirmem por inteiro que o turning point de Rockwell se deveu a circunstâncias comerciais. Este tem uma frase interessante, a este respeito: «For 47 years, I portrayed the best of all possible worlds – grandfathers, puppy dogs – things like that. That kind of stuff is dead now, and I think it’s about time». No entanto, isto pouco nos diz sobre o abandono da Post. A autobiografia que publica com o filho Thomas, My Adventures as an Illustrator, vê a luz do dia em 1960, sendo anterior, portanto, quer à saída de Rockwell da Post, quer, por maioria de razão, à feitura de The Problem We All Live With. Da autobiografia do autor nada poderemos saber quanto a este ponto. Refira-se, a propósito, que não abundam as obras de qualidade e profundidade sobre Rocwkell. Na esmagadora maioria, o que existe são álbuns com imagens e pouco texto, pois é isso que o consumidor – e bem! – aprecia. Alguns exemplos, entre muitos: de Thomas S. Buechner, The Norman Rockwell Treasury (1992); o citado livro da Abbeville Press, que não passa de um tiny folio organizado em 1990 por Christopher Finch, autor que em 1985 nos havia já presenteado com Norman Rockwell’s America; doutro calibre, Beverly Gherman, Norman Rockwell. Storyteller with a Brush (2000); completamente vulgar é Best of Norman Rockwell, preparado pelo filho, Tomhas (2005). Igualmente irrelevante, Norman Rockwell. Pictures for the American People (1999). Pela minha parte, acho uma bela introdução o livro de Sherry Marker, com o título singelo Norman Rockwell(1989) e, pese o seu tom oficial, Norman Rockwell. A Centennial Celebration, organizado pelo próprio Museu Rockwell, de Stockbridge, e, por isso, com acesso privilegiado a um acervo muito amplo de quadros e esquissos. Muito bom, pela sua rara profundidade, o ensaio de Richard Halpern, já citado (Norman Rockwell: The Underside of Innocence, 2006). Original entre muitos, Norman Rockwell. Illustrator, de Arthur L. Guptill (7ª reimp, 1972), de que tenho, ó orgulho!, um exemplar autografado pelo próprio Rockwell, devido à ajuda amiga da Joana & João. Recentemente, saiu um dos livros mais curiosos sobre a sua obra, Norman Rockwell: Behind the Camera, de Ron Schick, publicado em 2009. Neste maçador parêntesis bibliográfico deve salientar-se ainda a já referida edição prestigee mastodôntica, do também já citado Thomas S. Buechner: Norman Rockwell. Artist and Illustrator, de 1983. É um trabalho desmesurado e pouco prático de folhear, mas tem a vantagem de apresentar as ilustrações quase em tamanho real. Neste livro descomunal The Problem… surge num desdobrável gigante que é, segundo creio, muito mais aproximado do tamanho real do quadro do que as páginas centrais da Look. Só existe, ao que sei, uma grande biografia do grande ilustrador: Norman Rockwell. A Life, de Laura Claridge, saído em 2001 e, em paperback, em 2003. Considerada «a biografia» do popular ilustrador, tem quase 550 páginas. Mas o nome de Ruby Bridges só é citado… uma vez. Existe uma longa entrevista, de quase uma hora (!), com Laura Claridge, aqui.
Regressemos ao nosso quadro. Norman Rockwell inaugura a sua colaboração com a Look marcando presença nas páginas centrais (e não na capa, como por vezes se diz, incluindo gente do Museu Rockwell ou o blogue da Casa Branca!). Logo a abrir a sua estreia na Look, o quadro A Problem We All Live With.
Nesta fase, abandonados os tempos dos retratos da América doce e terna, a sua obra sofre um declínio completo. O que Rockwell sabia fazer perdera-se nos alvores dos anos 60. Começou, então, a abraçar aquilo a que se poderia chamar «United Nations style». Neste registo humanista-universalista, Rockwell revelou-se um desastre. Veja-se o pavoroso The Golden Rule(1961), só resgatado do 100% horrendo pela comovente presença da recém-falecida mulher do artista, em primeiro plano, segurando ao colo o neto que ela nunca viu. Nesta linha humanista-universalista temos ainda os trabalhos sobre a acção da juventude intrépida do Peace Corps, capitaneada por Kennedy e a espalhar idealismo e fraternidade na Etiópia ou na Bolívia. Aliás, de um modo geral o «United Nations style» é um completo desastre, bastando para o efeito visitarmos em Nova Iorque o interior do edifício-sede da ONU, organização que o artista admirava e em que depositava grandes esperanças. Na sede das Nações Unidas esteve para figurar um gigantesco mural de Rockwell, muito próximo de The Golden Rule, mas o artista desinteressou-se do projecto, existindo apenas um desenho a carvão desse trabalho; em todo o caso, e para que o mau-gosto não se perdesse, em 1985 a Primeira Dama Nancy Reagan ofereceu à ONU um mosaico feito a partir de The Golden Rule. Um descalabro. Novo acidente de percurso: How Goes the War on Poverty (1965), uma ilustração para a Look sobre o programa de combate à pobreza lançado por Lyndon Johnson. Rockwell transitara do United States style para o United Nations style, com claro prejuízo para a sua obra, nos seus anos derradeiros.
Quanto ao desconchavo que é este estilo ONU, existem excepções, sem dúvida. Um exemplo muitíssimo diferente, mas ainda inscrito na linha humanista-universalista do pós-guerra: a exposição The Family of Man, comissariada pelo grande Edward Steichen, que, depois de Nova Iorque (1955), percorreu 38 países do planeta e 9 milhões de visitantes, até uma parte dela estacionar definitivamente no Luxemburgo, terra natal de Steichen.
Nos inícios da década de sessenta, Norman Rockwell faz um périplo pelo mundo, a expensas da Look. Aquele que outrora pintara Bob Hope (1954) retratava agora Nehru e Nasser (ambos em 1963) ou Bertrand Russell (para a Ramparts, em 1967). Esteve na União Soviética – e daí trouxe um nefando retrato de uma menina russa, Portrait of a Russian Child(1964), e Russian Schoolroom (1967), uma composição sobre uma sala de aula marxista, ordeira e atenta, com um busto de Lenine em cima da mesa da professora. Note-se, para mais, que Norman pinta a turma soviética muito mais bem-comportada do que ela era na realidade, como o demonstra a fotografia em que se baseou.
Ao envelhecer, Norman torna-se mais sério e solene, mais «oficial», porventura porque era esse o «nicho de mercado» para o qual solicitavam agora as atenções do consagradíssimo Mestre. A sua arte perde o valor que tinha: inocência mas subtileza, graça leve mas penetrante, humor e sentimentalismo.
Talvez a culpa fosse da idade, do terceiro casamento ou do périplo que fez pelo mundo. Não se pense, porém, que aquela sua volta planetária equivaleu a uma reviravolta ideológica. Nisso, Norman Rockwell sempre se manteve fiel ao princípio-base: era um ilustrador, um profissional, que antes de tudo o mais trabalhava por encomenda e para satisfação dos clientes (em jovem, quando esteve alistado na Marinha, durante a Grande Guerra, ia fazendo retratos dos oficiais…). Em 1966, a pedido da Twentieth-Century Fox, realiza uma série de pinturas promocionais de Stagecoach, um westernde Gordon Douglas (remake do homónimo do filme de Ford, de 1939), em que, aliás, participa, com um papel mudo onde personifica uma personagem chamada «"Busted Flush" Rockwell». O ilustrador-pintor adorou participar no filme sobre o Velho Oeste. Não abandonara, portanto, o americanismo mais puro e autoglorificador, a religião civil de 313 milhões de seres humanos.
Não por acaso, o filme Forrest Gump (1994), de Zemeckis, é fortissimamente inspirado no universo de Rockwell, a ponto de uma das cenas ser quase uma recriação do quadro Girl With Black Eye. Também não por acaso, Steven Spielberg e George Lucas, medularmente «americanos», são grandes coleccionadores rockwellianos, matéria sobre a qual até existiu uma exposição e um livro recente, Telling Stories: Norman Rockwell From the Collections of George Lucas and Steven Spielberg, de Virgina Mecklenburge e Todd McCarthy (2010). No seu gabinete de trabalho, Spielberg tem na parede alguns dos estudos que serviram de base ao Triple Self-Portrait e o maravilhoso Boy on a High Dive (1947). Há gente com sorte, como se vê aqui.
Quanto à questão racial, temos então New Kids in the Neighborhood,de 1967. Uma vez mais, uma ilustração para a Look, mais precisamente para um artigo sobre os negros nos subúrbios, inserido num número dedicado aos subúrbios da América. É, sem dúvida, um quadro muito menos forte e militante do que The Problem We All Live With. Há quem diga mesmo que apresenta uma visão optimista do problema racial, constituindo um regresso aos tempos do conformismo do bom e velho Norman Rockwell. Parece-me um exagero: as crianças brancas observam os novos vizinhos com um ar curioso, mas não necessariamente amistoso. O ponto mais interessante está na forma como Rockwell estabelece o equilíbrio e a paridade entre brancos e negros: desde logo, porque viviam doravante no mesmo bairro; depois, porque isso não trazia tumultos nem tomates, nem grafitos do Klan; além disso, partilhava-se, de um lado e do outro, a mesma condição etária – eram crianças. Acima de tudo, antes do mais, eram crianças. Goste-se ou não, critique-se a sua vulgaridade, um ponto é indiscutível: Norman Percevel Rockwell foi dos artistas que captou de forma mais intensa e insistente os delicados mistérios da infância e as ternas travessuras da meninice. Estatísticas: 90% das capas que fez para aPost entre 1916 e 1919 mostravam crianças; metade das capas dos anos 1920-1929 faziam o mesmo. Isto para não falar, claro, da ligação de muitas décadas aos escuteiros, para os quais fez centenas de trabalhos.
New Kids… data de 1967. The Problem… foi pintado três anos antes. Em 1964, mostrava-se uma negrinha a ir para a escola guardada por agentes federais. Em 1967, a chegada a um subúrbio de classe média de uma nova família, de raça negra. Agora, não há tumultos nem polícias, só crianças a mirarem-se com curiosidade e algum (efémero) distanciamento. A América pacificada? Talvez não. Desde logo, porque, apesar de tudo, o tema brancos/negros ainda justificava que Norman Rockwell sobre ele se debruçasse, prova de que nem tudo estava resolvido nessa matéria. O «problema», the problem, ainda estava aí, merecendo atenção. Depois, e mais decisivamente, porque as crianças se observam mutuamente, mas a curiosidade de parte a parte mostrava que aquilo ainda era uma novidade: uma família negra poderia ir morar para ali, mas não estava garantido de que se viesse a dar bem num bairro de brancos.
Em New Kids… existe um pormenor nada irrelevante: os negros trazem um gato persa branco; os brancos têm a seus pés um cão negro. Ambos, no fundo, tinham animais de estimação; até nisso eram iguais. E o rapaz negro tem atrás das costas uma luva de beisebol, em tudo idêntica às que os rapazes brancos transportam consigo. Há algo que, ao vermos os quadros de Rockwell, profundamente narrativos, nos acorre de imediato ao espírito: e depois, o que se passou? Storytelling pictures, uma especialidade antiga em que Norman se revelou um dos grandes mestres de todos os tempos. Aqui, em New Kids…, pelo menos como eu vejo as coisas, tudo indicia que Rockwell pretende sugerir que, em seguida, após se farejarem mutuamente, as crianças negras e brancas foram brincar juntas.
Doutro teor é um trabalho anterior. Refiro-me a Southern Justice (Murder in Mississippi), de 1965. Não entremos em grandes divagações ideológicas: a ideia nem sequer partiu de Rockwell, sendo o quadro uma encomenda da Look. O caso retratado é real, um homicídio ocorrido no Sul em 1964. Não vamos contar em pormenor a história do crime, até porque há muita gente que se queixa que o Malomil se estica em excesso na desmesura dos seus textos. Mas, ao contrário de Rockwell, Malomil não faz tudo o que os clientes querem… Quem gostar fica, quem não gostar vai frequentar outro blogue ao lado, também aberto 24h. Ele há tanta coisa boa por aí…
Regressemos ao que interessa, Southern Justice. À semelhança do que sucedera em The Problem…, Norman Rockwell não exibe os agressores, apenas o rasto de ódio que deixaram na tela. O quadro mostra dois brancos e um negro, todos vítimas de um ataque racista. Por terra, um branco, ainda vivo, contorcendo-se de dores. De joelhos, com a camisola tingida de sangue, o negro tenta agarrar-se à vida agarrando-se ao homem branco que olha corajosamente os agressores, cujas sombras se vêem projectadas no chão, o que permite verificar que eram vários e consigo empunhavam o que parece serem espingardas ou bastões. O ar fantasmagórico das sombras parece sugerir a presença de membros do Ku Klux Klan. A paisagem é lunar. O título sardónico e revoltado: «Southern Justice». Era assim que, no Sul, se fazia justiça. Note-se que o título não é da autoria de Rockwell, mas dos editores da Look. Caso raro: os editores e, vencida uma inicial relutância, o próprio autor concordaram que um dos estudos preliminares era muito mais impressivo do que a tela final. Esta, de facto, perdia força narrativa e impacto emocional justamente por ser excessivamente realista. Aliás, o produto final submetido à Look era, convenhamos, muito fraquinho, quer no conteúdo quer na forma. Ao invés, o estudo preparatório tinha, por assim dizer, uma ressonância goyesca, com as cores muito mais abertas, flamejantes, Mississipi Burning. Os rostos eram máscaras toscas, fugidias, com movimento, muito mais incisivas do que se estivessem desenhadas na perfeição. Como se disse, o quadro retrata a morte de três jovens: James Chaney, de 21 anos, de Meridian, Mississípi; Andrew Goodman, um branco, judeu, estudante de Antropologia em Nova Iorque; Michael Schwerner, igualmente judeu, de 24 anos, activista e antigo assistente social, também em Nova Iorque. Encontravam-se no Mississípi para auxiliar os negros no trabalho de registo para efeitos de participação eleitoral. Durante dias, foram dados como desaparecidos. O Presidente Johnson ordenou uma investigação em larga escala que, em Agosto de 1964, acabou por descobrir os corpos: tinham sido brutalmente espancados e depois mortos a tiro. Por membros do Klan auxiliados por um chefe da polícia. Alguns foram condenados mas apenas em 2005, após décadas de pressão, o Estado do Mississípi prendeu e condenou Edgard Ray Killen, o homem que planeara e dirigira a matança. É lenta, a Southern justice.
Um outro trabalho de Rockwell surpreende por não se enquadrar naquilo que era o seu estilo de décadas. Este, então, é um caso radical de desalinhamento. Algo nunca visto: Rockwell exibia dois cadáveres e sangue. O título escolhido, não por acaso, era: «Blood Brothers». Um branco e um negro, lado a lado, partilhando a morte. Em 1967, na sequência do assassinato de Luther King, tinha havido tumultos em mais de 100 cidades norte-americanas. Rockwell teve a ideia de fazer um quadro que mostrasse o resultados da violência e propô-la ao editor da Look, Allen Hurlburt, que lhe deu luz verde. Começou por fazer um desenho em que o sangue de um negro e de um branco, deitados no chão, se misturava, mostrando a superficialidade das diferenças raciais – diferentes na pele, mas irmãos no sangue. Continuou a trabalhar no projecto até ao dia em que Hurlburt lhe sugeriu que mudasse o ambiente de um ghetto para a guerra do Vietname. O artista acedeu: colocou uniformes, um capacete no chão. Mas a mensagem era a mesma: na guerra, na morte, não há discriminações nem distinções de cor. O quadro ganhou o nome, Blood Brothers, mas, por circunstâncias que desconhecemos, acabou por não ser publicado na Look. Rockwell não gostou da decisão.
Por coincidência, foi contactado pelo Congress of Racial Equality(CORE), uma organização de defesa dos direitos cívicos fundada por estudantes da Universidade de Chicago em 1942. O facto de o CORE contactar Rockwell é prova provada de que a sua fama de «conservador» se esfumara. Queriam que o pintor/ilustrador fizesse um cartão de Natal para a organização, idêntico aos que, durante décadas, desenhara para os Boy Scouts. Norman mandou-lhes a pintura Blood Brothers. Certamente, não era um bom cartão de Natal… Ainda assim, os membros do CORE rejubilaram com a oferta. Não se sabe, porém, se a usaram. Aliás, a tela, segundo parece, desapareceu dos arquivos do CORE, restando apenas os trabalhos preliminares no Museu Rockwell, em Stockbridge.
Citem-se, por último, painéis em que figuram, misturados, cidadãos de várias etnias, credos ou visões do mundo. Um, já referido, The Golden Rule, é um pavor. Igualmente ao nível do muito mau, a raiar o grotesco, temos The Right to Know (1968), em que o autor se coloca no extremo direito da tela, onde se apresenta uma multidão multiétnica em pose solene e circunspecta.
Diz-se que Norman Rockwell despertara para o problema do racismo em 1943. Tendo publicado a série Four Freedoms, Roderick Stephens, um activista negro, líder da Bronx Interracial Conference, escreveu-lhe a pedir que fizesse um conjunto de pinturas que contribuíssem para melhorar as relações inter-raciais, ameaçadas por tumultos que tinham eclodido em Houston, Los Angeles e Detroit. Stephens temia que os conflitos alastrassem a outras cidades, como Nova Iorque. Segundo ele, na carta que enviou a Rockwell, das quatro liberdades que o ilustrador pintara havia duas (freedom from want e freedom from fear) que os negros norte-americanos não possuíam. Tudo indicia que Rockwell terá respondido a Stephens e acedido ao seu pedido para realizar quatro posters que, à semelhança dasFour Freedoms, circulariam pela América (o périplo da série Four Freedoms rendera a bonita soma de $132,9992,539 em war bonds). No entanto, por uma razão ou outra, o projecto acabaria por não ir avante.
Sublinhe-se – e isto desfaz qualquer ideia sobre um suposto «conservadorismo» de Rockwell – que o artista escreveu uma carta à NAACP oferecendo The Problem We All Live With para ser reproduzido em cartazes de promoção daquele grupo. Desconhece-se o que a NAACP fez e se alguma vez produziu material de propaganda com a imagem da menina negra. Mas, em 1970, Norman Rockwell recebeu o Million Dollar Club Award da NAACP, por ter contribuído com 1.000 dólares para aquela organização. Não percebo, perante isto, como há quem possa dizer que The Problem… é uma tela segregacionista, que Rockwell não abdicara do seu conservadorismo (Norman era um liberal democrata!). Chegam ao ponto de dizer, aqui, que, no quadro, a menina vai de cabeça baixa, tentando evitar o olhar da multidão. Mas não olharam sequer para a tela? Cabisbaixa, onde? Ele há cada ignorantão a escrever por esta blogosfera fora… Mas esta gente não lê, não se informa, antes de carregar nas teclas e regurgitar material para o digital? Desculpem a presunção desta indignação.
Quando muito, o que se pode – e deve – afirmar é que Norman Rockwell se mantinha fiel no seu apreço pelos valores e laços comunitários. Não vou entrar num debate que fez moda intelectual aqui há uns anitos, a controvérsia liberais vs. comunitários. Até porque não me parece que Rockwell fosse muito dado a grandes filosofias e intelectualismos, ainda para mais de contornos político-ideológicos. Mas enquanto caminhava com os seus cães pelo campo, fumando o omnipresente cachimbo, longe do que chamou «the cold world of the city», o artista decerto filosofava sobre as coisas da vida. Adorava Stockbridge, para onde fora em busca de apoio psiquiátrico. Retratou vezes sem conta a cidadezinha que seria a sua última morada. Enquanto paisagista, tanto poderemos considerá-lo delicioso como pavoroso. Vejam Stockbridge Main Street at Christmas (1967) ouSpringtime in Stockbridge (1971). Nada tendo a ver com Stockbridge, há, neste género simples e delicodoce, um óleo de Rockwell que muito aprecio:The Aviary, de 1967. Gostos…
Gostos... O ponto não interessa. O que interessa é que, mesmo quando se tornou «Norman Rockwell II», nesta sua etapa de algum aggiornamento e maior atrevimento, o ilustrador manteve-se fiel à defesa dos valores comunitários. Nunca terá lido o que Hannah Arendt escreveu num famoso e muito controverso ensaio, «Reflections on Little Rock» (1957-59), analisado aqui, mas o seu pensamento talvez navegasse nessas águas. Considerava, muito provavelmente, que o que acontecia em Nova Orleães era, acima de tudo, uma ruptura grave do sentido de comunidade. Há quem escrutine aqui a história de Rudy Bridges e da pintura de Rockwell precisamente à luz da perspectiva da guerra civil e do conflito. Faz sentido. De igual modo, faz sentido descortinar nos incidentes das escolas da Louisiana uma quebra dos laços comunitários, que se procuravam restaurar por caminhos diferentes: uns adoptavam a cómoda doutrina do separate, but equal plasmada na sentença Plessy v. Ferguson que a Corte Suprema proferira em 1896; outros consideravam que uma comunidade digna desse nome já não podia viver fracturada em duas órbitas distintas, uma para brancos e outra para negros. Por outras palavras: a partir do momento em que o movimento dos direitos cívicos conseguira colocar a questão da integração racial na agenda política (ou político-jurídica), estava criado um «problema», the problem we all live with. A partir daí, esse «problema» só poderia ser resolvido de uma forma: o fim da segregação. No entanto, por outras razões, o drama rockwelliano sobre a perda do sentido de comunidade aprofundou-se, como o atesta o magnífico livro de Robert D. Putnam, Bowling Alone (e que coinciência o José Navarro de Andrade ligar Rockwell ao livro de Putnam!). Também a ideia de «homem público» se dilui, como bem mostra Richard Sennet em The Fall of Public Man. Existem digressões filosóficas profundas, e pertinentes, sobre o valor do comunitarismo. À cabeça de todas elas temos as reflexões de Alasdair MacIntyre. E também os católicos de vanguarda, nos idos de 60, buscaram no exemplo de koinonia (κοινωνία) das primeiras comunidades cristãs uma forma de refundar o sentido de partilha e comunhão. A experiência mais conhecida foi o Isolotto, em Florença, sobre a qual a Moraes publicou a tradução de um livro. Mas é também a essa luz que podemos interpretar ascomunidades eclesiais de base (CEB’s) que floresceram no Brasil e na América Latina da Teologia da Libertação.
Resta saber, todavia, se, para usarmos a dicotomia clássica de Tönnies, esta proposta de regresso a uma Gemeinschaft idílica, por oposição a uma Gesellschaft desumana, não acaba por reflectir a nostalgia de umpassado que nunca existiu – a não ser, talvez, nas pinturas de Rockwell… Concluiríamos, assim, que Norman Percevel Rockwell, o virtuoso mestre do optimismo nostálgico, retratou toda a vida uma comunidade imaginada. Fê-lo, para mais, com absoluto realismo técnico. Portanto, uma técnica realista posta ao serviço de um idealismo anti-tecnológico. Contradições e paradoxos? O certo é que, quando Rockwell decide aventurar-se por caminhos menos conformistas, acaba por abandonar o escrúpulo realista. Recordemos o que aconteceu com Southern Justice: quer ele, quer os editores da Look, preferiram a versão goyesca e distorcida ao quadro que ilustrava ao pormenor o homicídio do Mississípi.
Até por não ser muito conhecido nem possuir grande projecção pública e mediática, The Problem We All Live With não tem suscitado, ao que sei, muitas tentativas de recriação ou reelaboração. Nada que se compare a O Grito, de Munch, ou Christina’s World, de Wyeth, estraçalhados aqui e aqui, num lugar mesmo diante dos seus olhos. Isto para já não falar de American Gothic (1930), de Grant Wood, sobre o qual existe uma infinidade absurda de recriações. Fica a promessa que, em tendo vida e saúde, um dia destes me vou atirar a American Gothic, até porque acabei há pouco a leitura de um livro de Steven Biel todinho e inteirinho dedicado a ele. Agora vamos ver umas recriações de The Problem… As mais interessantes pertencem a Philip Maysles e são explicadas aqui.
A mãe de Ruby, Lucille Bridges, tinha na parede da sua casa uma reprodução de The Problem We All Live With, assinada por Norman Rockwell. Teve de a deixar para trás nas evacuações subsequentes à passagem devastadora do furacão Katrina por Nova Orleães. Mais tarde soube que a gravura de Rockwell se salvara das cheias. Lucille Bridges, que se divorciara do marido, foi transferida para Houston – onde tem na sua nova casa a gravura resgatada em Nova Orleães – e aí pôde ver, pela primeira vez, a tela original de Norman Rockwell, exposta temporariamente no Houston Museum of Fine Arts.
Em 1975, o quadro foi o primeiro a ser adquirido pelo Norman Rockwell Museum, em Stockbridge, e, de todos os trabalhos do autor, é o mais solicitado a título de empréstimo pelos museus da América. Possivelmente, mais pelo seu valor simbólico e emblemático do que pela sua qualidade artística. Quando, em Julho de 2006, chegou ao museu de Houston para ver o quadro que retrata a sua filha, Lucille Bridges tinha várias pessoas a aguardá-la: amigos, pessoal do museu, repórteres, fotógrafos. Os visitantes do museu ficaram surpreendidos e alguns deles disseram aos filhos para irem ter com Lucille, para a ouvirem contar a sua história, saber de perto o que se tinha passado. «It takes me back, it takes me back», disse.
Lucille recorda-se que Ruby chorava em pequena, quando estavam no Mississípi, porque não podia ir à escola. Daí, porventura, não ter chorado quando se dirigia para a William Frantz Elementary School, entre protestos e ameaças. Porque desejavam um futuro melhor para os seus filhos, com a primogénita Ruby à cabeça, Lucille e o marido partiram para Nova Orleães. Aí, Lucille trabalhava numa estação de serviço e limpava casas durante o dia; à noite, labutava num aviário industrial. Vidas difíceis. Quando a NAACP apelou a que crianças negras se candidatassem a escolas até aí só frequentadas por brancos, Lucille teve várias discussões com o marido até conseguir que este assinasse a autorização para que Ruby fizesse os testes de admissão. Nas vésperas da ida à escola, avisou a filha que iria frequentar um novo estabelecimento de ensino e que, provavelmente, algumas pessoas não gostariam de a ter por lá. Nada mais lhe disse. Ruby não compreendeu o motivo pelo qual quatro agentes a foram buscar a casa nem a razão que levara a vizinhança a quotizar-se para lhe comprar roupas novas. Quando se aproximaram da escola, numa coluna de três viaturas, 400 pessoas aglomeravam-se à entrada. Lucille reparou que os agentes abriram os botões dos casacos para mais rapidamente poderem puxar das armas, caso fosse necessário. No regresso a casa, os U.S. Marshals estacionaram os carros no fundo do quarteirão, para que fosse mais difícil localizar a morada exacta daqueles que se haviam atrevido a enviar a filha para uma escola de brancos. Lucille notou, então, que, além das pistolas à cintura, os agentes traziam consigo metralhadoras. No dia seguinte, a situação piorou. Nas ruas de Nova Orleães, 5.000 pessoas manifestaram-se a favor da segregação racial nas escolas, animadas por um político local racista que gritava: «Don’t wait for your daughter to be raped by these Congolese! Do something about it now!». O marido de Lucille foi despedido quando se recusou a retirar a filha da William Frantz Elementary School. A NAACP aconselhou-o a ir de imediato para casa e não sair de lá. Nessa noite, o telefone não parou de tocar, com chamadas anónimas ameaçadoras. Abon Bridges quis desistir, retirar a filha mais velha da escola («We’re just asking for trouble!»), mas Lucille insistiu até conseguir convencê-lo.
Ruby seria o primeiro membro da família Bridges a terminar um curso superior. Aos 18 ou 19 anos, viu o quadro de Rockwell pela primeira vez. Sentiu o seguinte: «Eis um homem que tinha produzido uma enorme obra – pinturas, imagens de famílias – e de repente decide que era aquilo que queria fazer… o que se está a passar é errado e vou dizer que é errado».
Em 2004, Ruby e a sua antiga professora estiveram no Museu Rockwell, onde foram fotografadas em frente a The Problem We All Live With. Actualmente, Ruby Bridges integra o Board of Trustees do Norman Rockwell Museum. Esta instituição realizou, em 2010, uma exposição especialmente dedicada a The Problem We All Live With e à história de Ruby.
Há alguns anos – mais precisamente em 1981 –, Mary Moline criou«Wilma», uma boneca de porcelana, na Alemanha, que representava a menina pintada por Rockwell. Não é uma representação de Ruby, cujo nome era ignorado na altura, mas uma recriação do quadro de Norman Rockwell e uma homenagem à sua obra. Em todo o caso, não deixa de ser curioso pensar que Ruby Bridges foi atemorizada em criança por uma mulher que lhe mostrava uma boneca vestida de negro num caixão. Passados vinte anos, e pela mão de Rockwell, a sua figura inspirou uma boneca de colecção. A vida dá muita volta.
Vamos já terminar, mas ainda temos de falar de John Steinbeck. No maravilhoso Viagens com o Charley (1962), em que Steinbeck percorre a América na companhia do seu cão, o escritor narra o episódio de Ruby Bridges, cujo nome desconhecia. Segundo o testemunho do seu filho, Steinbeck fizera a viagem pois sabia que estava a morrer e queria rever o seu país pela última vez. Encontrava-se no Texas, no final de 1960, e tomara conhecimento de que em Nova Orleães um conjunto de crianças negras se preparava para frequentar escolas reservadas até então a meninos brancos. «Por trás dessas coisinhas pequenas e escuras estava a majestade da lei e o poder da lei para obrigar – tanto a balança como a espada eram aliadas das crianças – enquanto contra elas estavam trezentos anos de medo, cólera e terror da mudança num mundo em mudança», escreveu o autor deAs Vinhas da Ira. «Este estranho drama parecia tão improvável que senti que tinha de vê-lo». E assim foi. O que fascinava Steinbeck era o apoio que era dado às Cheerleaders, um grupo de mulheres encorpadas, de meia-idade, que se juntavam todos os dias para insultar as crianças negras. O escritor queria ver as mães racistas, deixando cautelosamente o seu carro e o seu cão resguardados dos tumultos. Vestido com um velho casaco azul e um boné da marinha inglesa, pensava passar assim despercebido no meio da multidão. O que viu fê-lo sentir-se «doente de náusea exausta»:
Enquanto ia andando para a escola, seguia com um rio de pessoas, todas brancas e todas seguindo na minha direcção. Caminhavam concentradas, como pessoas dirigindo-se para um incêndio depois dele ter estado a arder durante algum tempo. Batiam com as mãos nas ancas ou enfiavam-nas debaixo dos abafos, e muitos homens tinham lenços sob os chapéus, cobrindo-lhes as orelhas.
Através da rua, a partir da escola, a polícia instalara barreiras de madeira para manter a multidão afastada, e os guardas pavoneavam-se de sentinela, ignorando as chalaças que lhes gritavam. A parte fronteira à escola estava deserta, mas havia chefes da Polícia dos Estados Unidos colocados a intervalos ao longo do eixo da rua, não de uniforme mas usando braçadeiras para se identificarem. As suas armas avultavam decentemente sob os casacos, mas os seus olhos dardejavam nervosamente em redor, examinando as caras. Pareceu-me que me examinaram para ver se eu era um marinheiro regular, e me abandonaram depois como sem importância.
[…]
A multidão estava a ficar inquieta, como o público quando o relógio assinala que passou a hora de levantar o pano. Todos os homens à minha volta olhavam para os seus relógios. Olhei para o meu. Faltavam três minutos para as nove.
O espectáculo começou a horas. Som de sereias. Polícias de motocicleta. Depois, dois grandes carros pretos com homens espadaúdos de chapéu de feltro claro pararam diante da escola. A multidão parecia conter a respiração. Saíram quatro enormes chefes de polícia de cada um dos carros e extraíram de algures de dentro dos automóveis a negrinha mais minúscula que já se viu, vestida de branco rebrilhante e engomado, de sapatos brancos, novos, nuns pés tão pequenos que eram quase redondos. A cara e as perninhas eram muito negras em contraste com o branco.
Os grandes chefes de polícia puseram-na de pé, no meio da rua, e levantou-se uma barulheira de gritos zombeteiros detrás das barricadas. A menina não olhava para a multidão que uivava, mas via-se de lado o branco dos seus olhos, como os de uma corça amedrontada. Os homens fizeram-na dar meia volta, como a uma boneca, e a estranha procissão subiu para o largo passeio a caminho da escola. A criança era tanto mais ínfima quanto maiores eram os homens. Então a menina deu um pulinho curioso, e creio que sei o que foi. Penso que em toda a sua vida não teria andado dez passos sem dar um saltinho, mas naquela ocasião, no meio do seu primeiro saltinho, caiu sobre ela o peso da responsabilidade, e os seus pezinhos redondos deram passos medidos e relutantes entre os altos guardas. Subiram lentamente os degraus e entraram na escola.
Há quem discuta se Norman Rockwell se inspirou em John Steinbeck para pintar o seu quadro ou, melhor dizendo, se conheceu a história da menina negra por ter lido Travels With Charley, que na época foi um best-seller. Vão ao ponto, imagine-se, de verificarem se o livro constava da sua biblioteca, aqui. Não é improvável que Rockwell o possa ter lido, mas o facto é que a história de Ruby ganhou logo na altura projecção nacional, sendo transmitida nos noticiários vespertinos por Walter Cronkite. Vários jornais narraram o episódio, entre os quais o The New York Times, na sua edição de 15 de Novembro de 1960, que deu conta de que 150 pessoas se haviam reunido às portas da William Frantz, entoando: «Two, Four, Six, Eight, we don’t want to integrate». Assim, não foi por certo através de Steinbeck que Norman Rockwell conheceu a história.
Mais decisivamente, não foi a narrativa de Steinbeck que ditou a composição pictórica de Rockwell. Esta foi construída a partir de trabalho – em Rockwell há muito trabalho – realizado a partir de fotografias de uma menina negra, que não Ruby Nell Bridges. O artista nunca a conheceu e usou como modelo Linda Gunn, que para ele posou na companhia do seu pai, David Gunn, o primeiro negro a ensinar Educação Física numa escola secundária da Nova Inglaterra, história contada na The New Yorker, de 28 de Novembro de 2011.
A partir de uma dada altura da sua carreira, Rockwell trabalhou quase sempre a partir de fotografias, usando com frequência vizinhos, amigos, conhecidos ou moradores de Stockbridge (ou dos locais onde foi vivendo). Uma vez mais, o sentido de comunidade. Isso tem permitido, desde há muito, um exercício curioso, «rockwellesco», inofensivo: ver as fotografias em que Rockwell se baseou, por vezes até identificando as pessoas reais que utilizou nos seus quadros (aqui). Existe um livro relativamente recente só sobre o tema, o já citado Norman Rockwell: Behind the Camera, de Ron Schick.
Em toda esta história, o que mais fascina e emociona é a simplicidade das coisas simples. Na tela e na escrita, Ruby Bridges foi retratada por dois dos mais populares criadores norte-americanos do século XX mas nem um nem outro sabiam o seu nome, conheciam a sua identidade ou tinham sequer consciência de todos os pormenores da sua história. Steinbeck e Rockwell ignoravam que o pai de Ruby fora despedido, que os seus avós haviam sido expulsos das terras que trabalhavam, que a menina rezava de noite para afugentar os seus pesadelos. Aos seis anos de idade, uma menina viu-se envolvida numa tempestade cívica e política, que a História registaria como New Orleans School Crisis, e sobre a qual foram elaborados desenvolvidos relatórios, como este (curiosamente, o exemplar da Thurgood Marsall Law Library), existindo ainda, em termos mais amplos, Remember,uma bela evocação desses tempos de brasa feita por Toni Morrison.
Existia, portanto, uma questão complexa, um «problema», mas onde emerge o valor da simplicidade. Rockwell e Steinbeck colocaram-se ao lado de Ruby porque ela estava do lado dos valores simples. E também Ruby era simples, simples como uma criança de seis anos.
Enquanto escrevia esta história, contei-a ao serão cá em casa. No fundo, armei-me em Barack Obama, que é Presidente dos Estados Unidos e pendurou The Problem We All Live With nas paredes da Casa Branca. Nesse dia, quando recebeu Ruby Bridges, disse-lhe: «Penso que é justo dizer que se não fossem vocês eu não estaria aqui hoje».
Barack Obama, assevera a Casa Branca, gosta de storytelling paintings e, como sabem, escreveu Of Tee I Sing. Letter to My Daugthers(2010). O livro, ilustrado por Loren Long, foi publicado em muitos países. Em Portugal teve o título De Ti Eu Canto. Carta às Minhas Filhas. À semelhança das telas de Rockwell, o livro de Obama constitui um louvor à América, numa linha de orgulho patriótico que é ideologicamente transversal e desconhece fronteiras entre esquerda ou direita, liberalismo ou conservadorismo. No livro de Obama desfilam, criteriosamente seleccionados para agradar todos os públicos e potenciais leitores – e eleitores –, a pintora Georgia O’Keefe, o físico de origem alemã Albert Einstein, o jogador negro de beisebol Jackie Robinson, o chefe índio Sitting Bull, a cantora Billie Holiday, Helen Keller, Luther King, Neil Armstrong, Lincoln, Washington, a par de Cesar Chavez (1927-1993), nascido no México e líder dos trabalhadores rurais de ascendência hispânico, autor do famoso grito «Sí se puede!» (achavam que o «Yes, we can» era original?) ou de Maya Lin (n. 1959), a artista filha de imigrantes chineses que criou o Monumento aos Veteranos do Vietname, em Washington, D.C. Cada um dos nomes foi, como se vê, cuidadosamente seleccionado, num livro para crianças que é um hino politicamente correcto às virtudes do melting pot e do multiculturalismo. Barack Obama, ou quem o ajudou a escrever o livro, poderia ter incluído aí Ruby. Não o fez. Ainda bem.
Leia a versão original deste texto no blogue Malomil.
O acordo ortográfico utilizado neste artigo foi definido pelo autor.

![Retrato do comunicador Hugo van der Ding e do jurista Marco Ribeiro Henriques, lado a lado, sobre um fundo cinzento, com o logo "[IN]Pertienente".](/sites/default/files/styles/teaser_small/public/2025-12/INP2026_SOCIEDADE_1_SITE_1280x720_destaque.png.webp?itok=hLUDFHhb)