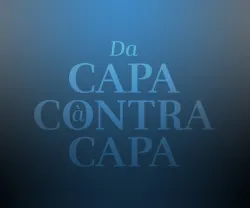"Uma geração perdida? Só se for para quem a olha de fora"
Marisa Ferreira cresceu a acreditar que queria ser jornalista, mas o primeiro emprego com contrato e salário certo ao fim do mês foi no talho do pai. “Depois do estágio profissional, consegui alguns trabalhos como jornalista, mas sempre a recibos verdes. Na prática, pagava para trabalhar. Aos 27 anos, senti que não podia continuar assim. Troquei o meu sonho por uma ideia de futuro a longo prazo”, recorda esta habitante de Vila do Conde.
Quando, dois anos depois, lhe acenaram com um contrato efectivo como administrativa numa empresa de alojamento local, no Porto, voltou a mudar de emprego. Agora, desde que a crise pandémica afugentou os turistas, sente a ameaça de desemprego de novo a tolher-lhe os passos. “Puseram-me em lay off e, quando em Agosto regressei ao trabalho, queriam que eu fizesse também o trabalho da senhora da limpeza que, entretanto, foi despedida. Recusei e estão-me a fazer a vida num inferno”, relata.
A viver com os pais aos 35 anos de idade, porque o salário de 750 euros que lhe pagam, além de incerto, não dá para custear casa própria e muito menos arrendada, Marisa Ferreira pode bem ser considerada o rosto dessa geração que os cientistas sociais rotularam de millennials.
Independentemente das aparentes divergências quanto às balizas temporais usadas para os encaixar (a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico circunscreve-os aos nascidos entre 1983 e 2002, o que não é consensual, nomeadamente se atendermos a que o termo foi cunhado na obra Millennials Rising, dos norte-americanos William Strauss e Neil Howe, que apontavam o intervalo de 1982 a 2004), são a geração que nasceu dos baby boomers e que, apesar de ser a mais escolarizada de sempre, viu a sua progressão social e profissional esbarrar a alta velocidade na crise financeira de 2008, e novamente agora nesta crise que se está a instalar à boleia do novo coronavírus, e que já começou a dizimar milhares de postos de trabalho.
Em Abril, a conceituada revista norte-americana The Atlantic traçava-lhes o obituário. Num artigo sintomaticamente intitulado “Olá, geração perdida”, a jornalista Annie Lowrey descreve uma geração atulhada em dívidas e com o futuro congelado por empregos sem saída.
“Serão a primeira geração da história moderna a acabar mais pobre do que a dos seus pais”, defendia, apresentando-os como as primeiras vítimas do tsunami de repercussões mundiais que se está a desenhar no horizonte, ainda por cima sem poupanças, sem dinheiro investido nem, na maior parte dos casos, direito a prestações sociais como a do subsídio de desemprego.
Em Portugal, não será muito diferente: as estimativas do Instituto Nacional de Estatística relativas a Junho de 2020 colocavam o desemprego dos jovens acima dos 25%, numa subida que nos faz recuar aos níveis da crise social e económica que começou em 2008, e isto em apenas três meses, ou seja, numa altura em que as empresas beneficiavam dos apoios extraordinários do Estado à manutenção dos postos de trabalho.
À técnica de farmácia hospitalar Ana Fernandes, de 27 anos, que até teve a sorte de acabar a licenciatura em 2015, numa altura em que o mercado parecia recuperar algum oxigénio no pós-crise, e que por isso conseguiu um emprego efectivo na sua área de formação, preocupa hoje a estagnação profissional mais do que o desemprego. “Tinha a expectativa de progredir para outro posto, o que acabou por não acontecer por causa da pandemia. Mas não me posso queixar: se olhar à volta, percebo que para muitos dos meus amigos as oportunidades estão a ir completamente pelo cano”, descreve, para explicar que, além do emprego no hospital, onde recebe 1.175 euros líquidos mensais, trabalha mais cinco horas diárias a recibo verde num estabelecimento prisional. “Num dia, são catorze horas de trabalho. Vou aguentando porque quero fazer uma especialização em administração hospitalar, que é caríssima, e para isso preciso de um bom pé-de-meia”, explica.
Consumida por dois empregos que nem sequer a definem (“Quando me apresento, o que digo é ‘Sou a Ana, tenho 27 anos de idade, gosto de viajar, ler e de apanhar ar puro”), esta técnica farmacêutica diz-se insultada quando tentam colar-lhe à testa alguns dos adjectivos com que muitos descrevem os millennials: de preguiçosos a mimados pelos pais, além de pouco leais aos empregadores, entre vários outros, todos igualmente redutores e todos igualmente pouco lisonjeiros.
“Somos altamente escolarizados, mas temos de competir muito mais por uma vaga no mercado de trabalho”, começa por lembrar, para precisar que, apesar dos dois empregos, continua a partilhar casa com uma amiga porque “as rendas são exorbitantes”.
Em filhos não se atreve a pensar, em comprar casa talvez, conquanto os bancos garantam “os 100% de financiamento, porque sem isso nada feito”. Apesar dessa aspiração adiada sine die por força da conjuntura, Ana Fernandes não inscreveria o sonho de ter casa como algo que caracterize a sua geração. Pelo contrário: se algo caracteriza os millennials, defende, é o seu desapego material. “Estamos a falar da geração que colocou o capitalismo e o seu consumismo desenfreado de parte e inventou novos vocábulos como carsharing, couchsurfing e cowork”, aduz, recuperando alguns dos argumentos que esgrimiu numa crónica escrita para o suplemento P3 do jornal Público, espécie de manifesto geracional, onde a propensão nómada se cruza com o à-vontade com as novas tecnologias, a valorização da experiência dispensa em boa parte a posse de bens materiais e as preocupações ambientais moldam hábitos quotidianos mais ecológicos.
A rejeição do modo de vida dos pais e dos avós, “que aos 30 aspiravam a ter um trabalho estável, com um horário simpático, que pagasse um ordenado razoável e que desse para governar a família”, ressoa por todo o texto/panfleto assinado por Ana Fernandes.
É assim porque os valores mudaram de facto. Para dar um exemplo, os casamentos em Portugal baixaram dos 63.752 de 2000 para os 33.272 de 2019, ano em que será lícito presumir que os millennials estão em idade de ter filhos. E a idade média das mães ao nascimento do primeiro filho também subiu dos 26,5 anos de idade na viragem do milénio para os 30,5 do ano passado.
Claro que o prolongamento dos percursos escolares ajuda a explicar em boa medida o adiamento destes marcos na vida dos millennials. O mesmo não será seguro dizer-se do facto de, em 2019, 56,8% dos nados-vivos terem nascido fora do casamento. Mais do que isso: 18,5% dos bebés nasceram fora do casamento e sem coabitação dos pais (se recuarmos apenas dez anos, até 2009, eram 7,9%), num aumento que deixou sociólogos e demógrafos à cata de explicações.
Entre estas, a emigração forçada, mas também a disseminação do chamado Living Apart Together, em que as pessoas mantêm relações amorosas mas vivem em moradas diferentes. “Não encaixamos nas convenções. Não pertencemos à sociedade previamente definida”, retoma Ana Fernandes. E também Marisa Ferreira, quando anuncia, por exemplo: “Sou solteira, não tenho namorado, não tenho filhos nem faço questão de ter.”
Não parecem subsistir traumas demasiado fundos decorrentes da adaptação que os millennials tiveram de fazer desde a casa dos pais, onde o trabalho era necessidade de sobrevivência mas também imperativo moral e o casamento tendia a durar até à morte, para uma sociedade em que tudo se tornou volátil e líquido, para usar a expressão inaugurada pelo sociólogo polaco Zygmunt Bauman ao descrever uma época caracterizada pelo triunfo do precário, do transitório e do permeável, tanto na vida afectiva como na material.
Tanto assim é que, se tivesse de sentar esta geração no seu sofá de psicólogo, Joaquim Luís Coimbra, também investigador e docente na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, descrevê-la-ia no seu caderno de apontamentos como resiliente e extremamente adaptável. “Por serem os mais escolarizados de sempre, estes jovens adultos conseguem ser criativos na forma como lidam com desafios que, em gerações anteriores, teriam composto um puzzle irresolúvel”, elogia, para precisar que “têm procurado adaptar-se àquilo que a sociedade lhes vai permitindo fazer sem se deixarem abater por isso”.
Os millennials souberam passar ao lado do consumo de drogas e de álcool muito mais do que as gerações anteriores, acompanharam a transição dos quadros a giz para os interactivos, foram pioneiros e cobaias das mudanças tecnológicas, e o mesmo se poderia dizer do mundo do trabalho, que mudou vertiginosamente em todas as sociedades ocidentais enquanto eles cresciam a acreditar que podiam ser tudo o que quisessem. “Estes jovens cresceram num período de grande desafogo económico, com a entrada na Comunidade Económica Europeia, em 1986, e só depois, já num estado mais maduro, é que apanharam com a recessão e agora com a pandemia”, contextualiza a investigadora Margarida Gaspar de Matos, que coordena a equipa da Organização Mundial da Saúde que, desde 1998 e a cada quatro anos, estuda os comportamentos e a saúde dos adolescentes.
“Não são vítimas nem mimados, são fruto do seu tempo”, prossegue a investigadora, para lembrar que, no que respeita às dificuldades de inserção no mercado de trabalho, não estão necessariamente em piores lençóis do que muitas das gerações precedentes. “Tivemos uns anos melhores, no início desta geração millennial, mas há cem anos estávamos pior. Então e a geração que apanhou a II Guerra Mundial? E os empregados dos cafés que, no início do século passado, tinham de comprar a bandeja com que serviam para poderem trabalhar e que viviam apenas das gorjetas que os clientes lhes davam?”, recua, numa tentativa de distanciamento que visa, não desvalorizar, mas relativizar e imprimir espessura histórica às actuais dificuldades.
“Estes millennials estão mais exigentes, e é bom que estejam porque é isso que faz as coisas avançar, mas a inquietação que sentem em relação ao futuro decorre do facto de terem crescido com expectativas que neste momento as contingências mundiais não estão a conseguir garantir”.
Considerando assim que os millennials “não são piores nem melhores” do que os baby boomers ou do que os que integram a Geração X, imediatamente anterior, ou a Geração Z, que foi a letra do alfabeto escolhida para catalogar os nascidos depois de 2003, ainda segundo as balizas da OCDE, Margarida Gaspar de Matos volta a condescender em falar de uma geração, esquecendo por momentos as diferenças de contexto, género, posição sócioeconómica, para lembrar que estes foram os primeiros a beneficiar em larga medida de uma escolaridade que lhes abriu as portas de uma universidade numa época em que estas eram coutada de elites. “Uns anos antes, quem queria fazer um mestrado ou doutoramento tinha de ir para o estrangeiro – eu fui para Inglaterra – e esta geração já o conseguiu fazer aqui, o que foi um progresso fantástico. E, apesar de estarem sempre dependentes da renovação de uma bolsa ou de projectos que duram seis meses, conseguem trabalhar agora numa universidade, ao passo que, na minha geração, eram raríssimas as pessoas que iam parar à faculdade para trabalhar e muito menos se não tivessem aquele pedigree universitário na família”, recorda.
O acesso a licenciaturas, mestrados e doutoramentos surge então como uma conquista que torna os millennials mais conhecedores do mundo que os rodeia. E mais capazes de o pensar. “É um valor acrescentado importantíssimo”, acredita Margarida Gaspar de Matos, que os observa “já treinados para formar o seu posto de trabalho, a sua startup, e a recusarem um emprego numa repartição, das nove às cinco e meia da tarde, mesmo que o tivessem”.
De volta ao divã de Joaquim Luís Coimbra, o autor de artigos como «Vidas precárias: as origens sociais da incerteza» concorda que aquilo que se convencionou encarar como a menor centralidade do trabalho na vida destes jovens adultos é a um tempo valor adquirido e estratégia de auto-defesa.
“A sua entrada no mundo do trabalho é mais complexa, mais longa, mais precarizada e mais exigente, muito à custa deste modelo de imparável desenvolvimento científico e tecnológico que contém em si a capacidade de produzir bens e serviços em quantidade e qualidade com menos recurso a trabalho humano”, explica o psicólogo. “Julgo que uma das maneiras que eles encontraram para se adaptar foi passar do valor da posse para o valor do uso. Para eles não é problemático não ter carro, querem é ter transportes: chamam um táxi, um uber, andam no metro ou no autocarro. E passaram a valorizar mais um certo estilo de vida em que conseguem conciliar o trabalho, o lazer e a família.” São assim. E “porque têm mais capacidade de pensar e de agir em função da leitura que fazem da sociedade”, são também menos materialistas do que as gerações precedentes, incomensuravelmente mais marcadas “por uma pobreza generalizada e aguda em que o trabalho era muito valorizado por tudo o que vinha com ele e era, além disso, a única coisa que se fazia na vida”.
Numa altura em que as sociedades dificilmente voltarão a ser de pleno emprego (e vale a pena aqui recordar que o estudo que a Confederação Empresarial de Portugal encomendou ao McKinsey Institute e à Nova School of Business and Economics, divulgado em Janeiro do ano passado, previa que, nos próximos dez anos, a economia portuguesa corria o risco de perder 1,1 milhões de postos de trabalho em consequência do processo de robotização e de digitalização de alguns sectores), os millennials construíram-se identitariamente em torno de valores, tornaram-se activistas de causas sociais e ambientais, defensores activos da sustentabilidade social, humana e ambiental.
“As expressões mais palpáveis disso são, por exemplo, o vegetarianismo, os valores da reciclagem levados ao limite da sua expressão”, exemplifica Joaquim Luís Coimbra, para a seguir procurar o avesso da acusação que lhes fazem de serem pouco fiáveis ou leais aos empregadores. “Num mundo que não lhes dá garantias de estabilidade, também não se sentem na obrigação de darem eles próprios essas garantias de estabilidade e de confiabilidade aos seus empregadores. A relação laboral pode terminar a qualquer momento por iniciativa deles, que não hesitam, de resto, em mudar radicalmente de área de trabalho ou até de funções, ou em, depois de trabalharem dois anos, partirem numa viagem pela Europa ou pelo mundo”.
A partir deste caldo, e se os empregos escasseiam e perdem centralidade, como se aguentarão o modelo contributivo e a sustentabilidade e a coesão social? “Se há menos trabalho e, ainda assim, a riqueza não pára de crescer, decorrente da maior capacidade para produzir e distribuir bens e serviços em cada vez maior quantidade e qualidade, há aqui uma mais-valia que tem de ser canalizada para a generalidade dos cidadãos”, responde Joaquim Luís Coimbra, para quem podemos estar no dealbar de “uma reforma geral de certos aspectos da organização das nossas sociedades”, marcada, entre outros, por um regresso “à ideia de Estado como intérprete do bem geral e do interesse comum”.
“O problema que se vislumbra não é de riqueza, e viu-se como nesta crise pandémica a União Europeia se mobilizou para ir ao encontro das necessidades das pessoas e de lhes dar resposta”, insiste o investigador, para apontar os apoios financeiros às empresas, em primeiro lugar, mas também aos cidadãos, “por exemplo, através das moratórias ao pagamento de créditos bancários ou de prestações fiscais”.
Os prenúncios desta mudança de paradigma, sustenta ainda, vêem-se também no facto de a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ter anunciado perante o Parlamento Europeu, em Bruxelas, que vai propor em breve um quadro legal com vista a garantir um salário mínimo para todos os europeus, em nome de uma economia “mais humana” e capaz de proteger os cidadãos “da falta de emprego e da pobreza”.
Mais directo ao ponto foi o pedido, subscrito conjuntamente por ministros de Portugal, Espanha e Itália, de criação de um sistema de rendimento mínimo europeu, como forma de minimizar a crise provocada pelo novo coronavírus.
“O trabalho é uma fonte de rendimento e é bom que continue a sê-lo, mas não tem de ser a única fonte de rendimento”, antecipa-se o docente, para preconizar que, “se o trabalho é escasso e é um bem social, então tem de ser partilhado”. Tradução prática: “Poderemos trabalhar todos, mas não tanto como temos vindo a trabalhar, porque o que se passa é que, quando o emprego escasseia, o trabalho intensifica-se para quem tem emprego e os trabalhadores deixam de ter tempo para a vida social e familiar e até para serem pais”.
Em paralelo, acrescenta, “vão ter que entrar em jogo outros dispositivos que permitam às pessoas continuar a ter uma vida digna mesmo que não tenham trabalho produtivo”. O reconhecimento do estatuto do cuidador informal, que prevê o pagamento de uma prestação pecuniária a quem se dedica a cuidar de familiares dependentes, é tradução desse princípio. “Mas podemos estar aqui a falar também de voluntariado social ou de actividades de expressão e criação artística, que são também uma forma de trabalho, desde que deixemos de reduzir a concepção de trabalho àquilo que tem valor de troca, que é instrumentalizado pelo factor económico”, acrescenta.
Uma das boas notícias aqui é que os millennial constituem a geração mais bem preparada para fazer disparar esta discussão. “Eles estão perante desafios que os outros não tiveram e têm a grande vantagem de estarem preparadíssimos para reflectir e analisar e tomar decisões, independentemente de quem detenha poder sobre eles. Não fogem aos problemas nem tentam branqueá-los, pelo contrário, têm feito por torná-los visíveis, explicitá-los, pensar sobre eles e tentar alternativas, seguindo uma consciência social e ética e com uma grande abertura para a pluralidade dos pontos de vista”, prognostica o investigador.
É assim, Marisa Ferreira? “Nós somos aguerridos e não temos medo do futuro”, responde num segundo a ex-futura jornalista, antiga talhante reconvertida em administrativa e provável desempregada dentro de pouco tempo, para explicar que a predisposição para se bater pelos seus valores é a mesma de quando, na última crise, participou e ajudou a organizar as manifestações da “Geração à Rasca”. “Ao contrário do que pensam, sabemos o que foi a ditadura, e estamos disponíveis para arregaçar as mangas e para trabalhar. Para sermos explorados, depois de termos estudado tanto e trabalhado tanto, é que não.”
O acordo ortográfico utilizado neste artigo foi definido pelo autor