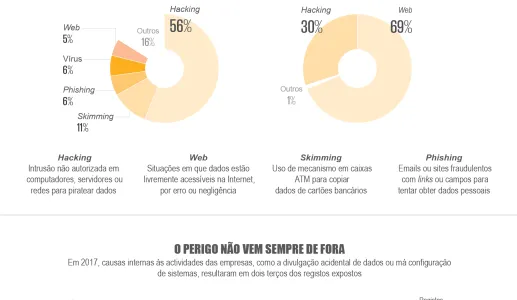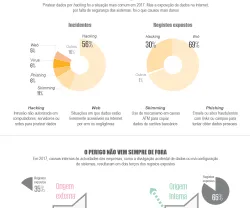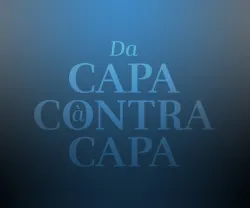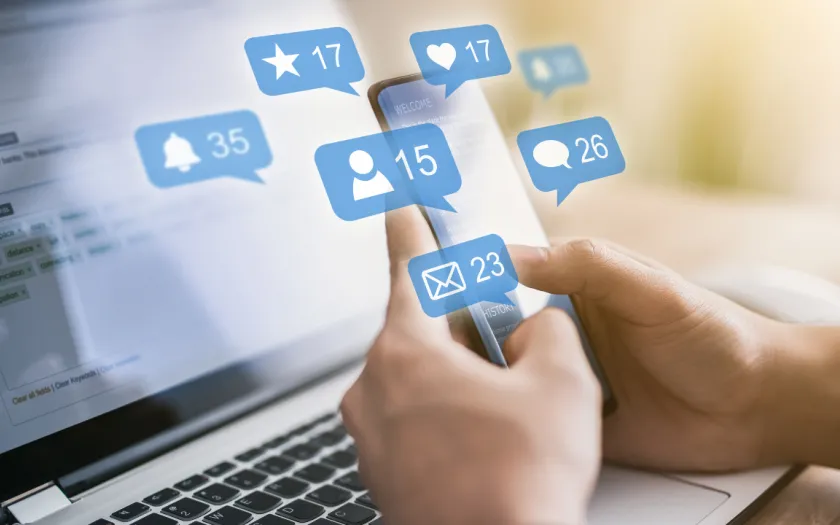
«Um dia de dados», uma crónica do jornalista Ricardo Garcia
Tomo um banho, o sabonete está quase no fim. Penso no dia em que um chip não haverá de remediar tais situações, encomendando automaticamente o produto em falta. Então, até as nossas abluções matinais entregaremos ao conhecimento público – com maior ou menor detalhe, conforme a precisão do localizador do chip.
Minha mulher está a bordo de um avião, a caminho de outro hemisfério. Recorro novamente ao smartphone, que me informa a latitude e longitude em que ela está, a velocidade da aeronave, seu rumo e altitude. A app hipnotiza-me, não a consigo largar, até que ouço mentalmente uma ordem conjugal: “Para de bisbilhotar e põe-te a mexer!”
Meto a cafeteira no lume, são 8:15. Quando estiver em pleno a Internet das Coisas – um estado de dependência perante as máquinas com o qual alguém irá ganhar dinheiro –, um computador tratará de pôr o café em marcha, de ligar a máquina da loiça, de recolher os estores, de apagar as luzes, de trancar as portas, de abrir o carro. E tudo isso será comunicado a alguém, algures, capaz de “melhor a nossa experiência”.
Agora trato dos pratos. Abro a torneira quente e um magnífico contador digital avisa-me que estou a consumir energia. Examino-o: neste dia, já gastei 1,2 quilowatts-hora de eletricidade de 15,54 quilowatts-hora de gás. Não me diz absolutamente nada, mas ao fornecedor de energia sim. Com um ano de contador inteligente, a empresa sabe quanto tempo passo no banho, a que horas saio ou chego à casa, quando meto a roupa para lavar, se ligo ou não o aquecimento.
São 9:00 e, já na minha secretária, abro uma carta que chegara no dia anterior. É de uma universidade onde dei uma única aula. Pagaram-me quase o preço de uma bifana e ficaram com minha ficha completa: nome, morada, data de nascimento, documento de identificação, número de segurança social, foto tipo passe.
A manhã prossegue em intermináveis telefonemas e mensagens. Utilizo todos os modos gratuitos para me comunicar com o mundo: Skype, WhatsApp, Facetime, iMessage, Facebook, Twitter, Linkedin. Garantem-me todos, a pés juntos, que é tudo seguro, que o que eu disser ficará entre mim e meu interlocutor. Desculpem, mas não acredito.
Às 10:30, já estou plenamente fundido com o computador, somos um organismo só. Constato que me esqueci de fazer um backup do meu trabalho do dia anterior. A aplicação que uso para tal avisa que está desatualizada. Ao contrário dos humanos, a tecnologia exibe essa virtude: não se importa de anunciar que já passou do prazo.
Procedo à instalação da nova versão e penetro num território obscuro, onde prospera a congénita ineficácia das mensagens de alerta. A primeira que surge no ecrã pergunta-me: “Autoriza que este ficheiro faça alterações no seu computador?”. Não tenho escolha, preciso daquela aplicação. Sinto-me como um enfermo agonizante à entrada do bloco operatório, e um funcionário hospitalar com uma caneta não mão a perguntar-me: “Autoriza que o médico faça alterações no seu abdómen?”
Segue-se um momento literário: o contrato de licença. Sou logo avisado de que devo ler tudo, do princípio ao fim. Mas o índice é de uma impenetrabilidade marmórea: A) GNU General Public License; B) cURL License; C) libshh2 License; D) OpenSSL and SSLeay Licence. Passo direto ao botão “ok” e aceito tudo de olhos fechados. Não faço a menor ideia do que estou a consentir.
São 13:00 e acaba de ser divulgado um relatório internacional de que estava à espera. Tento descarregá-lo. É preciso antes fazer um registo. Pedem-me o nome, endereço de e-mail, dados profissionais. Crio uma palavra-passe ao calhas, da qual já não me lembrarei amanhã. Sei, no entanto, que a senha estará lá, algures nos interstícios da Internet, pronta a ser pirateada.
Almoço à frente do computador e aproveito para ver meu correio eletrónico. Está inundado de pedidos de consentimento explícito. O quê? Sites de encontros? Não, é o novo regulamento europeu sobre a proteção de dados, que obriga as empresas a nos pedirem autorização para fazer o que sempre fizeram sem nos pedir autorização: recolher, armazenar e processar fragmentos das nossas vidas privadas na expectativa de os monetizar.
Examino alguns pedidos, resolvo investigar o de alguém que não me conhece mas me trata por tu: Mark Zuckerberg. No labirinto de explicações pelo qual sou conduzido, fico a saber, por exemplo, que o Facebook recolhe, junto ao que chama de “parceiros”, informações sobre minhas atividades online e offline, como “comprar um capacete numa loja de bicicletas”. Imagino-me na loja, a tentar exercer o direito à minha privacidade cefálica: “Desculpe, meu amigo, mas está proibido de dizer ao Zuckerberg que comprei um capacete viking com tranças e um bigode do Asterix”.
Já são quase três da tarde e não faço outra coisa senão consentir, aceitar, autorizar já nem sei o quê. Perco a paciência com a clássica mensagem “este site utiliza cookies para melhorar a sua experiência”, carrego automaticamente em sim a tudo. A nova lei de Bruxelas não conta, por certo, com o efeito da banalidade.
Preciso enviar um e-mail importante, são 16:15. Começo a escrever o endereço do recipiente, aparecem vários contactos com nomes semelhantes, pessoas com quem um dia já me comuniquei. Por engano, encaminho a mensagem a quem não devia. Em desespero, envio o clássico e-mail corretivo, pedindo para que a mensagem anterior seja desconsiderada – uma tentativa patética, que mais não faz do que aguçar a coscuvilhice alheia.
Meu trabalho complica-se. Tenho uma série de documentos em holandês para ler, recorro a um tradutor automático. Espantosa aplicação, mas vejo que tem um “R” – sim, sou eu mesmo – lá num canto. Afinal, está conectada à minha conta de e-mail. E a minha conta de e-mail à minha cloud. E a minha cloud aos meus documentos. E os meus documentos à minha existência.
Começo a ficar paranoico. O relógio bate seis da tarde, uma notificação surge no computador e em dois telefones ao mesmo tempo: no dia seguinte, a esta hora, tenho uma consulta. Quantas pessoas mais não saberão disso? Já denoto a sintomatologia dos espiados, uma certa claustrofobia digital. Preciso sair, afastar-me da net, apanhar ar. Vou ao supermercado, sou recebido por uma câmara de vigilância bem à entrada. “Tem cartão de cliente?”, perguntam-me na caixa. Sim, está aqui, mas me arrependo de o dar. Remotamente, computadores analisam minha conduta comercial e concluem que desta vez não levei dois pacotes de sumo de laranja.
Volto para casa, o computador adormeceu e não quer acordar. Provido de vontade própria, resolve proceder a uma atualização. Demora uma eternidade, dez minutos depois ainda está a cinco por cento, sabe-se lá o que estarão a fazer na máquina. No final, sou requerido a autorizar tudo e mais alguma coisa: que eu seja localizado, que minha voz seja reconhecida, que minha câmara seja utilizada, que os dados da minha conta, meu histórico de navegação, meus contactos, meu calendário, minhas mensagens, minhas fotos, meus vídeos, que tudo seja partilhado.
O dia está a chegar ao fim, ainda tenho muito trabalho à frente. Hora ideal para me chatearem. Toca o telefone. O número é do Japão, mas estou em Londres. “Boa noite, temos a informação de que esteve envolvido num acidente rodoviário. Correto?”. Não, incorreto, deixem-me em paz. O correio eletrónico apita. É uma mensagem da Itália: Si prega di visitare il link di mantutenzione qui sotto… Vejo a palavra link e apago imediatamente.
Consulto um site de informação sobre cibersegurança e, a meio da leitura, surge um aviso a identificar meu IP e onde estou. “Se nós conseguimos saber isto, os outros sites por onde andas também conseguem”, alerta-me a mensagem, antes de oferecer um serviço qualquer.
Dói-me a cabeça e acredito, já em delírio, que tenho um vírus informático no cérebro. Mastigo qualquer coisa e passo a vista nos jornais na Internet. Passo mal dado, pois sei que estão a registar as notícias que consulto.
O dia não está a correr bem, vou encerrar a loja por hoje. Abro um jogo de paciência, para espairecer. Há muitos anos que não o faço, mas está tudo lá: quantas vezes joguei, quantas vitórias, qual o tempo médio. Quero que me esqueçam, mas não encontro maneira de apagar aquele rasto. Em vez disso, o jogo espeta-me com publicidade. Imagino que seja direcionada às minhas necessidades, ao que julgam que preciso, com base em dados pessoais que me terão usurpado. Para meu terror, o anúncio é de uma agência funerária.
É demais. Maldita a hora em que me dispus a monitorizar quem anda a recolher minha vida pessoal. Se bem que, depois de tudo o que escrevi, meu dia de hoje está todo aqui. Tanta preocupação, e afinal sou eu próprio a dar a ficha toda. Dá próxima, é melhor ficar calado.