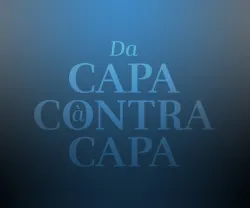Os nossos monumentos podem ser mini-AutoEuropas. Só é preciso olhar para eles
Cultura, para que te quero? Reveja o Fronteiras XXI
Havia mais silêncio do que palavras entre os parisienses que observavam especados, atónitos e incrédulos, ao incêndio que ao final da tarde do dia 15 de Abril de 2019 consumiu a cobertura da Notre-Dame de Paris. Uma massa escura e um intenso cheiro a fumo espalhavam-se pelo Quartier Latin. A tragédia atraiu a curiosidade e largas centenas de pessoas tentaram ir ver com os seus próprios olhos o que as televisões, rádio e redes sociais andavam a noticiar. Uma mulher dizia ao jornal Libération: “É mais do que um edifício que está a ruir. É a nossa história.” O Presidente Emmanuel Macron afirmava consternado: “É uma parte de todos os franceses que está em chamas”.
Foi também um incêndio que destruiu o Museu Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro, em Setembro de 2018, levando consigo um acervo científico de valor inestimável, com mais de 20 milhões de objectos e 200 anos de trabalhos reunidos. “A catástrofe (…) equivale a uma lobotomia na memória brasileira”, comentou a então candidata presidencial Marina Silva.
É uma evidência que uma catedral, um museu, ou uma torre são muito mais do que um conjunto ordenado de pedras. É por isso que existem mecanismos de protecção, para que o que herdámos dos nossos pais (a palavra património vem mesmo daí) possa ser legado aos nossos filhos. Mas talvez aquilo que nem sempre está em cima da mesa é que esses edifícios geram um valor que vai para além da sua própria riqueza. E daí, dizem vários especialistas, ser fundamental haver uma política de património com cabeça, tronco e membros, capaz de aproveitar um recurso que, ainda por cima, existe com alguma abundância em Portugal. Estamos a dar a devida atenção a isso?
A historiadora de arte Catarina Valença Gonçalves acha que não. Foi por essa razão que juntou a Spira – uma empresa especializada em projectos de revitalização patrimonial, de que é fundadora – à Nova School of Business and Economics e à Fundação Millenium BCP, para realizar o estudo “Património Cultural em Portugal: Avaliação do Valor Económico e Social”. O projecto arrancou em Fevereiro de 2018 e deve estar concluído em Outubro de 2019. “Sabemos por experiência prática que o património cultural é o recurso endógeno melhor distribuído do ponto de vista quantitativo e qualitativo, de diversidade artística. Se formos ao Algarve não temos o mesmo tipo de património que temos no Alentejo, que por sua vez não é de todo aquele que temos na Beira, ou no Minho e Trás-os-Montes. Sabemos isso por experiência prática e também pelos números.”
Se não, vejamos: existem 35 mil monumentos inventariados em Portugal, como cruzeiros, igrejas, castelos… Destes, cerca de 4.500 estão classificados pelo Estado, ou seja, têm “relevância para a compreensão, permanência e construção da identidade nacional e para a democratização da cultura”, lê-se no site da Direcção Geral do Património e da Cultura (DGPC). Neste conjunto, há ainda 15 que detêm o selo de Património Mundial, da UNESCO.
No estudo, optou-se por analisar “apenas” o conjunto de 4500, uma vez que ao terem o selo da classificação a sua pertinência está já garantida. “Quisemos perceber quantos edifícios estão abertos ao público [cerca de mil, incluindo museus e centros de interpretação], quantos têm entrada controlada, geram receitas e geram emprego… Vamos conseguir dizer quantos visitantes cada município tem no seu território com base no património que está aberto. Mas também perceber quantos visitantes poderia gerar se se abrisse mais edifícios ao público, criando um fluxo de circulação entre um edifício e outro. Isso dará uma ideia do potencial económico e social que estes recursos têm”.
O trabalho de pesquisa ainda não terminou, mas a historiadora da arte já tira algumas conclusões: “Estes 4.500 [monumentos] têm uma distribuição no terreno harmoniosa em todos os sentidos, mas não estão minimamente activados do ponto de vista económico ou social. A realidade dos edifícios não estarem abertos ao público é flagrante em tudo o que não seja pólos turísticos de Lisboa e Porto.” Há uma “gestão macrocéfala, centralizada em Lisboa”, que faz com que haja “um desconhecimento do que é o património cultural pelo país todo.”
Ou seja, não estamos a aproveitar devidamente os recursos, lamenta a historiadora. “Vemos estes activos patrimoniais como mini-AutoEuropas. Temos uma infraestrutura que já cá está, a única coisa que temos de fazer é activá-la no presente. Mas este património é totalmente invisível, quer pelas pessoas destes territórios (não há educação patrimonial, por isso não sabem identificar o valor do património que têm), quer por falta de uma política nacional de partilha da informação. Estas mini-AutoEuropas estão aqui, mas as pessoas passam por elas sem perceberem que há um potencial de empregabilidade e desenvolvimento nesses recursos.”
Há soluções possíveis e uma delas passa pela formação. De todas as escolas profissionais do país, aponta Catarina Valença Gonçalves, apenas duas têm formação na área do património cultural: a Escola de Conservação e Restauro de Sintra e a Escola de Arqueologia Profissional de Marco de Canaveses. “É um enorme desperdício. Mesmo a formação que é dada nas universidades é totalmente desligada do terreno. Os miúdos não são formados para criar empresas, ou para se mudarem para outra zona [do país], mas para se mudarem para outra zona de Lisboa. Isto faz com que haja um divórcio entre os activos e as pessoas que têm um know-how sobre os mesmos.” Há opções, como a promoção de estágios dos estudantes universitários nas câmaras municipais de Norte a Sul, ou o incentivo para que universidades do Interior, bem como escolas profissionais, administrem cursos sobre património. É fundamental, diz, um projecto a longo prazo. “Somos o único país europeu que não tem um plano estratégico do património cultural”.
A historiadora da arte Raquel Henriques da Silva, professora da Universidade Nova de Lisboa, também defende que as universidades poderiam ajudar a levar mais gente para o interior do país. Essa não é, contudo, a única pedra no sapato: “O problema maior em Portugal é uma dupla que funciona pessimamente: falta de dinheiro e falta de flexibilidade dos modelos de gestão”, afirma. “As verbas alocadas são absolutamente ineficientes para um país que vive da história e do turismo. Mas o que faz a mistura explosiva e paralisante é a falta de modelos flexíveis na gestão do património.”
Se tivesse que apontar um exemplo de gestão, não tem dúvidas: seria o Parques de Sintra-Monte da Lua. “O modelo deveria ser estudado pela Direcção-Geral, pelo Governo e pelos especialistas. É o modelo mais eficaz e mais interessante que temos em Portugal. É um caso de estudo porque o Estado criou uma sociedade pública, com capitais estritamente públicos, mas que é governada como uma empresa e tem uma autonomia muitíssimo grande nas iniciativas, na contratação e no uso das receitas.”
A antiga directora do Instituto Português de Museus admite, no entanto, que é um modelo difícil de replicar em todo o país: “Gere um verdadeiro tesouro, um conjunto monumental que envolve o Paço da Vila de Sintra, o Palácio da Pena, Queluz, Monserrate, o Chalet da Condessa [d’Edla], o Conventinho [Convento dos Capuchos, entre outros] e toda a área verde à volta. Ora o Palácio da Pena e o Palácio da Vila são dos monumentos mais visitados em Portugal. Este modelo só se pode aplicar a sítios onde haja receita volumosa. Mas vemos os resultados: o dinheiro que é feito ali é reinvestido ali. Queluz tem muito menos visitantes, mas está permanentemente em obras. Vemos a aplicação do dinheiro que os visitantes deixam [nos outros monumentos do Monte da Lua]. Nos Jerónimos deixa-se muito dinheiro e ele é repartido. Somos pobrezinhos e eventualmente esse dinheiro vai ajudar a manter o Museu da Música, ou o Museu Soares dos Reis. Distribuir a pobreza já não é um modelo.”
Defende uma gestão flexível, empresarial, articulada com objectivos culturais, que têm de ser dominantes. “Mas o dinheiro tem que existir”, salienta Raquel Henriques da Silva. “Gostava de ver micro-empresas, gente com sensibilidade para o trabalho na área da cultura, a quem o Estado consiga ceder, em condições capazes e apoios iniciais, a gestão de algum património que está mais abandonado e mais degradado.”
Por todo o país encontramos dezenas de equipamentos, castelos, aldeias históricas, estritamente entregues à iniciativa privada. “O projecto REVIVE [uma iniciativa do Estado para rentabilizar o património público] está a alugar património por 50 anos, nomeadamente conventos, mosteiros e castelos, que são lançados em praça. O que tem acontecido é que o nível de resposta é para hotéis. É uma saída possível, e mais vale fazer hotéis do que os equipamentos estarem completamente abandonados e a degradarem-se. Mas não é a solução que nós queríamos.”
Fundamental para ajudar a gerir o património seria a criação de um Observatório, com especialistas em Economia da Cultura, adianta a historiadora da arte. Não existem mestrados nem doutoramentos nesta área, o que dificulta o desenvolvimento correcto de modelos de gestão. “ Hoje é impensável não haver Economia da Saúde – e o objectivo não é tornar a saúde rentável, é gerir com a máxima eficácia, consoante os recursos e as necessidades. Se não trabalhamos esta área, os riscos excessivos do turismo massificado são terríveis… No património, como se calhar em tudo, a quantidade é inimiga da qualidade. É preciso gerir isto.”
Quem quiser visitar o castelo de São Jorge, o Mosteiro da Batalha ou o Convento de Mafra irá deparar-se com filas intermináveis de turistas. Este passou a ser o cenário habitual de muitos museus, palácios e monumentos.
Só recentemente os responsáveis políticos se começaram a aperceber que os turistas que visitam o país não se mantêm no circuito sol e praia, mas que também contribuem intensivamente para as entradas nos museus e monumentos, diz Paula Silva, directora-geral da DGPC. Isto poderá ajudar a explicar porque é que até agora “não existe uma estimativa do valor gerado pelo património português. Não temos dados compilados. Mas deveríamos trabalhar sobre isso porque o património é um factor gerador de receita directa (pelos próprios monumentos) e indirecta, porque fazem mover a economia à sua volta. É importante saber o valor que têm não só do ponto de vista de memória, identidade, preservação, alegria, criação de felicidade, mas de quanto geram de riqueza pura e dura.”
Segundo o Instituto Nacional de Estatística, em 2017 (os últimos dados publicados) registaram-se mais de 17,1 milhões de visitas a museus; em 2013 tinham sido 11 milhões. Um estudo da DGPC com dados recolhidos em 2015 revela que há mais estrangeiros (53%) do que nacionais (47%) a visitar os espaços sob sua tutela.
Para quem teme os impactos negativos do turismo, Paula Silva garante: “O único sítio em carga, e onde não interessa ter mais visitantes, no caso da DGPC, é a Torre de Belém porque é muito pequena e a carga possível é limitada. Temos vindo a limitar incentivos ao aumento do turismo no local.” Em 2018, a Torre de Belém foi o segundo monumento sob alçada da DGPC mais visitado, com 450.546 entradas – o primeiro foi o Mosteiro dos Jerónimos, com 1.079.459. Mas o monumento mais visitado em Portugal continua a ser o Castelo de São Jorge, também em Lisboa, com praticamente dois milhões de visitas. Ainda assim, pela primeira vez desde 2013, houve em 2018 uma queda nas visitas aos espaços tutelados pela DGPC (menos 400 mil visitas no total), devido a restrições às entradas e mudanças nas vendas de bilhetes, de acordo com aquele organismo.
A descentralização é agora uma prioridade, diz a directora. “De uma forma geral temos ainda muita capacidade de receber turismo e gostávamos que ele se diversificasse pelo país, pelas regiões mais sacrificadas pela desertificação, e se expandisse para os territórios menos povoados, criando valor económico que atraia de novo as pessoas. Estamos a trabalhar nisso.”
Um dia, o rei D. João V achou por bem fazer grandes obras na Charola do Convento de Cristo, em Tomar. Mas perante a beleza do que viu, desistiu. “Era mais importante [o que havia] do que aquilo que poderia vir a fazer”, conta o historiador Jorge Custódio. Mas apesar desta decisão sensata do rei, a ideia de património como algo que deve ser protegido pelo Estado vem das sociedades liberais do século XIX, explica. “Iniciou-se um movimento para que fossem criadas condições para uma organização que pudesse proteger os bens que tinham um valor simbólico (…). Começa a desenvolver-se o princípio de que a autoridade pública, seja administração central, local ou regional, deve ter medidas cautelares para a preservação.”
Num texto intitulado “Monumentos Pátrios”, escrito em1838, Alexandre Herculano defendia a preservação do património “que todos os dias vemos desabar em ruinas. Esses que julgam progresso apagar ou transfigurar os vestigios venerandos da antiguidade que sorriam das nossas crenças supersticiosas; nós sorriremos tambem, mas de lastima, e as gerações mais illustradas que hão de vir decidirão qual destes sorrisos significava a ignorancia e a barbaridade, e se não existe uma superstição do presente como ha a superstição do passado.” E mais adiante: “Nenhum monumento historico pertence propriamente ao municipio em cujo ambito jaz, mas sim á nação toda. Por via de regra, nem a mão poderosa que o ergueu regía só esse municipio, nem as sommas que ahi se despenderam sairam delle só, nem a historia que transforma o monumento em documento é a historia de uma villa ou cidade, mas sim a de um povo inteiro.”
Dificilmente obra nova é considerada património. Em Portugal, segundo a DGPC, os edifícios mais recentes que são monumento nacional – o grau mais alto de classificação – são a Casa de Chá da Boa Nova (1963) e a Piscina das Marés (1966), de Siza Vieira, ambos em Leça da Palmeira, e o edifício da Fundação Calouste Gulbenkian, dos arquitectos Ruy Jervis d’Athouguia, Pedro Cid e Alberto Pessoa, inaugurado em 1969. Quanto tempo é preciso esperar para que um edifício entre nesta categoria? “Não está escrito em lado nenhum, nem há uma lei”, adianta Paula Silva. “Normalmente, entre 30 e 40 anos é o tempo de saber se o edifício significa alguma coisa para as comunidades, se se revela interessante do ponto de vista arquitectónico – o valor do próprio bem.”
Quem por estes dias for ao Museu de Arte Popular, em Lisboa, encontrará uma sala cheia de maquetas. Físicas do Património Português. Arquitectura e Memória é uma exposição que reflecte precisamente sobre a relação entre a arquitectura e o património. As paredes são o pano para uma enorme cronologia, que começa em 1872. Vamos acompanhando a história de reconstruções, criação de instituições, ou adopção das cartas internacionais de defesa do património, enquanto à direita temos alguns dos exemplos de obra construída.
É sobre o filtro do tempo que fala o seu curador, Jorge Figueira, arquitecto, crítico e professor de História e Teoria de Arquitectura na Universidade de Coimbra. É vulgar o “entendimento de que o património costuma ter a marca do tempo”, diz. “A resistência, a resiliência e a notoriedade dos edifícios que é provada pelo tempo é uma condição para se determinar se é ou não patrimonial – mas esse tempo tem vindo a encurtar muito.”
A discussão sobre se a arquitectura moderna será ou não património é relativamente recente e tem ocupado mais os arquitectos do que dos historiadores. “Uma referência boa é a criação da Instituição Docomomo [criada em 1988 para a proteger edifícios modernos]: só nos últimos 20, 30 anos, já esticando a corda, é que se começa a pensar que aquilo que é tipicamente do século XX, e que é tipicamente moderno, pode ser entendido como património.”
Um exemplo que não lhe oferece dúvidas: a igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Lisboa, projectada por Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas, e inaugurada em 1970. “Obviamente que é património: do ponto de vista da cidade, da arquitectura, da própria questão do movimento de renovação religiosa.”
Os critérios? “Tem que haver uma excecionalidade que é postada mais em termos disciplinares, científicos, dos conhecedores (arquitectos, historiadores, intelectuais, artistas), e tem que haver um reconhecimento público generalizado de que se trata de um edifício que pertence à cidade, àquele lugar ou a uma comunidade.” Quando um edifício ganha um certo valor simbólico e se torna um objecto no qual as pessoas se reconhecem, o caminho está praticamente feito. “Não estranharia que a Casa da Música [no Porto, projectada por Rem Khoolhaas] pudesse já ser considerada património porque é um edifício que foi agarrado pelas pessoas.”
Também há sempre uma relação entre património e identidade, mas “pode haver momentos em que essa identidade é problemática”, adianta Jorge Figueira. E dá um exemplo que é também abordado na exposição: “O Estado Novo claramente pega na revitalização do património como uma acção de propaganda. É uma acção voluntária de exacerbar o património como sendo reflexo da nossa identidade. E é uma invenção: algumas igrejas são redesenhadas, há claramente uma espécie de estilo mais românico que é imposto, às vezes sem um critério muito rigoroso. Esse momento de utilização do património para uma criação identitária obviamente que é problemática, mas não deixa de reflectir aquele momento político. Acontece muito nas ditaduras, nos governos autoritários, onde claramente objectos de interesse histórico, que fazem parte do imaginário das pessoas, são exacerbados para provar alguma coisa. A questão aí é que não só o património é exacerbado, como a identidade é exacerbada.”
De certa forma, também se podem apontar casos semelhantes em democracia. Tomemos como exemplo a Expo 98. “É uma efabulação sobre a ideia de um Portugal moderno, europeu, avançado, preocupado com questões ecológicas, com os oceanos, etc. Há sempre uma certa manipulação na questão patrimonial. Serve sempre para reforçar a identidade, seja ela imperial e colonial do Estado Novo, seja a identidade democrática, moderna e progressista da Expo 98.”
Num vídeo transmitido na exposição, o historiador Rui Tavares comenta: “Entre o apagar e o manter, há o reinventar, há o preservar e há também o apropriarmo-nos do passado”. Terá sido isso que fez Siza Vieira com o Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações, em Lisboa. Jorge Figueira concorda: “Tem uma austeridade que parece pertencer mais a uma certa cultura severa do Estado Novo do que à ideia de uma festa global e universal como a Expo 98”. O arquitecto teve um gesto de “não apagar a memória das coisas que não são tão defensáveis, mas reescrevê-las no contexto actual, de modernidade.”
Siza fez ainda outra coisa: “No plano inicial, o Pavilhão de Portugal estava proposto para estar no centro da doca e ele coloca-o à esquerda. Pretende que a monumentalidade não seja enfática, que não seja o Pavilhão de Portugal no eixo e no centro do mundo. Ao mesmo tempo que faz essa assimetria, a linguagem do edifício é de facto algo monocórdica, severa, como se tivesse a dialogar com a Exposição do Mundo Português de 1940. Há aí uma cumplicidade, que acho que é mais uma intuição do Siza do que propriamente um projecto.”
A constatação da importância do património para a construção da identidade faz muitas vezes parte do discurso político, e dos gestos – não por acaso, muitos líderes estrangeiros que visitam Lisboa vão ao Mosteiro dos Jerónimos depositar coroas de flores, num reconhecimento implícito de que o país teve o seu papel num determinado momento histórico.
Mas se o património serve os políticos, os políticos não têm sabido servir o património como este merece e precisa. O historiador Jorge Custódio chama a atenção para os efeitos da falta de empenho, reflectido na ausência de verbas destinadas ao sector. “O 1% do Orçamento Geral do Estado não chega sequer para as questões do património – e temos ainda menos que isso para a cultura como um todo. Geralmente, as entidades políticas não se querem empenhar na estratégia da salvaguarda e da conservação do património porque é caro.”
Depois do incêndio na Notre-Dame, Emmanuel Macron dirigiu-se a todos os franceses para lhes pedir que participassem na reconstrução. E se tivesse sido os Jerónimos? Veríamos o primeiro-ministro português a lançar um apelo semelhante?
“Há uma relação ancestral de ‘o Estado não sou eu’”, comenta Catarina Valença Gonçalves. Os portugueses não sentem que o património lhes pertença dessa forma, nem se sentem responsáveis por ele. “Esse é um problema muito forte e só se combate com educação.”
O acordo ortográfico utilizado neste artigo foi definido pelo autor