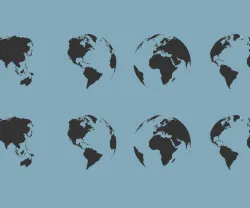Geopolítica: uma nova ordem global?
Os dias da guerra são também os dias da geopolítica. Mais do que nunca, importa refletir sobre os sinais de uma nova ordem mundial. Depois das vertigens americanas, dos dilemas europeus e das ambições da China e Rússia, a guerra na Ucrânia torna ainda mais urgente compreender o mundo que se segue
Alguma coisa parece estar a mudar na nova ordem mundial, que tinha saído da Guerra Fria, e em que as fronteiras não se alteravam pela força. Podemos dizer que esta é uma guerra essencialmente europeia, ou tem uma predominância global?
É uma guerra europeia, mas é também uma guerra com um impacto naquilo que é a definição da estrutura da ordem global. O final da Guerra Fria foi a transformação de uma ordem, mas através de meios pacíficos, ao contrário do que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial, ou o que aconteceu com a Primeira Guerra Mundial, onde essa transição, essa mudança da estrutura, se fez pelas armas. E agora é o regresso à guerra, por enquanto guerra convencional, que vai obviamente mudar as dinâmicas, e mudar as regras do jogo internacional a nível global.
Tendo em conta a Rússia e a Ucrânia – de um lado, todo o poderio que se conhece da Rússia, e do outro lado a Ucrânia, um país que desde sempre alimentou o ímpeto de se desligar do jugo russo – podemos falar aqui numa guerra entre David e Golias?
A Ucrânia não é propriamente um David, porque é o segundo maior país da Europa e é um país com uma extensão territorial brutal. É verdade, esse ímpeto da Ucrânia em poder finalmente ter a sua independência de forma completa. Desde a Idade Média, toda a história da Ucrânia tem sido uma história de tentativa de libertação em relação a um outro poder político, que de facto sempre foi um poder político opressor, quer seja a Polónia, quer seja a Lituânia, quer seja o Império Austro-Húngaro, quer seja o Império Russo ou a União Soviética. A União Soviética desaparece, e depois a Ucrânia, no fundo, quer seguir o seu próprio rumo. E tenta em 2005 a famosa Revolução Laranja, mas não consegue. Tenta em 2013, todos nos lembramos bem de ver as imagens da revolução Euromaidan, e também não consegue. E é agora, finalmente, passados nove anos, que julga ter chegado esse momento de poder fazer a sua escolha.
Em todas essas tentativas, a União Europeia [UE] teve sempre uma posição muito silenciosa.
Não acho que a Europa tenha estado muito silenciosa, nem a Europa nem o Ocidente. Aliás, a UE, em particular, tem sido muito clara nos instrumentos que tem desenvolvido. Nomeadamente naquilo que são os programas que a UE faz, de relacionamento com os seus parceiros e com os países vizinhos. A razão direta do Euromaidan, em 2013, surgiu precisamente do fato de o governo ucraniano nessa altura ter decidido assinar o Acordo de Associação comercial que tinha sido proposto pela UE. A visão que Moscovo tem é outra visão, é a visão de que a sua segurança e os seus interesses necessitam que haja ali uma fronteira, não só nacional, mas de outros países que «colam» diretamente com a Rússia, por forma a assegurar que os interesses da Rússia não sejam verdadeiramente questionados.
Haverá aqui uma plataforma de entendimento entre essas duas visões?
Durante muitos anos houve um potencial de conciliação e esse potencial foi bem trabalhado pelos países do Ocidente, através da institucionalização de uma relação privilegiada, quer dos países da UE, quer dos países da NATO com a própria Rússia. Mas, a partir de certa altura, sobretudo do lado da Rússia, essas instituições, e a institucionalização dessa relação, foram vistas como um meio de manipulação para enfraquecer a Rússia. A seguir ao final da Guerra Fria, do ponto de vista daquilo que era a política externa russa, e da maneira como a Rússia se posicionava no mundo, e em particular na Europa, havia uma grande discussão interna. Esse foi o reflexo imediato da implosão da União Soviética: daquelas 15 repúblicas, 14 tornaram-se independentes, e depois sobrou uma, a maior de todas, que ainda por cima é uma república federal, a Federação Russa. Na entrada do século XXI essa discussão na Rússia estava a terminar, essa fase de crise quase ontológica sobre a Rússia. Vladimir Putin teve um papel muito importante quando chegou à liderança, em 1999, no fecho dessa reflexão, e na formação dessa nova identidade da Rússia. A Rússia quer continuar a ser uma grande potência.
Como é que a Rússia pode alimentar essa ambição, conhecendo nós o estado da economia russa nesta altura?
Essa narrativa política é construída pelo regime. Moscovo olha para o processo de integração da UE como um processo típico de países que são fracos, e que sozinhos não conseguem ter uma palavra suficientemente forte para marcar a agenda internacional. A Rússia sozinha tem essa capacidade, e tem essa capacidade por causa da sua dimensão territorial e por causa do seu volume populacional. A Rússia tem um estatuto de grande potência dentro do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, é um dos cinco membros permanentes, tem direito de veto. A Rússia é a outra grande potência nuclear. Existem agora três grandes potências nucleares, os Estados Unidos, a China e a Rússia. A sua economia não é muito diversificada, nem muito moderna, nem está a crescer muito, mas a sua economia assenta na posse de dois recursos fundamentais, que nós sabemos que no jogo da economia global têm um grande protagonismo, e trazem muita leverage, ou seja, muita capacidade da parte da Rússia. E estou a falar, claro, dos recursos energéticos, do gás e do petróleo.
Que imagem é que Moscovo tem do outro lado, do outro grande ator internacional que são os Estados Unidos? O retraimento dos Estados Unidos nos últimos anos pode também ter contribuído para este avanço agora da Rússia?
A imagem que o Kremlin tem dos Estados Unidos é de que são a outra grande potência ao nível da Rússia. A China – que aliás tem uma fronteira direta, enorme, com a Rússia – na verdade é uma grande potência e, provavelmente até, se a nossa perspetiva for uma perspetiva global, é a outra grande potência ao lado dos Estados Unidos. Quando o presidente norte americano não mostra interesse na Rússia, e não é para ele prioritário sentar-se à mesa das negociações como a Rússia, isso é uma coisa que o Kremlin tem muita dificuldade em aceitar. E sobretudo foi percebendo que mais depressa a administração americana, qualquer que seja o Presidente, quer sentar-se à mesa das negociações com a China. Esta intervenção na Ucrânia é uma decisão que, na perspetiva do Kremlin, permite à Rússia continuar a marcar de maneira evidente a agenda internacional.
E como é que o Ocidente foi acompanhando este desejo de expansão da Rússia? Podiam ter feito alguma coisa para controlar esse ímpeto?
Acho que isso não estava muito no radar, razão pela qual, de certa maneira, foram apanhados com alguma surpresa em 2014, com a ocupação e a anexação da Crimeia. Rapidamente afinaram as agulhas e perceberam que esse movimento de projeção de poder, que é essencialmente regional, e que é numa zona entendida enquanto esfera vital para os russos, é uma resposta direta a essa leitura que a Rússia fez. Para Moscovo, quem se estava a expandir não era a Rússia, era o Ocidente, nomeadamente através dos alargamentos da UE e da NATO, não apenas para os antigos países-satélite da União Soviética – da Europa Central, da Europa Oriental e da Europa Balcânica –, mas sobretudo, e em particular, para os três países bálticos, que, não nos podemos esquecer, eram parte integrante da União Soviética. A gota de água surgiu em 2008, quando, no contexto da guerra na Geórgia, a NATO anunciou que não via razões para não deixar que um dia a Ucrânia e a Geórgia pudessem também aderir à própria Aliança do Atlântico Norte.
Pode haver aqui uma segunda vida para a NATO?
Se o Pacto de Varsóvia terminou com a Guerra Fria porque é que a NATO não terminou? Porque os seus países-membros continuaram a achar que havia uma série de ameaças e de perigos em relação aos quais se deviam defender. E que aquela aliança e aquela institucionalização da aliança, nomeadamente o artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte, dava uma boa resposta aos receios. Estes vários movimentos, sobretudo com uma dimensão popular, a que nós chamámos as “revoluções coloridas” (que foram acontecendo em 2005 na Ucrânia, ou depois na Geórgia, ou também no Quirguistão, ou mesmo no norte de África, quando começámos a falar da Primavera Árabe), são sempre interpretados pela Rússia não como movimentos que têm origem na sociedade civil e na vontade espontânea e livre das pessoas, mas como tendo sido instrumentalizados pelo Ocidente, precisamente no sentido de enfraquecer a Rússia.
Como é que se podem encarar os desafios que são colocados perante a NATO, com vários países a quererem aderir e com a Rússia a ter esse olhar de desconfiança?
Logo a seguir à Guerra Fria, e sobretudo por causa do terrorismo transnacional, a NATO queria afirmar-se mais como um gestor global de segurança, e daí a sua intervenção em conflitos como o do Afeganistão. A NATO parece agora já não estar em morte cerebral, o que é fundamental. Durante anos, os presidentes norte-americanos disseram aos seus aliados europeus que tinham que gastar também na sua própria segurança, mas os aliados europeus hesitavam. Agora os países europeus perceberam que essa alteração, do ponto de vista das suas despesas em matéria de segurança e defesa, tem mesmo que ser feita. Aliás, vimos há uma semana e meia o novo chanceler alemão declarar esta viragem radical, a introdução de um novo paradigma na maneira como, também a Alemanha, se irá posicionar internacionalmente.
Até porque pode haver uma maior abertura por parte da opinião pública, perante a guerra, de compreender os gastos dirigidos à componente militar.
Nos últimos 70, 80 anos pensámos que o problema essencial da política internacional tinha sido resolvido. A ideia de que fora dos países não há um governo mundial, há apenas uma anarquia, provoca muito a tendência para o conflito, para as guerras. Depois tivemos a ideia de criar uma ordem internacional assente numa lógica de multilateralismo, de diplomacia, e sobretudo na Europa, este projeto extraordinário que é a UE. Aliás, é interessante notarmos que o Ocidente acreditou nisso, nas viortudes do multilateralismo, mas a verdade é que o resto do mundo continuava a viver num contexto muito diferente. Isso foi uma convicção do Ocidente, mas pelos vistos a realidade entra agora pelas nossas televisões, a mostrar que não é bem assim. E outra coisa importante: viver em liberdade implica também ter um certo nível de segurança. Da segurança depende também a sobrevivência daquilo que é o nosso próprio modo de vida. Houve uma certa complacência perante tudo os nossos rivais ou inimigos, do ponto de vista ocidental, e muito em particular da parte da Europa.
Esta crise poderá de algum modo mostrar que essa sintonia [da UE] tem caminho para andar? Ou, pelo contrário, mais cedo ou mais tarde as contingências das várias realidades nacionais poderão fazer-nos recuar outra vez para a falta de sintonia que tem existido?
Sim, mas com moderação. O projeto da UE é um projeto democrático, e um projeto democrático, pela sua própria natureza implica sempre haver pluralismo. O problema da cacofonia estratégica europeia, mesmo agora com aquilo a que estamos a assistir no Leste Europeu, não fica resolvido. Aliás, continuamos a ver países que fazem diretamente fronteira com a Ucrânia, como seja a Polónia, a Eslováquia, a Hungria, ou mesmo os três países bálticos, ou a Suécia e a Finlândia, que continuam a ter preocupações e a pedir que haja uma resposta. Um projeto democrático tem que respeitar as várias Europas dentro da Europa – e a identidade europeia é o que é porque é produto dessa negociação constante entre várias identidades dentro da Europa. Há a tendência e a inclinação para se procurar construir respostas mais comuns, porque a necessidade cria isso mesmo. Mas, muitas vezes, é preciso que a necessidade histórica dê mesmo um empurrão, ou dê um «banho de realidade» à Europa, para as coisas verdadeiramente acontecerem. A situação que se vive na Ucrânia vem mostrar isso mesmo: o discurso é muito importante, as ideias são muito importantes, os projetos são muito importantes, a deliberação em si, também é uma coisa muito importante, mas também é muito importante agir.
A ação da Europa passou nestes últimos tempos por medidas difíceis de serem tomadas. Até onde é que podem ir as sanções, ainda há muito mais por onde se possa avançar nesse sentido?
A resposta a essa questão tem que ser dada pela própria Rússia. Estamos a ver que as decisões da UE são decisões que vêm por arrasto das ações da Rússia. E o método para dar resposta ao que está a acontecer na Ucrânia, é um método essencialmente gradualista, e não belicista. Os países europeus são soberanos, e se eles também forem atacados, e se os países da NATO, em particular, forem atacados, tem mesmo que haver uma resposta.
E, neste cenário, qual é o papel da China?
A China tem uma relação de grande proximidade com a Rússia, não é uma aliança, é o que nós podemos chamar uma «parceria estratégica negativa». Ambos estão interessados em evitar que os Estados Unidos continuem a ser uma grande potência e a ter uma influência global. Essa dimensão da parceria estratégica tem sido muito proveitosa nos últimos anos para a China do ponto de vista dos acordos comerciais. A China não quer que, se se aproximar, ou se ajudar demais a Rússia, isso possa significar sanções do lado ocidental para ela. A China é uma «potência revisionista» do ponto de vista dos princípios da ordenação global, mas não é uma «potência revisionista» do ponto de vista das fronteiras políticas da ordem internacional. Se a China souber navegar muito bem nestes desafios, em última análise o que pode acontecer é que daqui a uma década olhemos para a Rússia e a Rússia se tenha tornado uma espécie de «Bielorrússia da China».
Portugal, um país que ao longo dos tempos se bateu pelo multilateralismo, que posição pode desempenhar? Um país atrativo para quem quiser fugir desses outros ares mais conturbados a leste?
Desde o estabelecimento da democracia no país, Portugal tem uma preferência por uma certa maneira de estar na comunidade internacional (que, aliás, até soube usar bem através dos seus laços históricos), apostando no multilateralismo, encontrando soluções negociadas e comuns para os problemas que afetam a comunidade internacional. De alguma maneira, não estar no centro coloca-nos numa posição de maior tranquilidade, e provavelmente de maior estabilidade, que pode de facto ser muito atrativo, quer para a vinda de outras pessoas, quer para investimentos económicos. Portugal tem responsabilidades históricas, é uma democracia liberal, faz parte de uma aliança que é a NATO, faz parte de outra aliança que é a UE, que também defende a democracia. O nosso posicionamento está associado ao cumprimento dos compromissos que decorrem da pertença a essas duas comunidades, a NATO e a UE. Somos um país muito aberto e temos mostrado isso (em 2015, por exemplo, aquando da crise dos refugiados), muito contrariamente à maioria dos outros países europeus, com uma grande abertura, com uma visão muito cosmopolita.
Pode ouvir na íntegra esta conversa da jornalista Judith Menezes e Sousa com a investigadora do European Council on Foreign Relations no 1º Episódio do podcast «O Mundo Que Se Segue.
O acordo ortográfico utilizado neste artigo foi definido pelo autor