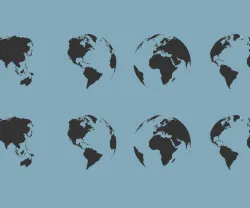"Entre o Índico e o Pacífico"
«A guerra em lume brando?» é o tema do próximo Fronteiras XXI. O ano de 2018 é decisivo para o jogo de forças diplomático e económico entre os Estados Unidos e a China. Para saber mais sobre o tema, deixamos-lhe aqui a sugestão de leitura de um dos capítulos do livro de Bernardo Pires de Lima.
Não perca o programa – dia 7 de Fevereiro, às 22h30, na RTP3.
«O ano de 2012 marca pela primeira vez a subida da China e da Ásia a prioridade número um na estratégia política e de defesa dos EUA, enquadrada pelos dois oceanos, o Índico e o Pacífico. Neste sentido, a ascensão da China passou a ser claramente reconhecida como o problema principal nos EUA e a relação bilateral entre Washington e Pequim tornou-se a mais importante na política internacional.
Ao contrário dos EUA, o regime comunista não precisa de exprimir as suas escolhas estratégicas em documentos oficiais para traçar o seu quadro de prioridades geopolíticas, o que não implica que os estrategas chineses não tenham apontado para a emergência de uma Grande Ásia, definida por quatro regiões conectadas: a Ásia do Norte (o Japão e as duas Coreias), o Sudeste asiático (os dez membros da ASEAN e Timor-Leste), a Ásia do Sul (a Índia e os restantes membros da SAARC) e a Ásia Central (Afeganistão e as cinco ex-repúblicas soviéticas que integraram a Organização para a Cooperação de Xangai).
A relação entre as duas prioridades chinesas – os Estados Unidos e a política regional asiática – é evidente. A China só pode ser um challenger internacional dos Estados Unidos quando conseguir consolidar a sua posição hegemónica na Ásia e esse desígnio tradicional só será possível na medida em que neutralizar a posição norte-americana enquanto potência asiática. Neste quadro, a China tem de ter pelo menos um aliado nessas regiões: a Coreia do Norte no Nordeste asiático, o Camboja a sudeste, o Paquistão a sul, impedindo a expansão do sistema norte-americano de alianças e consolidando um grande complexo regional por si moldado. Esta Grande Ásia passaria mesmo a ser o maior de todos os «complexos regionais», na expressão de Barry Buzan, nas suas dimensões cruciais: em número de grandes potências (China, Índia e Japão); no potencial de desenvolvimento (China e Índia são o epicentro da maior fatia de crescimento do PIB global a partir da crise de 2008), no PIB global (com quota de mais de 25 % do total), no peso demográfico (só a China e a Índia somam 2,5 mil milhões de habitantes, um terço da população mundial), em despesa militar (a Ásia ultrapassou a Europa em 2012), na quantidade de Estados com capacidade nuclear (China, Índia, Paquistão e Coreia do Norte) ou na dimensão dos exércitos (dos cinco com mais de um milhão de soldados três são asiáticos, o chinês, o indiano e o vietnamita).
Neste quadro regional, vale a pena dar alguma atenção à Ásia Oriental, área que abrange do Japão à China e do Sudeste asiático à Birmânia, há muito inscrita no pensamento ocidental mas que nunca se assumiu como uma entidade coerente, na medida em que os seus países foram marcados pelo legado da influência cultural chinesa e do imperialismo ocidental. Contudo, a designação Ásia Oriental está a ecoar na própria região e a adquirir um significado mais concreto devido à rápida e colossal integração económica e a uma crescente autoconsciência. Este enfoque geográfico é ainda artificial como matriz política homogénea. A Índia, fora da circunscrição geográfica da Ásia Oriental, é propensa a desempenhar um papel influente na região, a Austrália e a Nova Zelândia têm cada vez mais vontade em integrar a rede de interesses e oportunidades e o Japão e a imponente China não são apenas actores locais, dão-lhe amplitude e influência mundiais. Mais do que uma expressão geopolítica coesa, a Ásia Oriental é um xadrez-potência na economia internacional. As suas empresas são actores muitas vezes dominantes em várias indústrias e as suas marcas globais. A parcela da Ásia Oriental no PIB global cresceu consistentemente de 12 % em 1970 para 26 % em 2014 e os seus bancos centrais detêm hoje perto de 2 biliões de dólares de activos norte-americanos. Quem previu, há 10 anos, que os mesmos se tornariam nos maiores credores externos dos EUA em 2015?
(…) Os números não mentem: entre 2000 e 2013 o aumento do investimento militar chinês foi de 362 %. Pequim tem hoje o segundo maior orçamento de defesa do mundo e em 2015 subiu 10 % a despesa em relação ao ano anterior, acima do que cresce a economia. No mesmo período, só a Rússia e a Arábia Saudita tiveram comportamentos aproximados (aumentos de 170 % e de 133 %, respectivamente), embora com objectivos diferentes: Moscovo para muscular a política europeia e a do Cáucaso, Riade para responder à ascensão do Irão e patrocinar revoltas alheias. A China diz querer fugir à lógica dos conflitos, mas então para quê tanto investimento na defesa?»
Excerto do livro de Bernardo Pires de Lima “Portugal e o Atlântico”.
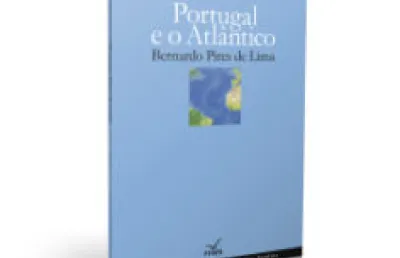

![A humorista Luana do Bem ao lado do politólogo Pedro Magalhães, sobre um fundo cinzento, com os logotipos "Fundação Francisco Manuel dos Santos" e "[IN]Pertinente" ao centro.](/sites/default/files/styles/teaser_small/public/2026-01/INP2026_POLITICA_1_SITE_1280x720_DESTAQUE.png.webp?itok=eh6XTxRK)