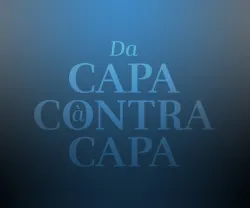A saúde digital e a autonomia dos cidadãos
A leitura do livro de José Mendes Ribeiro, «A Saúde Digital – Um sistema de saúde para o século XXI», suscitou-me um conjunto de reflexões que aqui partilho, baseadas não só na leitura da referida obra, mas naturalmente, pela sua leitura à luz do que tem sido a minha própria investigação sobre o assunto, temas que venho aprofundando desde 2006.
O contributo de José Mendes Ribeiro para esta reflexão foi importante, pois faz uma síntese de alguns dos aspetos que normalmente se associam à chamada Saúde Digital e que são fundamentais para pensar e agir não no futuro, mas no presente, uma vez que muitos dos exemplos apresentados são realidades atuais e outras apenas precisam de vontade política para se concretizarem.
Do ponto de vista tecnológico, todas as ideias e propostas são possíveis, exequíveis e algumas até poderão, nesta altura, ser soluções ultrapassadas, pois a inovação tecnológica está a ser muito mais rápida do que capacidade das comunidades e as organizações para se apropriarem das vantagens que essa tecnologia pode trazer. No campo da saúde em particular, e também pelas razões apresentadas no livro (convencionalismos de abordagem, estruturas administrativas e burocráticas rígidas, falta de vontade política, interesses instalados, pouca flexibilidade dos sistemas em causa – a terminologia é minha), esses avanços tecnológicos têm demorado o seu tempo a ser implementados. E em Portugal, essa “lentidão” tem-se vindo a fazer sentir desde há muito tempo. O exemplo do Registo de Saúde Eletrónico (RSE) é revelador. Em discussão e tentativa de implementação desde os anos 90, já existe, mas com outro nome e longe daquilo que efetivamente podia representar para a gestão da saúde e consequente qualidade do serviço prestado aos cidadãos.
A digitalização da saúde ou um percurso a caminho da Saúde Digital parece ser relativamente consensual não só entre os cidadãos, mas para as diversas instituições envolvidas nesta área, do Estado aos privados, hospitais e prestadores de cuidados, investigadores e indústria. O que já não é tão consensual, como seria de esperar, é a forma de o implementar, quem assume as responsabilidades do quê, e, principalmente, quem financia o quê, como e para que fins.
Assumindo a ideia, preconizada por diversos atores e instituições, nacionais e internacionais, nomeadamente a Organização Mundial de Saúde (OMS), de que “o cidadão deve estar no centro dos sistemas de saúde”, é então, neste pressuposto que as propostas de implementação da chamada “saúde digital” se devem basear. Contudo, é um caminho que está a demorar o seu tempo a percorrer, em particular no caso português. Porém, alguns avanços significativos foram realizados nos últimos anos, com passos maiores ou menores realizados tanto pelo Estado (como é exemplo do chamado SNS + proximidade do Ministério da Saúde) e pelas entidades privadas (praticamente todos os prestadores de cuidados de saúde têm uma forte presença on line, desenvolveram aplicações para smartphones já bastante user friendly e fomentam intensamente a sua utilização pelos seus clientes e também o surgimento de múltiplas startup com propostas de serviços de apoio à gestão individual da saúde dos cidadãos, uma espécie “uberização” de alguns serviços ligados à prestação de cuidados de saúde).
Mas vamos ser realistas: há dois aspetos sem os quais toda e qualquer tentativa de tornar o cidadão o centro do sistema utilizando para tal a tecnologia (ou aproveitando a tecnologia para fazer esse percurso) vão sempre falhar e que são o aumento e generalização da Literacia em Saúde e da Literacia Digital.
Em Portugal, os níveis de literacia em saúde são globalmente baixos. Portugal caracteriza-se por ter 11% da população com um nível de literacia em saúde “inadequado” e cerca de 38% da população com um nível de literacia em saúde considerado “problemático” e se falarmos em literacia digital, podemos mesmo começar por aceitar que temos uma baixa utilização de internet ou aplicações, falamos ainda de números bastante baixos para o conjunto da população (74,7% de utilizadores de internet em Portugal, dados INE/PORDATA para 2018). É neste contexto específico que temos de refletir quando queremos implementar a Saúde Digital como forma de tornar o cidadão o centro do sistema.
Há, assim, aspetos nos quais vale a pena investir (o Estado, as empresas e os cidadãos, individual e comunitariamente), tempo e dinheiro, para melhorar a qualidade de vida - onde a saúde é o valor primordial, na contemporaneidade. Aumentar a autonomia dos cidadãos nas diversas áreas da sua vida depende fundamentalmente de aumentar os seus níveis de literacia também nas várias esferas da sua existência para que possam, autonomamente, tomar decisões para si, para a sua família, que sejam consistentes com as suas opções e com a sua realidade e vontade efetiva.
A modernidade impõe-nos estilos de vida onde a tecnologia é central. Nem todos os cidadãos estão aptos para lidar com essa realidade. Mesmo quando são utilizadores intensos de tecnologia, tal não significa que sejam autónomos na tomada de decisões, nomeadamente no campo da saúde, por limites em termos de literacia. A autonomia do cidadão só é possível quando esses níveis forem tais que a sua capacidade para tomar decisões seja compatível com a “oferta” digital intensiva a que está sujeito, também no campo da saúde. O Estado e as empresas podem contribuir para o reforço dessa autonomia criando estruturas e funcionando em rede, criando “oferta” passível de realizar o desígnio do “cidadão no centro do sistema”, sem paternalismos, dando ao cidadão a capacidade de efetivamente ser autónomo na sua relação com a saúde, a partir do seu conhecimento e da sua vontade de ser saudável.
Rita Espanha é professora e investigadora no ISCTE-IUL na área das Ciências da Comunicação. É autora do livro Informação e Saúde, publicado pela FFMS (2013).
O acordo ortográfico utilizado neste artigo foi definido pelo autor.

![A radialista Filipa Galrão e o endocrinologista Ricardo Rangel, lado a lado, com o logotipo "[IN]Pertinente" ao centro, acima das suas cabeças, sobre um fundo cinzento claro.](/sites/default/files/styles/teaser_small/public/2026-01/INP2026_CIENCIA_1_SITE_1280x720_destaque_0.png.webp?itok=hv5UNUcv)