
"Nas universidades formam-se pessoas"
«Uma vida, várias carreiras?», reveja este debate Fronteiras XXI
Turismo em Espaços Rurais e Naturais, Gestão Sustentável das Cidades, Produção Multimédia em Educação, Engenharia do Ambiente e Geoinformática, Dieta Mediterrânica e Ciência dos Alimentos. À partida, dir-se-á que estas licenciaturas nada têm em comum. Mas há um aspecto que as une. Todas abrem vagas pela primeira vez no próximo ano lectivo e são um reflexo da preocupação das instituições de ensino superior em acompanhar tendências sociais, económicas, culturais e as necessidades criadas no mercado de trabalho.
Além de tentar colmatar lacunas de formação, a decisão das universidades e institutos politécnicos pode funcionar como um atractivo aos olhos de milhares de jovens estudantes, já preocupados com o que vai ser a sua vida profissional e as oportunidades que terão dentro de três, quatro ou cinco anos, depois de terminarem o curso. Mas há também um risco associado. Num mundo em acelerada transformação, o que hoje parece fundamental, amanhã pode não ser. E uma formação pensada para o curto prazo pode acabar rapidamente por se tornar inútil.
Se assim é, qual o papel do Ensino Superior? A sua missão permanece inalterada desde os tempos em que D. Dinis assinou o documento Scientiae thesaurus mirabilis, criando a primeira universidade em Portugal (fixada em Coimbra em 1537) e uma das mais antigas do mundo? Devem as instituições estar preocupadas com o mercado de trabalho? E que papel devem ocupar disciplinas como Filosofia, História, Latim ou Grego? Existem “saberes inúteis”? E poderão ser estes, na verdade, muito úteis?
Numa sociedade marcada pelo pragmatismo e pelo imediato, potenciado pelos vertiginosos desenvolvimentos científicos e em que o primado da economia e do mercado sobressaem, estas questões tornam-se ainda mais prementes. Mas este é também um tempo com problemas mais complexos para gerir e que obrigam a que cada vez mais saberes entrem em acção.
Nas instituições de ensino já se começa a enfrentar o desafio. Entre projectos de investigação, publicações e colóquios, na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica tenta-se “alterar o mapa intelectual e a ideologia das ‘duas culturas’ – a dos cientistas e a dos humanistas – marcadas, por vezes, pela ignorância mútua e até pelo desdém”, indica Laura Bettencourt Pires, professora e investigadora desta faculdade. O caminho é a “interdisciplinaridade”.
Claro que a base do sistema académico continua a assentar sobre as tradicionais faculdades de Letras/Humanidades e faculdades de Ciências. Mas é cada vez mais visível e desejável a interacção: desde os desafios éticos colocados pelos avanços na Medicina, na Genética ou no acesso e manipulação de dados à utilização de conhecimentos físicos e matemáticos na Música e nas Artes em geral. Já Leonardo Da Vinci o fazia no Renascimento ao desenhar o Homem Vitruviano.
“Novos Renascentistas precisam-se”, diz João Amaro de Matos, vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa. “Hoje, as faculdades mais avançadas procuram desenhar currículos mais flexíveis e multidisciplinares, focados na capacidade dos alunos se ajustarem e adaptarem aos novos desafios”. E esses não podem ser equacionados a nível local. “As universidades de hoje só poderão afirmar-se como relevantes na medida em que se tornarem úteis ao tecido social em que se inserem, que é cada vez menos local, nacional ou mesmo regional.”
O que não faz sentido, reforça a investigadora da Universidade Católica, é continuar a ter uma visão em que a formação académica tem como objectivo último preparar para o mercado de trabalho. “Vivemos num tempo movido por interesses economicistas em que se pretende identificar a educação com a formação técnica e as saídas profissionais e em que há uma tendência para medir a actividade e as realizações intelectuais através da produção de resultados visíveis, mensuráveis e lucrativos, em detrimento da importância atribuída ao desenvolvimento cultural e à investigação nas Humanidades”, alerta Laura Betttencourt Pires. Mas há sinais positivos. Os cursos da Faculdade de Ciências Humanas são sempre preenchidos, salienta.
António Feijó e Miguel Tamen foram dois dos promotores de um curso pioneiro em Portugal e que, sete anos depois, continua a sê-lo no panorama do ensino superior nacional. Três das faculdades da Universidade de Lisboa (Letras, Ciências e Belas-Artes) juntaram-se na oferta de uma licenciatura – Estudos Gerais – que permite aos estudantes não ficarem limitados ao conhecimento transmitido por uma área científica, mas a uma diversidade de temas, dados em faculdades diferentes (actualmente já são oito do universo da UL) e que escolhem em função dos seus interesses.
Mais do que vocacional e orientado para um emprego específico, pretende-se uma formação ampla, que não separa artes, humanidades e ciências. A ideia é precisamente a oposta. “Ao início, havia um certo receio em relação à opção por uma formação deste género, com um perfil tão aberto. Mas a própria sociedade e um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico estão a ganhar a consciência das vantagens de um saber interdisciplinar, por oposição a uma formação monolítica”, diz a coordenadora do curso, Maria de Fátima Reis.
Se a formação é original em Portugal, noutros países e instituições de referência há muito que se percorre este caminho. Os cursos de Liberal Arts, nos Estados Unidos, onde os Estudos Gerais da UL foram buscar inspiração, são apenas um exemplo. A resposta foi positiva. A licenciatura abriu com 30 vagas, mas oferece agora o dobro. O último aluno a entrar no concurso do ano passado fê-lo com média de 14,15 valores.
Consoante as cadeiras escolhidas, os diplomados acabam a formação com um major numa área (daí podem seguir para os mestrados nessa mesma área) e um minor noutra. Mas têm um tronco comum, que integra a frequência de duas línguas, um conjunto de “instrumentos” – desde a Prática de Redacção e Argumentação a Lógica, Pensamento Crítico, Programação ou Desenho – e ainda a discussão das “Grandes Questões em Artes, Humanidades e Ciências”.
Clara Raposo foi eleita este ano para a presidência do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), em Lisboa, e também ela acredita que, além de dar respostas ao mercado de trabalho, a formação universitária deve “atender às necessidades de desenvolvimento e satisfação pessoal dos estudantes”. “Na Universidade formam-se pessoas”, sublinha.
O princípio vale por si, mas torna-se ainda mais defensável quando se olha para a evolução das sociedades. “Considerando as actuais perspectivas de aumento de esperança média de vida e, também, do aumento de vida activa em termos profissionais das novas gerações parece-me algo irrealista pensar-se que é suficiente obter-se uma formação académica (uma licenciatura e/ou mestrado) com vinte e poucos anos de idade, de forma muito especializada e direccionada para uma necessidade imediata do mercado de trabalho naquele momento. As vidas profissionais tenderão a ser cada vez mais longas e, provavelmente, mais variadas. Nesse sentido, a universidade deve ter o importante papel de aliar a uma indispensável e sólida formação ‘técnica’ uma outra vertente de desenvolvimento pessoal, mais multidisciplinar e plural”.
Abrir horizontes, estimular a criatividade, promover maior capacidade de adaptação ao longo da vida, oferecer cultura, expor os alunos a diferentes perspectivas para que desenvolvam a sua própria opinião, informada e sustentada, mas também tolerante face a considerações discordantes. Tudo isto deve ser proporcionado pelo Ensino Superior, defende a presidente do ISEG. “Com uma formação assim abrangente ajuda-se a que o estudante aprenda a conhecer-se a si próprio. E esse autoconhecimento – que guiará os interesses e escolhas de cada um ao longo da vida – é tão importante como dar-lhe os conhecimentos técnicos essenciais para um primeiro emprego”. Por isso, continua, no dia-a-dia do ISEG organizam-se actividades de debate, seminários, ciclos de leitura ou de cinema.
É frequente ouvir-se em relação ao ensino não superior que a escola tem de adaptar-se aos novos alunos. Que a sala de aula não pode ter a mesma configuração que tinha no século XIX, com professores do século XX a ensinar crianças e jovens nascidos no século XXI. Com as devidas diferenças de maturidade e exigência, também no ensino superior reconhece-se a necessidade de fazer diferente.
“É preciso alguma criatividade na forma como as escolas pensam manter o interesse dos estudantes na ida à universidade e à sala de aula, quando lá fora ‘tudo’ está acessível”. Para fazer a diferença, a aula tem de passar a ser mais um espaço de debate e menos de exposição por parte do docente, defende Clara Raposo. Como um actor tem de agarrar a plateia, também o professor tem de captar a atenção dos estudantes. E nesta mise-en-scéne, a presidente do ISEG não dispensa a participação de todos, adicionando o ingrediente do humor. A fórmula resulta, garante a directora desta escola de gestão.
O recurso à análise de estudos de caso – situações reais que foram resolvidas de uma determinada forma – ou à “formação experiencial” são outros dos caminhos que têm vindo a ser postos em prática. “Sendo certo que iniciativas desse género surgem um pouco por todo o lado, a transição da velha escola para formas mais eficazes de aprendizagem constitui ainda um esforço de pioneirismo que tarda a ser posto em prática de forma sistemática em todos os graus de ensino”, ressalva Amândio da Fonseca, presidente da Egor, uma das maiores empresas de recrutamento em Portugal.
Os desafios para as instituições de ensino superior acabam por se transformar em mais oportunidades para os estudantes. E ninguém terá muitas dúvidas que a experiência de ensino proporcionada às novas gerações será, em muitos casos, mais interessante do que no passado. As visitas de estudo a instituições estrangeiras, a experiência de intercâmbios internacionais, promovidas pelo bem-sucedido programa Erasmus, o incentivo à participação em projectos sociais ou de voluntariado, tudo isto tornou a passagem pela faculdade, regra geral, mais enriquecedora.
As empresas também aplaudem esta diversificação do currículo. Cada vez mais, as competências de natureza técnica não chegam para fazer a diferença. “As competências pessoais nas áreas de soft skills são as que determinam verdadeiramente quer a adaptação ao meio, quer o potencial de desenvolvimento humano. Por isso são cada vez mais reconhecidas pelas organizações”, explica Amândio da Fonseca.
“As empresas precisam cada vez mais de perfis dinâmicos que, independentemente da função, estejam e gostem de estar perto do negócio, que possam gerar inputs de valor acrescentado”, diz, por seu turno, Sílvia Nunes, directora em Portugal da agência de recrutamento Michael Page. Dinamismo, facilidade de relacionamento interpessoal, orientação para o negócio, visão analítica e transversal, polivalência e espírito de equipa são algumas das “competências comportamentais fundamentais na maioria dos perfis seleccionados actualmente”, exemplifica.
Mas neste campo há ainda um caminho que universidades e politécnicos têm de cumprir. “O conhecimento teórico que se adquire na universidade não garante totalmente a integração profissional no mercado. Os gabinetes de inserção profissional devem ter um papel mais activo naquilo que é a preparação do estudante para as entrevistas de emprego, bem como para a realidade económica do país”, defende a team leader da Hays Response, Sofia Amorim.
João Amaro de Matos partilha a ideia: “Os mercados de trabalho estão cada vez mais sedentos de flexibilidade, capacidade de adaptação, soft skills e de alguma maturidade antecipada, manifestada numa certa capacidade inventiva de intervenção, para a qual o ensino tradicional prepara muito mal.”
A Hays realiza todos os anos um estudo sobre o mercado de trabalho qualificado em Portugal, incluindo as competências que as empresas dizem procurar nos profissionais. O ranking de 2018 deu este resultado, por ordem decrescente: trabalho em equipa, competências técnicas, proactividade, capacidade de trabalho, experiência.
Não é, pois, de estranhar que haja cada vez mais exemplos de empresas a recrutar profissionais sem experiência no mercado em que a empresa actua. “Não só em termos de experiência profissional, mas em termos de background académico, cada vez mais a tendência será recrutar profissionais com áreas de formação distintas do core business do negócio, criando uma equipa multidisciplinar, assente na diversidade”, acrescenta Sofia Amorim. Procura-se criatividade, visão de negócio e novos procedimentos, diferentes daqueles que teria quem já conhece o segmento e tem uma visão alinhada com aquilo que sempre se fez.
Só que esta ainda não é a regra, avisa Amândio da Fonseca. “Existem constrangimentos de custos e estruturas rígidas que só serão ultrapassados em empresas que aliam uma elevada cultura de gestão a abundância de recursos disponíveis.”
Outra transformação já visível reflecte-se na maior rotatividade laboral. Mais do que uma carreira, os profissionais procuram projectos que lhes permitam continuar a aprender e a gerar valor para a empresa que representam no momento, acrescenta a directora da Michael Page, Sílvia Nunes. A volatilidade das carreiras não estará ao alcance de todos. Mas entre as gerações que foram directamente atingidas, ou indirectamente marcadas, pelo desemprego, esta é uma “luz verde de futuro para os mais jovens”, comenta o presidente da Egor.
Mais ou menos seguros das suas opções e depois de fazerem contas às médias que conseguiram alcançar nos exames nacionais, cerca de 50 mil estudantes finalistas do secundário candidatam-se todos os anos aos cursos superiores que querem frequentar. Possibilidades de escolha não faltam entre as 1068 licenciaturas e mestrados integrados com vagas abertas.
O problema é que este ano, e ao contrário do que aconteceu nos últimos quatro, o número de candidatos ao ensino superior diminuiu, pelo menos na 1ª fase do concurso nacional de acesso. A evolução causou surpresa, na medida em que nada nas taxas de natalidade registadas entre 1995 e 2000 – quando nasceram os bebés que estão agora em idade de concluir o secundário – faria antever a quebra de quase três mil candidatos. Pelo contrário. Nesse período, o número de nascimentos subiu sempre.
Será que o ensino superior está a perder atractividade? O economista e investigador da Universidade do Minho João Cerejeira acredita que este é um fenómeno que se repete em Portugal sempre que cresce a oferta de emprego, como acontece actualmente. Numa altura em que não faltam oportunidades de trabalho, a tentação de deixar os estudos para começar a ganhar algum dinheiro é maior. Já nos períodos em que cresce o desemprego, como aconteceu durante a crise, os jovens tendem a prolongar a sua passagem pelo sistema de ensino.
O problema, lembra João Cerejeira, é que quem abandona precocemente os estudos fá-lo mais por necessidade do que por oportunidade. E um possível regresso ao ensino superior junto destes grupos é menos provável. Até porque, lamenta o investigador, em toda a Europa, as famílias portuguesas são das que têm de fazer maior esforço financeiro para garantir a frequência de ensino superior. Por via das propinas, para quem frequenta o sistema privado, e, no caso dos alunos que têm de mudar de residência, por causa dos custos crescentes com transportes e habitação.
Ou seja, a existência de mais oportunidades de emprego faz “aumentar os benefícios de sair do sistema de ensino, comparando com os custos cada vez maiores de o prolongar por mais tempo”.
São estas as contas simples feitas por cada jovem no momento de decidir. O fenómeno não é exclusivamente português. Também nos EUA, por exemplo, tem vindo a diminuir o número de candidatos ao ensino superior.
Por cá, em números redondos, só pouco mais de metade dos cerca de 90 mil estudantes que concluem os cursos gerais do secundário acaba por candidatar-se ao ensino superior. E há outros países europeus onde as taxas de prosseguimento de estudos são baixas, como acontece na Alemanha, Itália ou Áustria, por exemplo. Só que nestes casos existe um sistema de formação profissional muito ligado às empresas que garante oportunidades de emprego qualificado para quem se fica por níveis de ensino inferiores. “Se a alternativa aos estudos for um emprego não qualificado, isso não é bom”, sublinha João Cerejeira. E é isso que, muitas vezes, acontece por cá.
Mas a verdade é que as vantagens de tirar um curso superior são inequívocas, apesar de se registar algum decréscimo do prémio salarial associado à frequência de ensino superior. Em Portugal, um trabalhador licenciado/mestre ganha quase 75% mais do que alguém que se ficou pelo 12º ano, de acordo com dados da OCDE (relativos 2015). Além disso, quem tem um diploma tem menos probabilidade de ficar desempregado e mais facilidade em voltar a trabalhar, se isso acontecer.
As contrapartidas não se ficam por aqui. O estudo “Benefícios do Ensino Superior”, publicado no final do ano passado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e realizado por uma equipa de investigadores da Universidade do Minho, identifica e mede um conjunto de vantagens, individuais e para a sociedade, que resultam da frequência da universidade ou de um politécnico. Além das já referidas compensações financeiras, os investigadores concluíram que os portugueses que andaram numa instituição de ensino superior vivem mais tempo do que aqueles que ficaram pelo secundário. São também mais participativos social e politicamente e mais tolerantes.
“Não é, assim, surpreendente que as pessoas que possuem um grau superior se sintam mais satisfeitas com a vida, latu sensu. Parte dessa satisfação deve-se aos melhores resultados no mercado de trabalho desta população, mas outra parte deve-se às melhores condições de saúde que revelam e à maior confiança nas instituições e nos outros. Mas, além de benefícios individuais, a escolarização beneficia toda a comunidade. Indivíduos mais escolarizados tendem a ter menos comportamentos anti-sociais, auto ou heterodestrutivos e a participar mais activamente nos diálogos da sua comunidade”, concluem os investigadores. Ou seja, tirar um curso superior compensa. E muito.
O acordo ortográfico utilizado neste artigo foi definido pelo autor

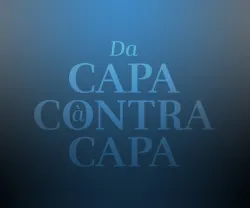

![Na parte inferior, retrato a azul do humorista Manel Rosa ao lado da economista Catarina Roseta Palma, a rosa. Fundo cinzento, com os logotipos "[IN]Pertinente" e "Fundação Francisco Manuel dos Santos".](/sites/default/files/styles/teaser_small/public/2026-01/INP2026_ECONOMIA_1_SITE_1280x720_destaque.png.webp?itok=Uwfzvs9F)