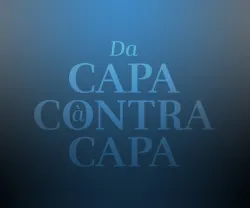«A digitalização em curso é uma obra sempre inacabada»
Reveja o Fronteiras XXI «O que ganhamos com o digital?»
A previsão irrompeu logo nos primeiros dias de confinamento: «Nada volta a ser o mesmo», garantiram, em catadupa, especialistas credenciados na TV e na imprensa em Março de 2020. Podia ter sido apenas mais uma frase batida, mas não era a única que apontava para o primeiro dia do resto das nossas vidas.
Nas janelas de prédios e casas de aldeia, multiplicaram-se os cartazes com arco-íris toscos que garantiam que «vamos todos ficar bem». Com a maioria da população remetida ao teletrabalho e às encomendas de supermercado e restaurantes através do telemóvel é fácil deduzir que o motor da transição digital vai mesmo engatar uma mudança acima.
Mas será que «vamos todos ficar bem»? E se a infraestrutura não suportar a expansão da vida real para um ambiente virtual? E se um cabo cortado gerar um apagão em metade do País? E se um grupo de hackers fechar um hospital com um ciberataque? E se não houver Internet e computadores para todos?
A questão vai permanecer sempre em aberto e não chega sequer a ser um dilema, porque decididamente «nada volta a ser o mesmo» e o digital é mesmo o destino de toda a humanidade – a menos que sejamos todos obrigados a largar telemóveis e computadores por um cataclismo. E sim, essa possibilidade é tão incontornável quanto a própria transição digital.
«Os planos de continuidade de negócios têm de incluir este tipo de medidas que tanto podem passar pela duplicação de infraestruturas (para gerar redundância e criar alternativas a um sistema que deixa de funcionar), como poderão ter em conta a necessidade de regressar aos processos analógicos», explica Lino Santos, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS).
Talvez nem o maior catastrofista esteja realmente preparado para o dia em que terá de voltar a pagar as contas da eletricidade no balcão do banco ou de esperar numa longa fila para entregar o IRS na repartição de finanças – mas manda a ponderação nunca pôr de parte a hipótese de alguma vez parte ou totalidade da população ter de regressar aos «tempos analógicos».
Até porque muitos dos serviços que envolvem objetos palpáveis e a deslocação de pessoas e que são os preferidos de quem recusa a transição digital, só são possíveis porque existem tecnologias que os suportam indiretamente, algures na cadeia de produção ou distribuição.
Lino Santos recorda que a adesão às tecnologias tem sempre em mente ganhos e benefícios, mas «também leva ao aumento da exposição aos riscos». «Estamos perante uma dualidade. Temos de ter em conta que uma ocorrência no mundo físico (dos equipamentos e redes e utilizadores que suportam o mundo digital) produz efeitos no mundo digital, mas também temos de ter em conta que as ocorrências no mundo digital produzem efeito no mundo físico», acrescenta o coordenador do CNCS.
Na Autoridade Nacional das Comunicações (ANACOM), esta dualidade da resiliência é quantificada sempre que são apresentados relatórios de qualidade das redes móveis nas várias regiões do País, ou quando são divulgadas as compilações de falhas de segurança que comprometeram os serviços prestados à população.
No que toca à qualidade das redes móveis, o mais recente relatório da ANACOM distinguiu a Vodafone como o melhor serviço na maioria dos itens na terceira e quarta gerações de redes móveis (3G e 4G), mas será legítimo acreditar que o segmento de concorrência mais aguerrida da economia nacional possa vir a apresentar MEO ou Nos noutras edições.
No caso das falhas registadas em 2020, pleno ano de pandemia, os resultados podem surpreender. Num ano em que o uso das redes de telecomunicações e intensificou, as falhas de serviço registaram uma redução de 20% face a 2019, com apenas 64 incidentes reportados.
Esse é o primeiro dado que surpreende, mas não o único: só cerca de 3% dos incidentes estão relacionados com ataques maliciosos, feitos por cibercriminosos através da Internet.
A este número juntam-se os 16% de incidentes que tiveram origem em falhas relacionadas com hardware e software e que só em parte não poderão ser justificados com falhas de âmbito pura e simplesmente digital – mas produziram efeitos bem palpáveis quando deixarem famílias e empresas sem telefone, Internet ou TV. Conclusão: as falhas que afetaram o mundo digital têm origem, na sua maioria, em falhas registadas no mundo físico.
Aliás, a redução de avarias está em consonância com a preparação levada a cabo tanto por operadores como pelo Governo.
Nos decretos do estado de emergência, o Executivo aprovou medidas de contingência que permitiram que as redes de telecomunicações fossem reconfiguradas para suspender, parcialmente, a regra da neutralidade entre serviços. Ou seja, para poderem assegurar a capacidade de rede dando prioridade a serviços críticos como hospitais, escolas ou proteção civil, em detrimento de outros, como o acesso a televisão, por exemplo.
Desde o início do milénio, data em que a Internet se começou a generalizar na sociedade portuguesa, que os consumidores se queixam da velocidade da rede – mas o decreto do estado de emergência trouxe algo inédito: pela primeira vez na história nacional, uma medida permitiu um racionamento de um recurso digital. O que confirma como a conectividade já não é um complemento, mas sim um elemento essencial.
Haverá melhor prova de que a transição digital já é uma realidade? Talvez até haja. Até porque a uma transição digital segue-se sempre outra transição digital. E os compêndios de história um dia irão confirmar isso mesmo. Se no final dos anos 1990 o Livro Verde da Sociedade da Informação funcionou como referência, na década seguinte, as atenções viraram-se para as ações da UMIC – Agência para a Sociedade do Conhecimento. E quando este braço tecnológico foi desmantelado devido a uma crise orçamental seguiram-se-lhe a Agência para a Modernização Administrativa (AMA) e o programa Simplex que pretendia agilizar os processos burocráticos através de utilização do digital.
As palavras de Vanda Jesus, diretora executiva do Programa Portugal Digital, confirmam que a digitalização em curso é uma obra sempre inacabada. E a pandemia apenas reforçou esse carácter. «Começámos por apresentar um plano de ação com 12 medidas, mas tivemos de aumentar este número para 25», resume.
«As 12 medidas iniciais já deverão ser fechadas até ao final do ano. Algumas delas já deverão ser incluídas no Plano de Recuperação e Resiliência (da UE, que prevê a distribuição de apoios para o pós-pandemia)», refere a executiva.
Entre as medidas que deverão avançar nos próximos tempos estão a possibilidade de usar a biometria à chave móvel digital e até a total desmaterialização dos notários. Mas o grande objetivo é o ensino dos rudimentos das ferramentas digitais a um milhão de pessoas, com recurso a cerca de 30 mil voluntários.
Vanda Jesus recorda que este projeto tem uma vertente social de «não deixar ninguém para trás», mas não esconde que há também um propósito de melhorar a classificação do País no Índice de Digitalidade da Economia e da Sociedade (IDES).
Segundo o IDES, em 2020, Portugal não foi além do 19º lugar entre 28 estados membros da UE (na altura ainda com o Reino Unido). O índice, composto por cinco parâmetros, começa logo por colocar Portugal no 12º lugar da conectividade, suplantando largamente a média europeia no que toca às redes fixas de grande capacidade de transmissão de dados. Já nos tarifários praticados o país não vai além do 24º lugar.
Na avaliação dos Serviços Públicos disponibilizados à população, Portugal garante um 13º lugar no que toca à interação entre cidadãos e serviços públicos digitais, mas fica aquém do desejado na disponibilização de dados à população. Na integração dos serviços digitais nas empresas, posiciona-se a meio da tabela (16º), verificando-se que nas empresas, o comércio eletrónico já representa 11% do volume de negócios e partilha de informações por via digital.
Menos animadores são os dados sobre a capacidade digital da população e utilização dos serviços de Internet: Portugal não vai além de 21º lugar com destaque para o facto de apenas 58% das pessoas dominarem o nível mais elementar das competências digitais, e na utilização de serviços na Internet, o País não consegue ir além do 24º lugar, ainda com 9% da população que nunca acedeu à Web.
Vanda Jesus admite que a maior fatia do esforço de digitalização que vai ser lançado nos próximos tempos terá em vista a população em geral que, em grande parte integra «muitas pessoas que não sabem que existe a chave móvel digital», mas aponta igualmente para a necessidade de mobilizar lideranças em diferentes sectores da sociedade. “Se as lideranças não abraçarem a transição digital, então será mais difícil que algo aconteça ou que se consiga uma mudança de cultura” acrescenta a gestora do programa.
José Tribolet, professor jubilado do Instituto Superior Técnico e fundador e um dos principais rostos das tecnologias nacionais nos últimos 40 anos, define como pressuposto para a transformação que terá de ser operada nos próximos tempos, a existência de uma “reprogramação mental” – que a pandemia já tratou de acelerar, mas que eventualmente terá de ser regulada para se poder garantir uma uniformidade.
«Devido à pandemia e aos confinamentos, a população pôde descobrir que há vantagens nestas ferramentas digitais, que permitem fazer melhor determinadas coisas. Mas obviamente continua a haver faixas da sociedade que permanecem infoexcluídas», refere José Tribolet.
Vanda Jesus concorda com o efeito propulsor nas ferramentas digitais gerado pelo confinamento, mas recorda que o atual cenário é de contingência. «Atualmente, não estamos a viver em teletrabalho, mas sim a trabalhar em casa com recurso às tecnologias devido à pandemia», diz. «É bastante diferente de haver uma estratégia nacional para o teletrabalho», alerta.
A gestora do Portugal Digital aponta três estudos recentes que chegam à conclusão de que 48% a 50% dos empregadores e trabalhadores portugueses aceitariam de bom grado passar a trabalhar dois ou três dias em regime de teletrabalho. Aspirações que poderão ser acauteladas em breve, quando o Parlamento terminar os trabalhos em torno da nova legislação.
A transição digital já não será propriamente uma novidade para os sectores das telecomunicações e banca – e nos serviços prestados à população, há dois exemplos tão badalados que mais parecem clichés: o Multibanco; e os cartões pré-pagos nos telemóveis, que são usados pela generalidade dos portugueses.
O Multibanco tornou-se um fenómeno que dá aos portugueses semelhanças com a famosa aldeia de gauleses de Astérix, que resiste ainda e sempre ao invasor. As poderosas Visa e Mastercard tiveram de esperar pela expansão da banca eletrónica para se imporem no país, que os portugueses fazem há vários anos grande parte dos pagamentos gratuitamente através das caixas de automáticas, dos impostos às licenças de pesca.
Mesmo quando chegou a hora de seguir as melhores práticas da digitalização, o país lançou o MB Way, que já garantiu mais de três milhões de milhões de utilizadores. E mesmo assim, o Governo passou a impedir que se cobrem comissões a quem utiliza MB Way em transações acima dos 30 euros, incentivando assim a uma maior universalidade de uma ferramenta digital.
Os cartões de telemóveis pré-pagos, que são apresentados como um pioneirismo português à escala mundial, garantiram a conveniência – mas com o tempo passaram a contemplar também o tráfego da Internet, e nalguns casos, deixaram de contemplar limites às comunicações de voz, quando se tornou óbvio que era impossível impedir a concorrência das plataformas e apps de voz e mensagens que operam sobre a Internet.
O passado ajuda a perceber que a transição digital não é propriamente uma novidade nas telecomunicações, mas o presente e o futuro também vão a continuar a seguir o mesmo guião – a começar pela chegada das redes de quinta geração móvel (5G). «Tudo o que mexe, e também tudo o que costuma estar quieto vai ficar ligado em rede. Vamos ter um conjunto de pontos que nos permitem recolher. Vai ter um impacto enorme na agricultura, mas também vai permitir seguir os diferentes momentos em que um serviço é prestado», antevê José Tribolet.
Sem as redes 5G. as expectativas de Tribolet seriam infundadas. Combinadas com um conjunto de sensores, essas redes que aumentam a largura de banda e permitem multiplicar o número de equipamentos conectados, dão o impulso que falta para uma nova Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês). A IoT, ao extrair grandes volumes de dados, permitirá definir padrões, antever tendências e ocorrências ou até lançar novos modelos de negócio, sob a lógica dos repositórios de dados abertos, que funcionam como um novo recurso natural que está ao dispor da comunidade de cidadãos e empreendedores.
Havendo conectividade, as distâncias passam a ser relativas – e os investimentos até podem ser definidos por critérios diferentes daqueles que, geralmente, estão associados ao mundo estritamente material.
Vanda Duarte admite que a próxima vaga de medidas poderá levar tempo a produzir efeitos estruturais, mas garante que esse é o caminho a seguir, dando como exemplo alguns casos mais recentes. «Temos conhecimentos de pedidos de informação relacionados com potenciais investimentos no interior do País, que têm como condição a existência de conectividade nessas regiões. Temos de garantir que não há buracos negros na cobertura (das redes de telecomunicações)», refere a responsável.
Portugal, um dos países que chegaram a ser apresentados como referência nas redes móveis a nível mundial, ainda tem no arranque do 5G uma incógnita – e esse é um dos entraves apontados para entrada em cena do promissor cenário da IoT.
O diferendo entre operadores de telecomunicações de um lado, e ANACOM e Governo do outro, e o facto de o leilão, que foi sujeito a vários processos em tribunal, não ter um limite temporal não permitem antever a data para o arranque das novas redes. O que pode atrasar o país no que toca ao comboio da sofisticação tecnológica, mas também ter impactos financeiros: de acordo com o Boston Consulting Group, o 5G vai movimentar 2,3 mil milhões de euros em Portugal até 2027.
A pressão sobre a cobertura e a conectividade tenderá a aumentar nos próximos tempos, admite Tribolet, antecipando novas tendências desencadeadas pela própria pandemia. “Vai haver uma grande deslocalização de centros de abastecimento, para se evitar os casos de dependência e escassez que se verificaram durante a pandemia”, refere.
O fundador do INESC antevê uma transformação da logística devido às tecnologias que permitem saber na hora o estado em que se encontra um serviço – e atuar para emendar ou reclamar algo mal que corre no momento, com ganhos de transparência e eficiência. Mas os cenários de escassez acentuada que podem transformar a cadeia de abastecimento também se verificaram, durante a pandemia, em recursos que são essenciais para uma digitalização bem-sucedida.
Com quase todo o mundo em teletrabalho, dispararam as encomendas de computadores, servidores e gadgets – e os preços dos componentes subiram na mesma medida, duplicando ou triplicando de valor em semanas, confirmam os representantes dos principais fabricantes nacionais e estrangeiros de informática.
A este facto que eleva a barreira de entrada no mundo digital, junta-se a escassez de componentes de disponíveis no mercado e de profissionais habilitados a trabalhar em tecnologias e ciências – e que são determinantes para que serviços mais sofisticados possam surgir.
Perante a falta de mão de obra, a reconversão profissional pode ser o caminho a seguir. Mas, nada garante que esse esforço não será em vão, caso os novos técnicos sigam o exemplo de muitos recém-licenciados ou mestrados aliciados para deixar o país, motivados pelos salários elevados que hoje dominam as funções ligadas à informática.
Vanda Jesus admite que o desafio está dependente da «dimensão do mercado de trabalho» que será necessário garantir para que os diferentes objetivos da transição digital sejam alcançados.
A escassez de profissionais não impediu o país de garantir uma nova dimensão com a compra de dois satélites pela empresa GeoSat que, possivelmente, serão usados na futura Constelação Atlântica que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) tem vindo a promover como desígnio nacional e irá permitir a recolha de dados do Espaço – e eventualmente reduzir custos na monitorização do território e de patrulhamento da zona marítima.
No MCTES, há quem garanta que pode ser uma ferramenta poderosa para a transição digital, que garante um reforço de soberania tecnológica do país. E por isso, o ministro da Ciência Manuel Heitor tem salientado que, além da compra recente, o Portugal tem tudo a ganhar se aprender a fabricar satélites. «É algo verdadeiramente importante para a estratégia nacional», referiu.
A informação vai proliferar – e o poder de decidir ou fazer negócios será disseminado por quem a conseguir trabalhar. «Vamos assistir a uma emergência da Inteligência Artificial combinada com as ciências (de tratamento) de dados que vão abrir grandes oportunidades e também… grandes perigos», prevê Tribolet.
Dos diagnósticos médicos aos chatbots que comunicam com consumidores, sem deixar de passar pelos supercomputadores que fizeram as simulações que tornaram possível o desenvolvimento das primeiras vacinas para a Covid-19 ou as ferramentas que já ajudam gestores a tomarem decisões do dia-a-dia – em todos estes cenários já começaram a ser usadas ferramentas de Inteligência Artificial. Os ganhos são notórios em termos de eficiências, mas têm implícitas a perda de empregos e a reconversão profissional que caracteriza todas as revoluções tecnológicas.
E tudo leva a crer numa evolução em crescendo a ponto de acelerar para um panorama que Tribolet descreve como a futura «sociedade biónica» – que vive de realidades híbridas que, bem exploradas, vão abrir caminho aos novos líderes tecnológicos e económicos. O fundador do INESC garante que é chegada a hora de criar um plano diretor e uma sede de debate e definição de estratégicas para as tecnologias. e dá como exemplo a não repetir o “caos das autarquias” que, segundo diz, gastaram milhões de euros ao longo dos últimos anos com soluções que nem sempre conseguem trocar informação ou instruções entre elas.
Uma coisa é certa: sem informação, não há transição digital. E se as fontes de informação se multiplicam, então os dados também vão acabar por proliferar – e, apesar de imateriais, ocupar mais espaço, exigindo computadores que os armazenem.
Se no início, isso se fazia com a compra de mais servidores e bases de dados, agora os investimentos tendem a incidir sobre o aluguer da capacidade de processamento e armazenamento de dados a empresas especializadas na gestão de grandes repositórios que prestam serviços a diferentes empresas ou cidadãos geograficamente dispersos e que, no limite, até poderão estar noutro continente. É o reino do Cloud Computing a impor-se.
De súbito, os dados tornaram-se o novo petróleo: «Hoje temos quatro ou cinco empresas que dominam os serviços para onde toda a gente está a migrar os dados. Não vejo que haja um risco segurança nacional (por as empresas serem estrangeiras), mas há uma dependência em termos de custos. Se a Microsoft ou a Amazon aumentarem 10% dos custos de armazenamento e isso imediatamente representará milhões de euros ao Estado», refere António Miguel Ferreira, pioneiro da Internet em Portugal e diretor da Claranet para os mercados de ibéricos e América Latina.
Com a exceção dos mercados chinês e russo, todo este novo «petróleo digital» de dados tem sido controlado pelas grandes tecnológicas americanas. Apple, Facebook, Amazon, Google, Microsoft e, num plano do fornecimento de hardware e de software empresarial, Oracle, IBM, HP ou Dell, são marcas que já têm lugares reservados na história desta nova vaga digital que tem no Cloud Computing e no tratamento de dados o principal atrativo – e estão agora apostadas em obter dividendos e eventualmente limitar a entrada de marcas de outras paragens.
Como no petróleo convencional, este “petróleo digital” também já originou conflitos diplomáticos. A China, depois de um período de notório protecionismo que limitou ou impediu a entrada de marcas americanas, decidiu partir à conquista do mundo à boleia de marcas tecnológicas. Em Washington, a resposta não se fez esperar: era notório que as marcas chinesas, em especial a Huawei, estavam à frente das marcas americanas no 5G. Resultado: a Huawei, e também a ZTE ou a TikTok foram alvo de uma interdição comercial nos EUA e muitos dos países aliados dos EUA acabaram sob pressão diplomática.
Mas não é só com a China que os EUA têm diferendos em torno das tecnologias que são essenciais para transição digital. Na UE, são várias as multas milionárias aplicadas aos gigantes tecnológicos e já houve dois acordos que permitiam a partilha de dados expedita para os EUA e que acabaram invalidados pela Justiça. Em causa está a inexistência de garantias de respeito pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) e também as suspeitas de que, ao abrigo da atual legislação americana, as grandes tecnológicas acabarem por cooperar com os serviços de espionagem americanos.
Para a maioria dos leigos, pode parecer que o braço de ferro entre Washington e Pequim não grande relação com o dia-a-dia, mas a verdade é que boa parte das tecnologias que vamos usar no futuro dependem deste embate de gigantes. Um exemplo: o Censos 2021, lançado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), estava a um passo de se tornar num caso exemplar de transição digital, mas acabou por ver-se envolvido numa polémica de grandes proporções devido ao facto de uma empresa fornecedora de tecnologias de segurança eletrónica ser americana e haver o risco – ainda que hipotético – de os dados descritivos da vida da população portuguesa acabarem nas mãos de autoridades e entidades americanas. O que contraria o que foi ditado pela justiça da UE.
Também a globalização passou a assumir contornos digitais: «As regras do jogo têm sido decididas lá fora. A UE tem tentado por várias vezes criar clouds europeias, mas tem falhado redondamente. Os próprios governos europeus acabam por ter menos poder que as grandes tecnológicas americanas», conclui António Miguel Ferreira.
O acordo ortográfico utilizado neste artigo foi definido pelo autor

![Retrato do comunicador Hugo van der Ding e do jurista Marco Ribeiro Henriques, lado a lado, sobre um fundo cinzento, com o logo "[IN]Pertienente".](/sites/default/files/styles/teaser_small/public/2025-12/INP2026_SOCIEDADE_1_SITE_1280x720_destaque.png.webp?itok=hLUDFHhb)