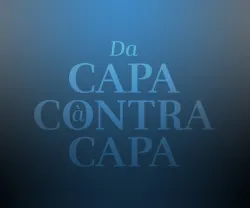Francisco José Viegas: o livro de Rentes de Carvalho «é perigoso»
«O resultado é perigoso: é um retrato no fio da navalha, pessoalíssimo, revoltado, conformado com as circunstâncias e com as personagens, inconformado com o destino e com os resultados.»
No século XVIII, Trás-os-Montes era um pouco como a Patagónia: ficava para lá das montanhas, isolado de tudo e entregue ao seu destino. Columbano Pinto Ribeiro de Castro (Porto, 1749-1804), que foi juiz de fora de Mogadouro, Pena Róias e Torre de Moncorvo, bem como provedor desta última comarca, prepara o «Mappa do Estado Actual da Província de Trás-os-Montes». Estávamos em 1796. O desenho que faz destes lugares, desde a geografia à economia, da cultura ao património, da demografia ao desenvolvimento, da administração pública à justiça, mas sobretudo o seu recenseamento das profissões — continua hoje atual. Quando caminhamos sob a penumbra da Matriz de Moncorvo ou nos pequenos declives do castelo de Mogadouro (ou, sobretudo, quando observamos um dos mais belos castelos de Trás-os-Montes, o de Algoso), ou quando vamos, em pleno Verão, atravessando as aldeias solitárias onde se espera a vindima ou a apanha da amêndoa, o ruído do Verão é o mesmo. Com certeza que exagero, porque na minha infância havia o ruído dos comboios e o da moto Pachancho do dono da mercearia do Pocinho, o sr. Alberto. Mas ainda é possível, naquelas aldeias das encostas perdidas da Serra do Roboredo, por exemplo, que é o começo do Nordeste Transmontano, ficar siderado com aquele silêncio.
Quem diz silêncio diz deserto. Toda a gente se queixa do deserto. O deserto em que se transformou o Nordeste Transmontano, o deserto que invade e devora as aldeias abandonadas, o deserto que se instala no planalto de Miranda, o deserto que se estende depois de Vimioso, o deserto que rodeia a mais bela das igrejas de Trás-os-Montes (que é a desconhecida basílica de Santo Cristo do Outeiro), o deserto que enfrenta a fronteira, o deserto que caminha no meio do rio.
Periodicamente, no meio do deserto ouvem-se vozes. A de José Rentes de Carvalho é distinta e percebe-se em tudo o que escreve. Não fala daquele Trás-os-Montes que, até à década de oitenta, era conhecido por ser — preparem-se — «o reino maravilhoso». O «reino maravilhoso» era um território arrancado a uma espécie de paraíso bíblico de onde se tinham cuidadosamente retirado as referências à miséria, à pobreza, à degradação, à falta de sentido. O reino de José Rentes de Carvalho era e é outro.
Em meados da década de noventa conheci Rentes de Carvalho em Amesterdão e ele nunca acreditou, como aconteceu com muitas outras pessoas ao longo da minha vida, que eu fosse capaz de cumprir uma promessa: a de publicar os seus livros em Portugal, pelo menos publicá-los com juízo. Cerca de quinze anos depois, pude começar a cumprir essa promessa com um livro intitulado Com os Holandeses. Começou a aventura com esse livro porque era necessário apresentar aos portugueses um português que vivia com os holandeses, que os holandeses estimavam, protegiam, defendiam, que a sua rainha e primeiro-ministro citavam, que os holandeses consideravam como seu — e que nós ignorávamos porque nos incomodava que um cavalheiro nascido em 1930, portanto cumprindo-se agora 87 anos, fosse afinal um dos nossos grandes retratistas. E era um acepipe, uma entradinha, um — como se diz agora — um amouse bouche. Porque se ele era capaz de dizer dos holandeses o que diz no seu livro, também dos portugueses ele passaria os seus tiques e horrores a pente fino. E isso veio, livro a livro, página a página, em Ernestina, A Amante Holandesa, La Coca, Montedor, Os Lindos Braços da Júlia da Farmácia, Mentiras e Diamantes, O Meças, os livros de memórias e crónicas como Pó, Cinza e Recordações, ou A Sétima Onda, que sai para as livrarias esta semana, para não mencionar dois livros que vão contra a corrente do optimismo nacional e da concordância de todas as declinações europeia, como Portugal, a Flor e a Foice ou A Ira de Deus Sobre a Europa.
Todos os que aqui estão sabem o que se passou. José Rentes de Carvalho conquistou, ele e só ele, e um punhado de leitores obsessivos, apaixonados, delirantes – alguns deles estão aqui hoje –, um público que não era apenas das pessoas que hoje têm 87 gloriosos anos. O que faria, então, com que leitores que nunca tinham conhecido Trás-os-Montes, que nunca tinham lido uma prosa assim, que nunca tinham ouvido falar daquela espécie de holandês de Estevais, Mogadouro, rezingão e clássico, tenham ficado suspensos e admiradores de José Rentes de Carvalho? Em primeiro lugar, J. Rentes de Carvalho era um homem livre. Os compromissos com escolas, grupos, partidos, opiniões dominantes ou dominadas, sacerdotes e arcebispos da literatura ou da política — ele não os tinha. Ser um homem livre é uma coisa difícil entre nós. É tema para outra conversa, mas é um segredo bem guardado.
Em segundo lugar, o Trás-os-Montes de Rentes de Carvalho não era o «reino maravilhoso» de antanho, não era o prior, o medo do inferno, a adoração religiosa da paisagem, o pequeno contentamento dos homens humildes que eram sempre bons, a saudade do paraíso: era uma mistura iconoclasta e contra-a-corrente de personagens, sim, mas tão malvados como o Meças, tão graves como Ernestina, e ainda uma galeria de gente heróica, lúbrica, ladina, pateta, pacóvia, malandra, espertinha, orgulhosa, humilde, amável, cheia de defeitos perigosos e de virtudes escondidas, isolados do mundo, regressados do mundo, ricos remediados e pobres sem lugar a não ser no cemitério. Ninguém se salva nos seus livros; ninguém é totalmente absolvido. Numa literatura boazinha e cheia de personagens boazinhas (para que o nosso optimismo fique sempre a salvo), Rentes de Carvalho é o narrador que desenha a malvadez e a honra perdida dos últimos transmontanos. Aqui não há reino maravilhoso.
Em terceiro lugar, a língua. Nós perdemos, em trinta anos, graças a uma escolaridade esdrúxula e palerma, cerca de 20% do nosso léxico. Hoje, quando um escritor olha à sua volta no meio destes vales, vê uma coisa do século XVIII, chamada árvores. Não vê amendoeiras, oliveiras, freixos, negrilhos, castanheiros, faias, choupos, sobreiros, zimbros, amoreiras, pinheiros, carvalhos. Rentes de Carvalho vê as diferenças, as subtilezas, as sombras (que distingue das penumbras), a escuridão e a madrugada, a malvadez e a beleza que já não é intacta nem puríssima. Essa língua é um bem inestimável e sem vergonha.
Daí que o convite que a Fundação Francisco Manuel dos Santos, através do António Araújo (uma alma quase tão malvada quanto as personagens de Rentes, um homem fantástico), para que escrevesse um livro sobre Trás-os-Montes fosse também um desafio terrível. O livro deveria ser um guia mas sem ser um guia, uma reflexão sem ser uma meditação, uma descrição sem ser uma obra de engenharia, uma reportagem sem ser uma viagem deslumbrada – deveria ser o que José Rentes de Carvalho quisesse. Esse era um perigo danado. António não o sabia; mas Rentes sim. E o resultado é perigoso: é um retrato no fio da navalha, pessoalíssimo, revoltado, conformado com as circunstâncias e com as personagens, inconformado com o destino e com os resultados. É o que começa por dizer:
«Teria sido mais fácil refilar contra Portugal inteiro, do que ver-me a braços com a própria carne, a minha gente, as dores que escondemos, o mal e o bem que traz esta maneira transmontana, tão nossa, toda de repentes, dilacerados desde o berço entre o carinho e a fúria, a ânsia de partir e a praga de ficar, a liberdade e a prisão.»
Não se trata de Columbano Pinto Ribeiro de Castro, que vai fazer um recenseamento de terra em terra, meticuloso e pedagógico. Ele chama-se José Rentes de Carvalho e diz: «São a minha gente.» É a minha terra, é um território
«limitado aos concelhos de Mogadouro, Moncorvo, Freixo-de-Espada-à-Cinta e Alfândega da Fé, tendo por fronteiras meridionais a margem direita do Douro e, na outra, essa espécie de farol mítico que, para tantos de nós, é a estação do Pocinho.»
[Já sabem que isto é importante porque menciona o Pocinho e o Pocinho é o centro do mundo.]
Rentes de Carvalho começa por fazer uma espécie de arqueologia desse Nordeste dos anos em que havia Linha do Sabor, barcas no Douro, candeeiro de petróleo, o fachoqueiro de palha, o lampião e a candeia de azeite, e em que as mulheres – para poupar um fósforo! – iam acender a candeia a uma pinha da lareira de quem tinha lume aceso.
Eu nasci perto daqui. Conheço aquela legião de pobres, que na altura não se designavam por «pessoas menos favorecidas», mas por pobres, porque a pobreza era uma lei do destino e porque mesmo os transmontanos a quem sucedia terem uma vida junto do poder, lá em Lisboa, se juntavam aos que pensavam que
«Trás-os-Montes é longe, Trás-os-Montes é pobre, é atrasado. E escondido nesse Trás-os-Montes geral, o Nordeste Transmontano de certeza lhes parece longínquo e desagradável como a Patagónia.»
Este é o relato de José Rentes de Carvalho quando fala do
«muito que presenciei, as tragédias a que assisti, os sofrimentos para que haveria remédio se fossem menos bárbaras as condições de vida, ou se entre os que possuíam muito e a maioria que muito pouco ou nada tinha, houvesse um grão de solidariedade.
Não havia. Mesmo da esmola esperavam os ricos o dobro ou mais em retorno, fosse ele em trabalho, prestimosa subserviência ou prontidão no obedecer.»
Não quero maçar-vos com as descrições e enumerações das dificuldades de viver ou pelas surpresas que observamos nas ruas de Trás-os-Montes. Hoje, a geografia humana mudou bastante em relação a esse mundo e a esse tempo em que nasceram as pessoas que hoje têm entre cinquenta e oitenta anos. Rentes de Carvalho segue e prossegue essa descrição muito melhor do que eu poderia alguma vez fazer, detectando pormenores, relembrando detalhes, reconstruindo o «tipo transmontano». A descrição desse «tipo» chega pela voz de um médico holandês que verifica o estado de saúde do autor quando ele entra na Universidade de Amesterdão para dar aulas:
«Que é estrangeiro não preciso de adivinhar, chega o nome e o sotaque, mas estou quase certo que nasceu numa região montanhosa, de pouca vegetação, a uma altitude entre os setecentos e os mil metros, com ar muito puro, clima seco.»
Rentes comenta então que
«As grandes mudanças das últimas décadas, a melhoria das condições de vida, dos aspectos da saúde, da higiene e da alimentação, tendem a criar uma certa uniformidade na aparência dos indivíduos, o que me leva a supor que, desaparecida a minha geração e a seguinte, os que agora têm à volta de sessenta anos, terá desaparecido também o transmontano antigo de que somos o espécimen físico: entroncado, espadaúdo, raro alcançando o metro e setenta.»
A que corresponderão outras características, como
«teimosia, coragem, franqueza, fingimento, generosidade, bravura no bom e no mau sentido e, também no bom e no mau sentido, capacidade de perder totalmente a cabeça.»
Deixo estas especulações antropológicas para o leitor – a minha função é a de «apresentar duas ou três linhas gerais» que detêm a atenção de Rentes de Carvalho, e que não hão-de parecer bem aos que ainda acreditam na teoria do «reino maravilhoso». Rentes fala da sexualidade (e da clandestinidade dos homossexuais, que vivem, cito, «numa existência tragicamente ambígua»), dos monumentos, da paisagem, da gastronomia (é um clássico e um furioso inimigo dos regimes de dieta), da literatura local, dos personagens vivos e mortos que amou e que recorda.
Em matéria de paisagem e «património» é desconcertante: alerta o leitor desde o princípio, para que não se iluda nem se desiluda – «há pouco que ver». Mas percebe-se que o castelo de Algoso é, por ele, monumento nacional. Que o Carrascalinho ou Penedo Durão são monumentos paisagísticos de primeira grandeza. E que a estrada de Foz Côa para o Pocinho é um ponto nevrálgico (eu confirmo).
Mas o alerta é ainda mais forte quando Rentes de Carvalho deixa o aviso: estes juízos, estas escolhas são parciais. E, além de parciais, estão marcadas pelo saudosismo. E são a escolha de um homem, escreve ele, que se encontra «num limbo onde, por muito que faça e por mais que queira, nunca se conseguirá libertar» — estar entre cá (Portugal) e lá (Holanda), entre Trás-os-Montes e Amesterdão. O que faz dele, contra a sua própria opinião, um dos mais cosmopolitas de nós – entre Estevais e Amesterdão. Entre o calvinismo e o politicamente correcto holandês e a gente tão cheia de «ingenuidade infantil como de cegueira fatal».
Comecei por falar-vos do deserto. O deserto é onde se encontra o silêncio mais devastador, mesmo que seja interrompido pelo ronronar de um tractor no meio dos campos. Deus vive no meio do deserto. O mundo teme o deserto, porque não tem nada a dizer sobre ele: é isto. O deserto às vezes ameaça o Nordeste Transmontano, apesar dos esforços dos nossos autarcas, de alguns empresários, de tanta gente que resiste a sair.
Eu não acho que Trás-os-Montes seja longe demais. Acho que está no seu lugar. José Rentes de Carvalho, neste livro, estabelece a natureza desse lugar. Não vai agradar a gregos nem a troianos, que é o mal de grande parte das pessoas inteligentes e dos bons observadores. É um homem irónico, subtil, cheio de poder de observação, de rigor e de pena. Rentes tem pena que o Nordeste seja ainda assim. Nós todos, às vezes, amamos um lugar mas gostávamos, também, que ele fosse de outra maneira. Como Rentes, fica-nos um gosto amargo, um misto de melancolia e de rasto de oportunidade perdidas.
Mas não deixamos de homenagear a terra que nos conservou vivos. E que conservou os nossos mortos. Logo no início do livro, há uma frase que me marcou toda a leitura daí em diante:
«A mim há ocasiões em que um impulso me leva ao cemitério.»
Quando visitei Estevais pela primeira vez, Rentes de Carvalho pegou em mim e levou-me ao cemitério. Era uma tarde de primavera e eu tinha vindo acertar com ele a publicação dos seus livros. E eu fiz quase toda a estrada de Estevais até Lisboa a tentar compreender aquilo que era simples: que se tratava de uma homenagem e de um sinal. Somos aquilo que sobra de nós. Nós, os vivos, e eles, os mortos. Não é uma mensagem triste. Pelo contrario, é um resumo muito feliz da nossa vida como transmontanos, como durienses, como gente deste terra.