
Teresa de Sousa escreve sobre "Os futuros da Europa"
A única coisa que se pode dizer com razoável certeza sobre o futuro da Europa é que aquela que está a emergir desta crise será muito diferente da que conhecíamos antes. Não sabemos, no entanto, o que será. Tem vários futuros possíveis à sua frente. Será aquilo que os seus Estados-membros quiserem. As divisões ainda são profundas. Dois países, a Alemanha e a França, vão continuar a ser fundamentais para um desígnio comum. E não vale a pena dizer que o caminho vai ser fácil.
Ainda não temos resposta para a eterna questão alemã, que a crise, e a forma como Berlim a geriu, voltou a colocar em cima da mesa: uma Alemanha europeia ou uma Europa alemã? São dois cenários extremos mas que ajudam a balizar o debate. E há também uma nova realidade, que já conhecemos, que resulta dos danos causados por uma crise que durou quase 10 anos, que foi mais violenta do que qualquer outra que a União Europeia viveu e que, pela primeira vez na sua história, colocou em cima da mesa o cenário da sua desagregação. Este cenário ainda não está totalmente afastado, mas é hoje muito mais remoto do que foi nos anos do pico da crise, quando a indefinição de Berlim obrigou o BCE a interferir de forma radical. As palavras de Mario Drahgi no Verão de 2012 ficaram registadas na história desta crise: “O Banco Central Europeu fará tudo, mas mesmo tudo, o que for necessário para salvar o euro”. Repetiu o “mesmo tudo”. Os mercados ouviram-no. As medidas do BCE para aliviar a pressão dos juros da dívida e para injectar dinheiro nas economias comprando activos, foi determinante para conter os efeitos mais perversos da crise da dívida, contrariando o efeito devastador da austeridade em alguns países. Continua a faltar, no entanto, a resposta política sobre o que será a União daqui a 10 ou 20 anos. Essa é a responsabilidade dos governos e das instituições europeias, do Parlamento à Comissão.
Mas há um cenário menos assustador do que a dissolução, que também pode conter os seus riscos. A União Europeia pode ir morrendo lentamente, quase sem se dar por isso, se, mais cedo do que tarde, não for possível construir um novo entendimento sobre um caminho que interesse a todos e que seja capaz de mobilizar de novo os europeus, levando-os a compreender que a integração europeia é ainda a melhor das opções para garantir o seu futuro. Em paz, como viveu desde a II Guerra, capaz de influenciar o destino do mundo ou, pelo menos, de defender os seus interesses e os seus valores numa realidade mundial que, também ela, é muito diferente da que existia antes desta crise e que os interpela com muito maior exigência. Também aqui, há perguntas cujas respostas não estão apenas nas mãos da Europa.
Está o Ocidente condenado a um rápido declínio? Está a Europa condenada a perder influência? Está a relação transatlântica, que garantiu a sua segurança desde a II Guerra, ameaçada pela evolução dos EUA e da sua relação com o mundo? Donald Trump é um episódio temporário ou apenas a versão mais radical e grosseira de uma mudança de fundo da política externa americana? Onde cabe o modelo europeu, assente na regra e no multilateralismo, num mundo em crescente desordem, onde as relações de força entre novas e velhas grandes potências ganham cada vez mais importância? Por isso, a próxima questão é relevante. Poderá uma Europa que começou a seis e que hoje funciona a 28 – e amanhã a 27 – manter a sua coesão política? Sobreviverá à saída de um dos seus países mais relevantes, que é a segunda economia europeia (alterna com a França esse lugar), que detém uma capacidade militar efectiva, que tem assento permanente no Conselho de Segurança e, com a França, dispõe de capacidade nuclear autónoma? Não vale a pena menosprezar a saída do Reino Unido. É um golpe em algumas dimensões da integração europeia, justamente naquelas que estão hoje a subir na lista de prioridades e das quais a segurança e defesa é a mais relevante.
Em traços largos, apenas para saber onde estamos, poderemos dizer que a União Europeia viveu três grandes fases desde a sua fundação, em 1958. Começou por ser a resposta mais imediata à necessidade de pôr fim às condições que levaram a Europa a mergulhar em duas “guerras civis”, mortíferas e destruidoras, obrigando por duas vezes os Estados Unidos a vir salvá-la de si própria. A ideia inicial era simples. Se as grandes potências europeias (nomeadamente, a França e a Alemanha Ocidental) pusessem em comum aquilo que alimenta as guerras, seria mais difícil desencadeá-las. Foi a Europa do Carvão e do Aço. Houve uma outra tentativa, mais ambiciosa, mas que não resultou: criar uma Comunidade Europeia de Defesa. A ideia foi francesa. Foi a França que a “matou” à nascença, quando o Parlamento francês votou contra ela. Com menos ambição, a Europa regressou à integração económica, sem apagar o seu objectivo político: deslegitimar o nacionalismo, com a sua ideologia do ódio ao outro.
A União Soviética, com a ocupação da metade Leste da Europa na sequência da II Guerra, acabou por ser o maior factor de união entre os governos e os povos europeus. Manteve a presença dos EUA na Europa. Garantiu a sobrevivência da Alemanha Ocidental, por onde passava a linha da frente do confronto bipolar entre as duas superpotências. A Europa teve as suas crises, que não foram poucas, mas nada pôs em causa a sua ideia fundadora. Nem o general De Gaulle, com a sua visão de uma Europa das Pátrias, do Atlântico aos Urales, e a sua política da “cadeira vazia”, impedindo qualquer decisão dos restantes membros. Depois do alargamento de 1973 ao Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, a Comunidade abriu os braços aos países do Sul que derrubaram as suas ditaduras e iniciaram a rota para a “verdadeira Europa”: Portugal, Grécia e Espanha. A entrada de países menos desenvolvidos num clube de ricos conduziu directamente aos “pacotes financeiros” (“Pacotes Delors”, graças à iniciativa do então presidente da Comissão), destinados a ajudar a convergência desses países com a média de riqueza europeia.
No dia de Natal de 1991, Gorbatchov anuncia o fim oficial da União Soviética. Tinha sido precedida pela queda do Muro de Berlim e pela rápida unificação alemã no quadro da União Europeia e da NATO – aquilo que durante muito tempo se considerou impensável.
Colocavam-se à Europa duas questões absolutamente fundamentais. Era preciso garantir que a Alemanha reunificada, de novo no centro da Europa, se manteria fiel à integração europeia, afastando velhos sonhos de grandeza. Era preciso adaptar as instituições europeias à adesão inevitável dos países do Leste e do Centro da Europa, que reivindicavam o seu direito a “regressar à Europa”, depois de terem ficado do lado errado da História. A resposta foi, em parte, encontrada em Maastricht. União Económica e Monetária foi, em primeiro lugar, uma decisão política, mesmo que fizesse sentido no quadro de um mercado único. A Alemanha oferecia o seu poderoso marco no altar da integração europeia. Os critérios ficaram definidos no Tratado de Maastricht (fechado em Dezembro de 1991). Em 1999, onze países da União, incluindo Portugal, adoptavam a mesma moeda.
Faltava a segunda parte: a unificação do continente. A perspectiva de adesão acelerou os processos de transição para a democracia e para uma economia de mercado dos países candidatos. O desafio era conseguir integrá-los sem correr o risco de paralisia na tomada de decisões. Era outra Europa em perspectiva, maior, mais diversa política e economicamente, separada por 40 anos em que os seus caminhos não podiam ter sido mais diferentes. De um lado, a liberdade e o desenvolvimento. Do outro, a repressão e a pobreza.
A reforma institucional não foi fácil. Mas o mundo, nesse início do novo milénio, parecia caminhar ainda para o “fim da História”, com a expansão da democracia e dos mercados. Nunca, apesar das divergências, o projecto europeu pareceu ameaçado de morte. Sobreviveu ao 11 de Setembro e às guerras de Bush. Conseguiu aprovar um novo Tratado de Lisboa, em 2007, depois de ter fracassado a tentativa de dar à União um tratado constitucional, que foi rejeitado em França e na Holanda, por dois referendos consecutivos. Ironia das ironias, a única parte do Tratado de Lisboa que se manteve praticamente igual a Maastricht é a que define as regras do euro.
Um ano depois, a crise que atingiu o coração do sistema financeiro mundial, transformou-se numa bola de fogo, atingindo a Europa e o mundo inteiro. A ameaça real de uma nova Grande Depressão (como a que resultou da crise financeira de 1929) levou os governos a injectar rios de dinheiro na economia e a nacionalizar os grandes bancos, antes que implodissem.
Obama aprovou um pacote de cerca de 700 mil milhões de dólares. A China enfrentou a crise com cerca de 600 milhões. A Europa deixou aos governos a tarefa de salvarem a banca e a economia, tentando estancar uma crise que seria devastadora. Os défices dispararam, arrastando a dívida para valores cada vez mais altos, enquanto a economia caía a pique, com crescimento negativo na maioria dos países europeus. A crise que vivemos nos últimos 10 anos instalou-se quando os mercados financeiros deixaram de ver a zona euro como uma só e atacaram as economias mais vulneráveis com taxas de juro cada vez mais incomportáveis para o seu financiamento.
Foi há 10 anos, que nos parecem 100, de tal modo alteraram a realidade europeia. A Grécia, no início de 2010, informou os seus parceiros de que estava à beira da bancarrota, criando uma onda de choque para a qual a Europa não estava preparada. As regras de Maastricht incluíam uma chamada “cláusula de no-bailout”, exigida pela Alemanha (Helmut Kohl era o chanceler), para dar uma satisfação aos alemães que, desde o presidente do Bundesbank até à maioria da opinião pública, não queriam abdicar do seu amado marco. Foi apenas quando se convenceu de que podia não conseguir evitar um contágio devastador, que Angela Merkel, em Maio de 2010, aceitou um pacote financeiro destinado a salvar os gregos da bancarrota, financiado pelos Estados-membros e pelo FMI.
O resto da história, já a conhecemos e já a vivemos. Não evitou o contágio. Em Novembro de 2010, caía a Irlanda, devido a um sistema financeiro hiperdesenvolvido, que financiava um sector imobiliário em crescimento descontrolado. Em Junho do ano seguinte, seria a vez de Portugal. Cada empréstimo trazia consigo um “programa de ajustamento” sem contemplações, que impunha uma austeridade cega e um conjunto de reformas obrigatórias (e necessárias, se não fossem feitas a mata-cavalos e sem ter em conta as características específicas de cada país). Para além de uma lógica económica discutível, tinham uma forte componente punitiva. Como seria inevitável, abriu-se uma profunda divisão entre os países ricos e “trabalhadores” do Norte e os países mais pobres e “preguiçosos” do Sul. O preconceito instalou-se. Ainda não desapareceu, apesar da época de bonança económica que a Europa vive neste momento. Hoje, Portugal preside ao Eurogrupo e recupera a sua influência em Bruxelas.
A crise teve outra consequência política importante: acentuou o poder da Alemanha, que passou a ditar as regras do jogo. “Nada se faz contra ela, ainda que se possa fazer sem ela”, resume António Vitorino, ex-comissário europeu e ex-ministro da Presidência e da Defesa socialista. O método da chanceler foi gerir a crise “fazendo o menos possível e o mais tarde possível”.
Berlim decidiu que não iria desperdiçar a oportunidade para reformar a zona euro à sua imagem e semelhança. Esta estratégia teve um custo. Convenceu a opinião pública alemã de que o dinheiro dos seus impostos estava a alimentar a “indisciplina” do Sul. A outra metade desta história foi sendo progressivamente esquecida. A Alemanha foi um dos maiores, se não o maior beneficiário da união monetária. Basta pensar que, se mantivesse o marco, a sua moeda seria hoje muito mais forte do que o euro, ou seja, muito mais desfavorável à sua máquina exportadora. Da mesma maneira, o mercado único e a ausência de risco cambial é uma benesse para a sua economia.
A crise do euro foi vivida de forma diferente em cada país da União. A Grande Recessão atingiu toda a gente, impondo uma austeridade generalizada. Mas rapidamente os países mais desenvolvidos deixaram de a sentir com a mesma dureza que atingiu os do Sul. Para esses países, incluindo a Alemanha, as novas regras de funcionamento da UEM, ainda mais estritas, já estão aprovadas e têm de ser cumpridas. O problema é que não chegam as regras. São precisos mecanismos mais fortes e mais coesos para que a próxima crise não seja a repetição daquela que a Europa acaba de sofrer.
Emmanuel Macron, Presidente francês, é o líder deste combate. A sua filosofia é simples: maior partilha do risco e da soberania. Quando a França ou Portugal, para dar apenas dois exemplos, insistem na necessidade de um orçamento próprio da zona euro para acudir a situações de crise e para financiar reformas estruturais que garantam a convergência económica real, estão a valorizar aquele que é, porventura, o mais forte instrumento da sustentabilidade da moeda única: a convergência real das respectivas economias.
Outro instrumento essencial, que não está resolvido, é a conclusão da União Bancária. Dos seus três pilares, apenas dois estão em funcionamento: a supervisão comum (a cargo do BCE) e o mecanismo de resolução dos bancos. Falta o terceiro, que é a garantia comum dos depósitos. A Alemanha recusa-se a aceitá-lo, pelo menos no curto prazo, alegando com as imparidades que ainda afectam muitos bancos na Europa. É uma referência directa a Itália. O Eurogrupo tem já uma proposta para satisfazer os alemães, que passa pela entrada em vigor faseada no tempo. Não são questões menores, antes são fundamentais para que a União Económica e Monetária sirva o conjunto dos seus países. Citando de novo Vitorino, a zona euro só sobreviverá se provar que não está dividida entre eternos perdedores e eternos ganhadores.
A esperança de um entendimento a meio do caminho entre Paris e Berlim sobre esta reforma crucial já foi maior. A eleição de Emmanuel Macron funcionou como uma lufada de ar fresco que a Alemanha saudou com entusiasmo. Era o Presidente que Berlim idealizava para reformar a França. Mas não apenas por causa do euro. Com os movimentos populistas e nacionalistas a ganharem terreno em quase toda a parte, a sua vitória contra a Frente Nacional nas eleições de Maio do ano passado foi um enorme alívio. Por uma razão particular. Macron, ao contrário do que tendem a fazer alguns líderes de centro-direita ou de centro-esquerda, não cedeu um milímetro ao discurso populista e nacionalista. Defendeu com entusiasmo a Europa como a única solução possível para manter a prosperidade e a liberdade dos europeus, no quadro da globalização. A resposta alemã parecia promissora. A imprensa, inclusivamente a mais conservadora, escreveu em vários tons que Berlim tinha de fazer um esforço para ir ao encontro de Paris, não desperdiçando uma oportunidade única de reforçar a União.
Hoje, as perspectivas são bastante menos optimistas. A chanceler venceu as eleições pela quarta vez, só que num quadro político diferente. Os dois partidos do centro europeu, o SPD e a CDU, tiveram resultados historicamente baixos. Merkel saiu mais enfraquecida do longo período de tempo (seis meses) que levou a negociação de uma nova “grande coligação”. Incluindo no seu próprio partido, onde está a nascer uma nova geração politicamente mais à direita e menos disposta a fazer “sacrifícios” a bem da Europa. Ela e o Presidente francês comprometeram-se a apresentar uma proposta conjunta para a reforma do euro no Conselho Europeu de Junho.
A entrada de um partido de extrema-direita no Bundestag é uma complicação adicional, num país em que a extrema-direita tem um significado especial. A “Alternativa para a Alemanha” é o principal partido da oposição (13% dos votos), que conta ainda com mais três forças políticas distintas: o De Linke (comunistas e socialistas radicais), os Verdes e o FDP, hoje mais à direita e mais eurocéptico do que foi durante a sua história. Ficam as perguntas. Qual é a margem de manobra de Merkel? Até onde o Presidente francês estará disposto a ceder?
No âmago desta crise europeia está a crise das suas democracias, com a ascensão de partidos populistas e nacionalistas que põem abertamente em causa a União Europeia. A doença ataca em quase toda a parte, com raras excepções (como Portugal), enfraquecendo os partidos do centro que construíram a Europa. São fortemente contra a globalização e, em geral, profundamente xenófobos. A imigração e os refugidos transformaram-se, em muitos desses países, na “motivação número um” do voto, deixando para trás a economia. A Alemanha vive uma vaga de prosperidade económica, tem um desemprego residual, mas nada disso impediu a extrema-direita de crescer.
Os países de Leste, que durante 40 anos não abriram as portas a ninguém, rejeitam abri-las agora aos refugiados. Na Hungria, na Polónia, mas também na República Checa ou na Eslováquia, o autoritarismo está em alta, incluindo nos governos, apesar de incompatível com os princípios fundadores da União Europeia. Como podem os partidos que sustentam as democracias europeias e a própria Europa fazer face a esta nova realidade? Há duas aparentes soluções: incluindo-os ou isolando-os.
Na Dinamarca, Finlândia, Áustria ou na Holanda, já estão ou estiveram representados nos governos ou nas coligações que os apoiam. Na Suécia, pelo contrário, houve um compromisso entre todos os partidos de centro-esquerda e de centro-direita para isolar um partido populista com crescente sucesso eleitoral, que garante a aprovação das leis fundamentais do governo social-democrata. Na Alemanha mantém-se o isolamento da “Alternativa” no Bundestag. Há casos ainda mais graves, como o italiano, onde os partidos anti-sistema venceram as eleições, contra a direita de Berlusconi e a esquerda de Matteo Renzi. Quem vai governar a Itália? Como pode a Europa sobreviver às fraquezas das suas democracias?
Não é exagero dizer que os próximos doze meses serão cruciais. O Brexit será uma realidade. Ainda não sabemos qual poderá ser o compromisso entre Paris e Berlim em torno da reforma do euro. As eleições para o Parlamento Europeu (Março de 2019) serão um teste às forças democráticas e pró-europeias. Com elas, virá também a escolha do próximo presidente da Comissão, que foi, ela própria, uma das vítimas da crise. Entretanto, o mundo continua a girar a grande velocidade, colocando a Europa perante novos desafios, que vão do terrorismo à segurança, passando pelo proteccionismo. A cedência aos populismos e ao nacionalismo seria fatal. É preciso conquistar de novo o apoio dos cidadãos europeus à integração europeia, olhando para os seus reais problemas de forma a combater o medo que os atira para os braços dos extremos. Antes que seja tarde.
O mundo que existia antes da crise, já praticamente não existe. Este é, talvez, o maior desafio estratégico que a Europa tem pela frente. O seu modelo de integração foi, no final do século passado, o exemplo que toda a gente queria seguir. A sua capacidade de regime change era enorme e não precisava de disparar um único tiro. Os países europeus queriam entrar o mais depressa possível, iniciando transições democráticas profundas para cumprir os critérios exigidos. A União era um referente de estabilidade regional.
Nos EUA, Obama reconciliava os EUA com o mundo. A China ainda estava na sua fase de peaceful rising, apenas concentrada na economia. A Rússia já começara a desviar-se do caminho de aproximação ao Ocidente, com a chegada de Putin ao poder supremo. Hoje, em Pequim, o tempo passou a ser o de ganhar influência mundial e de agir not so peacefully na região da Ásia-Pacífico. Putin iniciou uma estratégia revisionista da ordem internacional. O seu objectivo é recuperar o seu domínio (ou influência) na vasta zona cinzenta que separa a União Europeia do seu território. Incluindo pela via militar. A agressão à Ucrânia e a anexação da Crimeia foram um grito de alarme, que Merkel não deixou passar.
Hoje, a Rússia é vista como uma ameaça à segurança europeia. A guerra na Síria já provocou centenas de milhares de mortos e milhões de deslocados e de refugiados. O terrorismo tornou-se uma ameaça com a qual temos de conviver. A Europa já entendeu que não pode contar da mesma maneira com os Estados Unidos, obrigando-a a um esforço maior para garantir a sua própria defesa. Avança aos ziguezagues, mesmo que na boa direcção. Precisa de encontrar um destino comum que lhe garanta um lugar na primeira fila da ordem internacional. Também aqui há divergências entre Paris e Berlim.
Mas há uma coisa em comum entre Portugal e a Alemanha. Para nós, o fim da União Europeia seria uma tragédia. É a pertença à Europa que contraria a nossa geografia periférica e a nossa relativa fragilidade económica. Precisamos de estar no centro político, como sempre o entenderam o PS e o PSD. Não há alternativa. Para a grande Alemanha, a União é tão ou mais fundamental. Sem ela, o dilema que a persegue viria de novo ao de cima: tão grande para a Europa, tão pequena para o mundo.
O acordo ortográfico utilizado neste artigo foi definido pelo autor


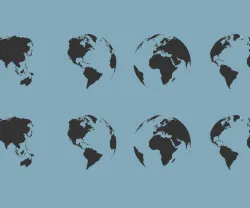
![A humorista Luana do Bem ao lado do politólogo Pedro Magalhães, sobre um fundo cinzento, com os logotipos "Fundação Francisco Manuel dos Santos" e "[IN]Pertinente" ao centro.](/sites/default/files/styles/teaser_small/public/2026-01/INP2026_POLITICA_1_SITE_1280x720_DESTAQUE.png.webp?itok=eh6XTxRK)