
A China está a perder poder?
A ascensão da China está por um fio? A pergunta parece uma provocação, porque há vários anos que não passa um dia sem que se fale de como a economia chinesa está a fazer sombra à americana, ou de como o poder de Pequim tem vindo a ocupar os vazios criados pelas ausências de Washington. Há até uma percepção generalizada – exagerada ou não – de que, quase inevitavelmente, a China irá tomar o lugar dos EUA em vários palcos num futuro não tão longínquo assim, tornando-se na principal potência mundial.
Mas, recentemente, vários analistas têm apontado para um abrandamento, e até para o fim, deste ciclo. Na Foreign Affairs de Outubro, o artigo de Michael Beckley e Hal Brands tinha mesmo como título um categórico «The End of China’s Rise», ou seja, «o fim da ascensão chinesa», provocado por duas tendências: a desaceleração económica e o isolamento estratégico.
Também Michael Schuman, autor do livro Superpower Interrupted: The Chinese History of the World , escreveu na revista Atlantic que «Washington está a perceber mal a China» e que a crise da gigante do imobiliário Evergrande, que estamos actualmente a testemunhar (já lá iremos), «revela a profunda, perigosa e frequentemente ignorada fraqueza da economia chinesa, que pode comprometer o seu progresso e, com ele, as aspirações de Pequim em desafiar a primazia americana no palco mundial».
Em Outubro, James Kynge, editor do Financial Times, afirmava igualmente que «é evidente que o modelo económico chinês, que fez a China crescer nas últimas duas décadas, está a descarrilar. O que se segue é incerto, mas pode assinalar um crescimento muito menor da segunda economia mundial».
A desaceleração tem sido, aliás, uma das explicações para a deriva autoritária assumida pelo Presidente Xi Jinping: se o bem-estar económico da população fica comprometido, arrastando com ele a própria legitimidade do regime, há que tomar medidas para controlar e calar o descontentamento que inevitavelmente vai gerar.
Mas vamos por partes.
A China foi construindo o seu poder económico à conta de uma vantagem demográfica (chegou a ter dez adultos em idade activa por cada reformado), mão-de-obra barata e poucas regras de protecção ambiental.
O PIB aumentou 40 vezes desde 1978, o país dispõe das maiores reservas financeiras e do maior excedente comercial do mundo, ao mesmo tempo que «tem vindo a gozar de um ambiente geopolítico seguro e da amizade norte-americana», resumem Beckley e Brands.
Agora, o cenário que tem pela frente é o reverso dessa medalha: os recursos estão esgotados. A China tornou-se o maior importador mundial de alimentos e tem também de comprar, ao exterior, energia e matérias primas para sustentar a sua expansão. O controlo de natalidade (aligeirado este ano) gerou um novo problema: nos próximos cinco anos, terá menos 35 milhões de trabalhadores e mais 40 milhões de pensionistas.
Isto, a acrescentar à pesada factura ambiental. O país é o principal emissor de gases com efeito de estufa. No entanto, Xi Jinping, que não deixa a China desde o início da pandemia, não esteve presente na última cimeira do clima da ONU, a COP26, onde o objectivo era adoptar políticas para deter o aquecimento global. Anunciou, ainda antes do encontro, que a China atingirá o pico das suas emissões em 2030 e que até 2060 as vai reduzir a praticamente zero, graças às energias solar e eólica.
«O crescimento está a tornar-se muito caro: a China tem de investir três vezes mais capital para gerar crescimento do que tinha nos primeiros anos deste século», escreve a Foreign Affairs.
No último trimestre, a economia chinesa atingiu o nível de crescimento mais baixo do ano. Se até Junho o crescimento tinha sido de 7,9 por cento em relação ao período homólogo em 2020, entre Julho e Setembro foi de 4,9 por cento (os números são do Instituto Nacional de Estatística chinês). Não foi só a pandemia e as restrições de mobilidade que impôs. O custo da energia obrigou a racionamentos no país e chegou até a parar várias fábricas.
Como resultado, em Setembro, os preços no produtor tiveram aumentos de 10,7 por cento: uma subida recorde desde 1996, quando se começaram a fazer registos. Os consumidores mal deram por isso: os preços finais subiram apenas 0,7 por cento naquele mês (contra 5,4 por cento nos EUA, por exemplo). A inflação até caiu 2,7 por cento, porque a procura também tem vindo a diminuir. Mas o aumento dos custos de matérias-primas e da energia dificilmente continuará a não ser reflectido nos bolsos dos consumidores. E uma diminuição grande do consumo significa um arrefecimento ainda maior da economia.
Se alguns economistas prevêem que as quebras energéticas e de produção podem ficar resolvidas no final deste ano, o mesmo já não se passará com outro problema que a China agora enfrenta: o possível colapso do sector imobiliário, que representa 29 por cento do seu Produto Interno Bruto.
O correspondente do Financial Times em Pequim, Sun Yu, comentava recentemente que a China assentou o seu crescimento no mercado imobiliário durante demasiado tempo e de forma desmesurada. O país tem agora o maior número de apartamentos desocupados do mundo. E tem nas mãos uma bomba-relógio chamada Evergrande. O grupo do sector da construção acumulou a dívida estratosférica de 260 mil milhões de euros e fez pairar receios de um contágio a todo o sector.
O Presidente Xi Jinping veio dizer que «o imobiliário é para habitação, não para especulação», e o Governo deu directivas para que se restrinja o endividamento, limitando o financiamento bancário às construtoras. Mas deixar cair a Evergrande terá um efeito dominó que vai atingir mais de um milhão de chineses que estão à espera que as casas que compraram lhes sejam entregues, despedir milhares de trabalhadores e deixar sem pagamento empresas da construção subcontratadas pelo grupo.
É neste cenário que Xi Jinping entra no último ano do seu segundo mandato – aquele que seria o da despedida, caso não tivesse acabado com a limitação de mandatos, tornando-se líder vitalício.
Xi, que assumiu o controlo do Partido Comunista Chinês (PCC) em 2012 e a presidência do país no ano seguinte, conduziu viragens políticas que estão já a ter efeitos práticos. O «socialismo com características chinesas», com um regime de partido único a integrar elementos de economia de mercado, está a conhecer um regresso ao marxismo-leninismo. Em Fevereiro, num discurso para assinalar o 100º aniversário do Partido, o Presidente declarou: «Só o socialismo pode salvar a China, e só o socialismo com características chinesas pode desenvolver a China». Antes, já tinha escrito que «a base da economia política chinesa só pode ser a economia política marxista e não pode estar assente noutras teorias económicas».
Xi definiu uma estratégia de incentivo à redistribuição da riqueza e de levar a prosperidade a todos os chineses, através de um maior controlo sobre o sector privado (que inclui as restrições ao endividamento que sustentou o boom chinês). Na tal celebração de aniversário anunciou resultados: a eliminação da pobreza extrema nas zonas rurais do país, um acontecimento que, disse, «entra para a história».
É para a história que olha Carlos Gaspar, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI-UNL), quando traça o tipo de liderança do Presidente chinês. «Xi Jinping não tem a legitimidade revolucionária de Mao Tsetung ou Deng Xiaoping», afirma numa conversa telefónica, referindo-se aos fundadores da República Popular da China. «A nova geração não tem esse lado heróico».
Quanto às previsões de que a ascensão chinesa possa ter chegado ao fim, «ainda é cedo para tirar essa conclusão, quando há uma relação de competição entre as principais potências. É no quadro dessa relação que podemos dizer que a ascensão da China terminou ou não. E não é nada evidente.»
Os Estados Unidos também não atravessam um bom momento e isso fragiliza o seu papel de potência global, dando mais espaço de manobra ao regime chinês. A política externa norte-americana continua «marcada por uma linha defensiva que já dura desde 2008, que se iniciou sobretudo com o Presidente Barack Obama e a retirada do Iraque», adianta Carlos Gaspar. Há também problemas de política interna, «com uma polarização muito séria… A democracia americana está em crise», como mostrou, em Janeiro, o assalto ao Congresso, «que não se pode pôr debaixo do tapete».
Em todo o caso, a China também tem as suas divisões, com uma ala a defender uma linha mais nacionalista e mais empenhada numa estratégia ofensiva: é disso sinal o recente aumento da pressão sobre Taiwan, as tensões na linha de demarcação fronteiriça com a Índia, e também a repressão em relação a Hong Kong, ao Tibete e aos uighurs em Xinjiang – «embora aqui não haja divisões entre os nacionalistas mais radicais e os menos radicais», adianta Carlos Gaspar.
Entre todas, a questão de Taiwan é neste momento a mais «crucial». O Governo chinês reclama a ilha onde os nacionalistas se estabeleceram na sequência da derrota na guerra civil, em 1949, como parte integrante do seu território. Mas «Xi Jinping não é Mao Tsetung, nem Deng Xiaoping, que no seu tempo tiveram capacidade e legitimidade para adiar a questão da reunificação», salienta. «Puderam fazer isto porque eram dirigentes revolucionários, eram os fundadores da RPC».
Já Xi Jinping, pelo contrário, «é um primus inter pares. Alguém que a oligarquia que está no poder escolheu para ser o principal dirigente numa determinada conjuntura», adianta o investigador. E sendo assim, tem de gerir o equilíbrio entre os que querem retomar Taiwan mesmo que pela força, num prazo pré-definido, e os que querem evitar uma escalada que envolverá os EUA, que têm forças militares na ilha e a apoiam com material bélico. «Há uma pressão constante sobre Xi Jinping para marcar uma data [para a tomada de Taiwan]. Qual é o limite? Esse limite está no centro das relações entre Pequim e Washington. E um ataque será mais provável se for entre duas potências em declínio».
Em caso de confronto pela tomada de Taiwan, «os Estados Unidos podem sair derrotados», afirmou recentemente à Reuters o almirante na reforma Gary Roughead, que em 2011 comandava as forças navais americanas. «Estamos realmente num momento de viragem histórico».
Ainda antes da liderança de Xi Jinping, Pequim começou a investir fortemente nas suas forças militares, com os orçamentos da Defesa a crescerem ano após ano, até se tornar actualmente no segundo país do mundo que mais dinheiro canaliza para as forças armadas. Modernizou o Exército de Libertação Popular, desenvolveu projectos de mísseis balísticos e tem a maior Marinha do mundo, que demonstra o seu poder com exuberância nas águas disputadas por vários dos seus vizinhos, no Mar do Sul da China – uma zona por onde passa quase 40 por cento do seu comércio, com gás natural, petróleo e recursos piscatórios, e onde Pequim tem construido ilhas artificiais para afirmar a sua presença.
Também no comércio, a perspectiva já não é tanto de cooperação, mas de auto-suficiência. O Governo traçou o plano «Made in China 2025» para que a «fábrica do mundo» se converta num gigante tecnológico, modernizando a sua indústria e direccionando-a para áreas como a aviação, a robótica ou veículos eléctricos. Isso levaria a China a não depender tanto das importações de tecnologia estrangeira, e a tornar-se em vez disso num fornecedor global.
Mas para além de mercados para onde escoar os seus produtos, a China quer também assegurar acesso às matérias-primas. É nesta conjuntura que é criada a «Iniciativa da Rota e da Cintura» (BRI na sigla inglesa), lançada um ano depois de Xi assumir o poder.
Trata-se de uma reminiscência da histórica Rota da Seda, que a partir do ano 130 a.C. ligou a Ásia à Europa. Agora, a BRI materializa-se numa rede infra-estruturas portuárias, ferroviárias e tecnológicas, que vai passar por vários países asiáticos e África, até chegar ao continente europeu, por via terrestre e marítima.
Todos os aliados contam para a estratégia de Pequim. Vários países da Europa Central e de Leste aceitaram financiamento da BRI. Outros, assinaram acordos de cooperação, como foi o caso de Portugal. A tentativa de controlo do terminal de contentores do porto de Sines – o porto europeu mais próximo do canal do Panamá – fazia parte da estratégia.
A China quer ter portas de entrada para a União Europeia e as apostas em Portugal servem esse propósito. E do lado do Governo português, a sofrer fortemente os efeitos da crise de 2008, quando esse investimento chegou, há uma década, foi visto como um balão de oxigénio.
Segundo um relatório da Câmara de Comércio e Indústria Luso Chinesa, o investimento directo chinês passou de 12,45 milhões de euros em 2012 para 144,06 milhões em 2013. No ano seguinte, chegou aos 871,28 milhões de euros, e desde então não parou de crescer. Portugal tornou-se o país europeu com mais investimento chinês per capita. O Governo chegou a ver-se obrigado a desmentir o “mito” de que era o amigo especial da China na Europa.
O tiro de partida foi dado no sector da energia, vital para o regime chinês, quando em 2011 a China Three Gorges adquiriu 21 por cento da EDP por 2,69 mil milhões de euros. No ano seguinte, a chinesa State Grid comprou 25 por cento da REN, a gestora da rede eléctrica nacional (custou 387 milhões de euros). Em 2013, o grupo Fosun adquiriu 85 por cento da Fidelidade por 1004 milhões de euros, e um ano depois, através daquela seguradora, ficou com 96 por cento da Espírito Santo Saúde (actual Luz Saúde), por 460 milhões de euros.
A banca é outro dos objectivos estratégicos. Em 2016, a Fosun pagou 175 milhões por 16,7 por cento do BCP e desde então foi reforçando a sua posição e tornou-se já o maior accionista, com o controlo de 30 por cento das acções: um banco dentro da zona euro passa a ser controlado por Pequim.
No mesmo sentido, o Haitong Bank adquiriu o banco de investimento português BESI, que passou a chamar-se Haitong Bank, tal como o Banif – Banco de Investimento se tornou Bison Bank quando foi comprado pela Bison Capital Financial Holdings (Hong Kong) Limited.
Na aviação, o conglomerado chinês HNA detém uma participação na Atlantic Gateway, consórcio que controla 45 por cento da TAP. Também encontramos investimento da KNJ, de Macau, no Global Media Group (GMG), que detém o Diário de Notícias, Jornal de Notícias, TSF e Dinheiro Vivo, entre outros. No sector da construção, outra das áreas estratégicas para a China, 30 por cento da Mota Engil está agora em mãos chinesas.
Em sentido oposto, os números só poderiam ser compostos por muito menos zeros: o investimento português na China aumentou desde 2008 e atingiu o pico em 2016, com 53,08 milhões de euros, mas desde então tem vindo a decair, com apenas um ligeiro aumento em 2020.
Em Agosto, numa conversa telefónica, Xi Jinping afirmou ao Presidente português que a China pretende “reforçar sinergias” entre as estratégias de desenvolvimento de ambos os países, e que Pequim quer “promover a cooperação” em áreas como a energia, finanças e construção de infraestruturas. Adiantou que Portugal poderá também ter um papel na Iniciativa Parceria para o Desenvolvimento de África. A China é já um dos maiores investidores naquele continente e Portugal pode ser também uma ponte com os países de língua portuguesa.
A presidência portuguesa relatava no seu site que, nesse mesmo telefonema, Marcelo Rebelo de Sousa abordou a questão de Macau. Em Março deste ano, jornalistas da TDM, rádio e televisão pública do território, foram informados de que deixavam de poder divulgar factos ou opiniões contrárias às veiculadas pelo Governo Central de Macau e que deveria ser respeitada uma linha editorial «patriótica».
Para além das várias demissões que se seguiram, a imposição levou o ministro português dos Negócios Estrangeiros a dizer que «espera e conta» que a China cumpra a Lei Básica de Macau, «em todas as suas determinações», referindo-se à mini-constituição que foi adoptada depois da transferência da administração de Macau para a China, em 1999, e que deve vigorar durante 50 anos. «Essa Lei Básica é muito clara na garantia da liberdade de imprensa», afirmou Augusto Santos Silva.
Na vizinha Hong Kong, a situação tornou-se ainda mais grave, com manifestações na rua a serem violentamente reprimidas pelas autoridades. Para a Human Rights Watch, a Lei da Segurança Nacional imposta por Pequim foi mais uma forma de apagar os direitos civis e políticos e «uma tentativa de moldar as instituições e a sociedade de Hong Kong, transformando uma cidade livre numa repressão dominada pelo Partido Comunista Chinês». Políticos pró-democracia são detidos por «subversão», activistas são também presos e os funcionários públicos forçados a jurar lealdade a Pequim.
São muitas as tentativas chinesas de dominar a narrativa sobre o regime dentro e fora da China. Inclui a expulsão de jornalistas ocidentais, como aconteceu no ano passado, quando repórteres do New York Times, Wall Street Journal e Washington Post foram obrigados a sair do país (a maior expulsão desde o massacre de Tiananmen, em 1989); ou o financiamento de instituições de ensino no Ocidente, onde os investigadores correm o risco de ficar sem verbas caso publiquem estudos críticos de Pequim.
Relatórios de organizações de defesa dos direitos humanos apontam para violações graves contra uigures, cazaques e outras minorias étnicas muçulmanas na Região Autónoma de Xinjiang. Mais de um milhão terão sido enviados para «campos de reeducação» e centenas de milhares foram condenados a penas de prisão. Há relatos de abusos sexuais sistemáticos e esterilizações forçadas. A Human Rights Watch e a Amnistia Internacional (AI) falam em «crimes contra a humanidade» cometidos naquela região. O governo americano usou já a palavra genocídio.
Em Outubro, 43 membros da ONU, liderados por uma delegação francesa, condenaram fortemente o Governo chinês pelas violações aos direitos dessas minorias, e pediram ao Alto Comissariado para os Direitos Humanos um relatório urgente sobre a situação em Xinjiang. Pequim tem negado acesso ao território.
Os receios de um poder excessivo da China trazem outro tipo de pragmatismo. Recentemente, foi o próprio presidente da Federação das Indústrias Alemãs (BDI), Siegfried Russwurm, quem afirmou: «Os direitos humanos não são apenas uma questão interna dos Estados» e as empresas têm a «obrigação de definir linhas vermelhas nos seus compromissos internacionais», sem esperar que os governos dos seus países o façam, citava o Politico. O site mencionava um documento do BDI intitulado «Coexistência Responsável com Autocracias», onde se salientava a importância de as empresas ocidentais «liderarem pelo exemplo» nas questões dos direitos humanos e protecção ambiental.
Há duas décadas, comentava-se que o caminho em direcção a uma economia de mercado iria trazer mais democracia à China. Mas a governação de Xi Jinping não tem dado sinais disso. Torna-se difícil fechar os olhos aos abusos cometidos pelo regime chinês. E o tom usado por vários países ocidentais começa a ser cada vez mais abertamente crítico.
O isolamento da China não é motivo para deixar ninguém descansado. Voltamos ao artigo da Foreign Affairs que remata: «O que acontece quando um país que quer reordenar o mundo conclui que poderá não conseguir fazê-lo de forma pacífica? Tanto a História como o comportamento actual da China sugerem a resposta: nada de bom».
O acordo ortográfico utilizado neste artigo foi definido pelo autor


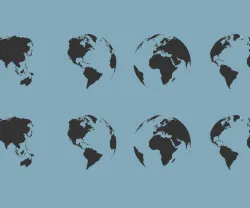
![A humorista Luana do Bem ao lado do politólogo Pedro Magalhães, sobre um fundo cinzento, com os logotipos "Fundação Francisco Manuel dos Santos" e "[IN]Pertinente" ao centro.](/sites/default/files/styles/teaser_small/public/2026-01/INP2026_POLITICA_1_SITE_1280x720_DESTAQUE.png.webp?itok=eh6XTxRK)