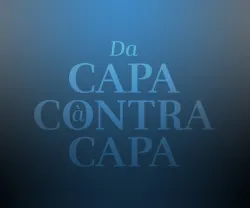«É preciso acabar com a injustiça contra as mulheres enquanto mulheres»
Desde a Revolução Francesa que nos habituámos a colocar em conjunto os termos igualdade e liberdade – deixemos por agora o termo fraternidade. A defesa dos dois conceitos tornou-se hegemónica no debate político e ideológico, havendo quem os coloque um contra o outro ou um ao lado do outro – com a mesma importância ou não.
Há quem considere que a imposição da igualdade é uma violência contra a diferença real entre os seres humanos e que atenta contra a liberdade. Por outro lado, há quem afirme que não há liberdade sem igualdade ou que esta é condição daquela. Há quem valorize mais a liberdade, colocando-a como condição da igualdade, e há quem considere esta mais importante do que aquela. No meio de todos estes conceitos tem ainda lugar o da diferença, em nome da qual – real – se colocam alguns defensores da liberdade para recusarem a igualdade.
O enquadramento normativo e constitucional contra discriminações é fruto de uma História longa de emancipação dos seres humanos. Por isso vou aqui abordar a História do século XX, para mostrar como a recusa da igualdade entre homens e mulheres faz parte da sociedade portuguesa, e por vezes em nome da diferença. Esse século foi atravessado, em Portugal, por quatro regimes políticos diferentes - o final da monarquia, a I República, o Estado Novo e a democracia -, e a situação das mulheres em Portugal mudou radicalmente.
No princípio do século XX, a situação da mulher no seio da família era regulada pelo Código Civil de 1867 – Código de «Seabra» –, que impunha o homem como «chefe da família», ao qual a mulher casada devia obediência e não podia, sem o consentimento dele, administrar, adquirir, alienar bens, publicar escritos e apresentar-se em juízo. O regime republicano atenuou algumas dessas normas que subjugavam as mulheres casadas aos maridos e aboliu certas diferenciações jurídicas consoante o sexo. As leis do Divórcio e da Família de 1910 estabeleceram a igualdade entre os cônjuges quanto às causas da separação e na sociedade conjugal. O que, porém, nunca foi conseguido durante a I República foi o sufrágio feminino e, a partir de 1913, só os «chefes de família do sexo masculino» podiam eleger e ser eleitos.
Curiosamente, seria o Estado Novo salazarista a possibilitar o sufrágio e a elegibilidade para a Assembleia Nacional e para a Câmara Corporativa às mulheres solteiras com rendimento próprio, assim como às casadas e às chefes de família com diploma do ensino secundário ou que pagassem determinada contribuição predial. Foi assim curiosamente o Estado Novo o primeiro regime português a conceder em Portugal o direito de voto e de elegibilidade às mulheres, embora sob certas condições. Mas, como disse Cândida Parreira, uma das primeiras deputadas “eleitas”, o voto feminino não tinha sido conquistado pelas mulheres mas decretado pelo Chefe, Salazar.
“Um lugar para cada um e cada um no seu lugar”, norma tão do agrado de António Carneiro Pacheco, ministro da Educação Nacional de Salazar a partir de 1936, era a que sintetizava o pensamento sobre as diferenças várias entre as pessoas do chefe e dos mentores do Estado Novo, nascido em 1933. Indicava elitismo, uma vontade de manter compartimentações sociais estanques – sem mobilidade profissional, social e política – e revelava uma noção determinista e “naturalista” segundo a qual cada um nasceria com a missão de desempenhar determinada função. A norma aplicava-se às mulheres, às quais o Estado Novo atribuiu um lugar e um papel específicos – diferentes consoante a classe a que pertencia – no seio da família e da sociedade
Em 1932, em resposta a uma pergunta de António Ferro sobre qual seria o papel destinado às mulheres no novo governo e regime chefiado por ele, o recém-empossado Presidente do Conselho de Ministros, António Oliveira Salazar, afirmou que “a mulher casada, como o homem casado, é uma coluna da família, base indispensável de uma obra de reconstrução moral”. Esclareceu que tinham, porém, funções diferentes que advinham da diferença de sexo, pois devia-se deixar “o homem a lutar com a vida no exterior, na rua... E a mulher a defendê-la, no interior da casa”. Acrescentou que “a sua função de mãe, de educadora dos seus filhos, não era inferior à do homem”.
Para Salazar, os homens e as mulheres não eram encarados como indivíduos mas como membros da família, o núcleo primário “natural” e “orgânico” do Estado Novo corporativo. As mulheres, que constituíam o “esteio” dessa família tradicional, tinham sido atiradas pelo regime liberal para o mercado de trabalho onde entravam em concorrência com os homens e por isso, deveriam regressar ao “lar”. Para defender a separação de esferas de actuação entre homens e mulheres, Salazar aparentemente valorizou o papel de mãe e de esposa, atribuindo-lhe “utilidade social”, parecendo dar um valor igual e mesmo “superior” às tarefas distintas desempenhadas no seio da família pelas mulheres.
No entanto, as apregoadas “igualdade” ou “superioridade” femininas derivavam, segundo o salazarismo, de uma pretensa função “natural” – portanto, biológica e imutável –, ou seja, da missão que a pertença ao seu sexo atribuía às mulheres. Por outro lado, a ideologia salazarista não se pautava pelos conceitos de igualdade e de liberdade, por isso foi integrado na Constituição de 1933 o princípio da “diferença sem a igualdade” em vez do princípio da igualdade na diferença. Em nome desta, reservou às mulheres uma esfera própria de actuação – privada e pública – mas subalternizou o espaço feminino em função do sexo. Mascarou, porém, a diferenciação de valores em função do género com uma aparente valorização social da função feminina.
Apesar desta, as mulheres foram discriminadas através de leis que as colocavam sob a autoridade masculina, lhes proibiam inúmeras profissões e lhes atribuíram, sem alternativas, espaços específicos de actuação dos quais não podiam sair. Desde logo, a Constituição de 1933, que negava “o privilégio do sexo”, incluía uma cláusula que consagrava as excepções ao princípio de igualdade constitucional: “salvo, quanto às mulheres, as diferenças da sua natureza e do bem da família”. Ou seja, em nome de um factor biológico – a “natureza” – e de um factor ideológico – o “bem da família”, as mulheres seriam discriminadas. As reais diferenças entre cada um dos géneros serviram assim de fundamento à negação da equivalência de valores e à desigualdade de direitos entre homens e mulheres.
A situação da mulher na família, submetida à supremacia da autoridade marital, foi esclarecedora da forma como a teoria da complementaridade e da atribuição de esferas separadas de actuação consoante o sexo não implicava uma valorização igual das tarefas diferentes. A recusa do trabalho feminino fora do «lar» e as proibições do exercício de certas profissões, sob a capa de protecção à mulher – futura mãe –, também foram reveladoras de que se procurava, numa situação de desemprego, reservar primeiro aos homens um lugar no mercado de trabalho.
O Estado Novo proibiu, por exemplo, o trabalho das mulheres na administração local, na carreira diplomática, na magistratura judicial e em postos de trabalho no Ministério das Obras Públicas, até 1962. Por outro lado, impôs restrições de vária ordem a certas profissionais: as professoras primárias tinham de pedir autorização ao Ministério da Educação para se casarem, enquanto outras profissionais eram impedidas de contrair matrimónio. A realidade andou, no entanto, longe da teoria, particularmente da que se relacionou com o desejo estatal, através de leis corporativas, de reenviar a mulher para o lar. Na indústria, onde a presença feminina foi sempre maioritária nos têxteis, no tabaco e no vestuário, bem como nos sectores de trabalho intensivo, precário e não especializado, a percentagem da população feminina aumentou de forma imparável, a partir da década de 50. A década de 60 foi aquela em que aumentou o acesso das mulheres ao trabalho, em muitos casos, para substituir a mão-de-obra masculina, que se ausentou para o estrangeiro e para a guerra colonial.
No ensino, como no mercado de trabalho, também se assistiu a uma tensão desencontrada entre, por um lado, o desejo estatal de uma educação mínima para as raparigas e, por outro lado, o desejo privado que elas e as suas famílias tiveram de se inserir cada vez mais nos vários graus de ensino. Ao pretender manter as mulheres em tarefas específicas femininas, o Estado Novo reafirmou a separação dos sexos nos estabelecimentos de ensino e teve até a veleidade de estabelecer uma educação especificamente feminina, mas sem sucesso, pois a sociedade contrariou os planos de limitação da educação e da profissionalização das mulheres. Mas o ensino feminizou-se de forma imparável, bem como a escolaridade, a assiduidade e, sobretudo, o sucesso escolar femininos em todos os graus de ensino aumentaram ao longo dos anos.
Durante o período marcelista, permaneceram as desigualdades nas eleições locais e as mulheres tinham de saber ler e escrever, o que não era exigido aos homens. Em 1969, a mulher casada passou a poder atravessar as fronteiras sem licença do marido e foi adoptada, embora sem ser aplicada, a norma “para trabalho igual, salário igual”. Em 1971, o artigo 5ª da Constituição portuguesa que mantinha a expressão “salvas, quanto à mulher, as diferenças resultantes da sua natureza e do bem da família” foi alterado, caindo a expressão “bem da família”. Mas, apenas, com o 25 de Abril de 1974 se iniciou um período em que na vida dos portugueses e das portuguesas muito mudou, através de leis igualitárias, reconhecendo também a diferença, que nem sempre foram aplicadas.
O direito de voto tornou-se universal, as mulheres acederam a cargos da administração local, à carreira diplomática e magistratura judicial. Em 1976, entrou em vigor a nova Constituição que estabeleceu a igualdade entre homens e mulheres em todos os domínios e, em 1978, desapareceu, no novo Código Civil, a figura de “chefe de família”. Muito foi conseguido desde o início do século XX, mas as mulheres ainda têm de continuar a lutar para acabar com a injustiça contra as mulheres enquanto mulheres, para que as leis sejam aplicadas, para não perderem o que já conquistaram, pela igualdade plena, no reconhecimento da diferença, pela paridade e pela liberdade.
O acordo ortográfico utilizado neste artigo foi definido pelo autor.